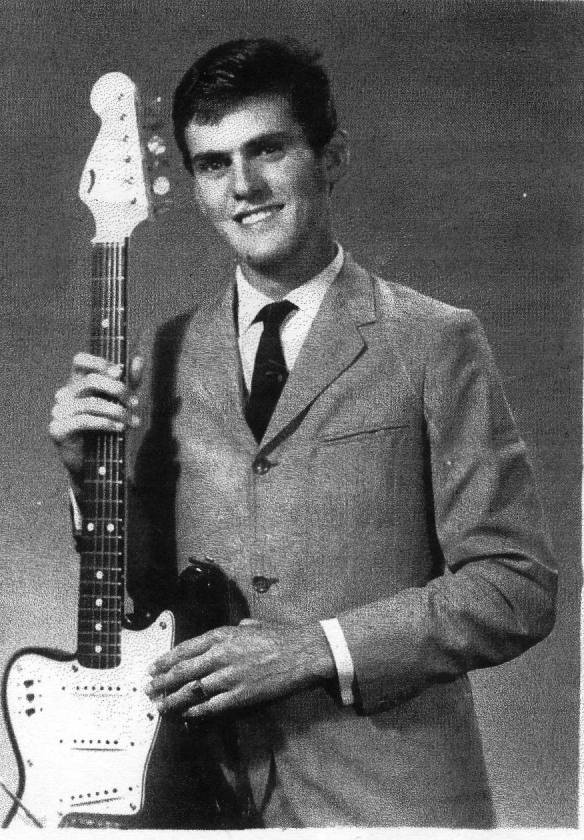A música “Quero que vá tudo pro inferno”, assim como todo o disco “Jovem Guarda” , de Roberto Carlos, foi gravado pela banda The Youngsters.
Na contra capa do LP tem 04 fotos do conjunto The Youngsters com Roberto Carlos no estúdio da CBS.
O conjunto “The Youngsters” também gravou todo o disco “É Proibido Fumar” e “Roberto Carlos Canta para a Juventude”, e todos os arranjos eram feitos pela banda de Luiz Carlos Siqueira, que quatro anos antes da Jovem Guarda se chamada “The Angels”.
The Youngsters – Dejala Dejala (1963) The Angels
Luiz Carlos diz que compor e cantar, todos faziam naquela época, mas a grande novidade era a maneira de tocar e tirar o som dos novos instrumentos, das guitarras, baixos, teclados, e foi este som dos novos instrumentos que fez a cabeça de todos, e continua fazendo até hoje.
Eles gravaram também com Wanderléa seu principal sucesso, “Ternura”, e mais seis músicas do mesmo disco chamado “É Tempo de Amor”, que são:
Um Quilo de Doce
Um Beijinho Só
Três Rapazes
Ternura
É pena
Vivendo sem ninguém
Boneca de Cera
Boneca de Pano
(Informações de Luiz Carlos Siqueira, THE ANGELS/THE YOUNGSTERS)
Depoimento de Luiz Carlos Siqueira sobre as gravações:
 Luiz Carlos Siqueira escreveu: LAFAIETE FOI O TECLADISTA DA MAIORIA DAS MÚSICAS DAQUELE PERÍODO E NÃO ESTÁ NA FOTO DA CONTRA CAPA DO ‘JOVEM GUARDA’, APESAR DE TER TOCADO ALGUMAS FAIXAS. O NOME THE YOUNGSTERS TAMBÉM NÃO APARECE NESSE DISCO, NO ‘É PROIBIDO FUMAR’ E ‘ROBERTO CANTA PARA JUVENTUDE, NEM DO LAFAIETE. AS 4 FOTOS DA CONTRA CAPA É DOS COMPONENTES DO THE YOUNGSTERS. NO DISCO ‘É TEMPO DO AMOR’ DE WANDERLÉA AS 7 MÚSICAS QUE O THE YOUNGSTERS GRAVOU APARECE NOSSO NOME, E TODAS FORAM SUCESSO. RENATO E SEUS BLUE CAPS GRAVOU AS OUTRAS 5. GRAVAMOS TAMBÉM AS MÚSICAS ‘ERVA VENENOSA’….’AI DE MIM’…’VOLTE PARA MIM’…. ‘DANÇANDO O SURFIN’…’MICHAEL’, COM OS GOLDEN BOYS. A FORMAÇÃO COM OS COMPONENTES QUE FIZERAM O ACOMPANHAMENTO NO LP JOVEM GUARDA FORAM: Carlos Becker (vocal e guitarra base), Carlos Roberto (guitarra solo), Sérgio Becker (sax tenor e barítono), Jonas (baixo) e Romir (bateria).E FORMAVAM A BANDA THE YOUNGSTERS QUE TAMBÉM TEVE COMO PARTICIPANTE O IVAN CONTI (MAMÃO), ATUAL BATERISTA DO “AZYMUTH” E DO GUITARRISTA AMERICANO STANLEY JORDAN HÁ 16 ANOS.
Luiz Carlos Siqueira escreveu: LAFAIETE FOI O TECLADISTA DA MAIORIA DAS MÚSICAS DAQUELE PERÍODO E NÃO ESTÁ NA FOTO DA CONTRA CAPA DO ‘JOVEM GUARDA’, APESAR DE TER TOCADO ALGUMAS FAIXAS. O NOME THE YOUNGSTERS TAMBÉM NÃO APARECE NESSE DISCO, NO ‘É PROIBIDO FUMAR’ E ‘ROBERTO CANTA PARA JUVENTUDE, NEM DO LAFAIETE. AS 4 FOTOS DA CONTRA CAPA É DOS COMPONENTES DO THE YOUNGSTERS. NO DISCO ‘É TEMPO DO AMOR’ DE WANDERLÉA AS 7 MÚSICAS QUE O THE YOUNGSTERS GRAVOU APARECE NOSSO NOME, E TODAS FORAM SUCESSO. RENATO E SEUS BLUE CAPS GRAVOU AS OUTRAS 5. GRAVAMOS TAMBÉM AS MÚSICAS ‘ERVA VENENOSA’….’AI DE MIM’…’VOLTE PARA MIM’…. ‘DANÇANDO O SURFIN’…’MICHAEL’, COM OS GOLDEN BOYS. A FORMAÇÃO COM OS COMPONENTES QUE FIZERAM O ACOMPANHAMENTO NO LP JOVEM GUARDA FORAM: Carlos Becker (vocal e guitarra base), Carlos Roberto (guitarra solo), Sérgio Becker (sax tenor e barítono), Jonas (baixo) e Romir (bateria).E FORMAVAM A BANDA THE YOUNGSTERS QUE TAMBÉM TEVE COMO PARTICIPANTE O IVAN CONTI (MAMÃO), ATUAL BATERISTA DO “AZYMUTH” E DO GUITARRISTA AMERICANO STANLEY JORDAN HÁ 16 ANOS.É SEMPRE BOM LEMBRAR QUE O ROCK ERA A GRANDE NOVIDADE MUNDIAL COM SEUS NOVOS INSTRUMENTOS. JÁ ESTÁVAMOS EM CENA COMO PIONEIROS DO ROCK BRASILEIRO E DA SURF MUSIC 4 ANOS ANTES DA JOVEM GUARDA. OS ARRANJOS ERAM TODOS NOSSOS, NAQUELA ÉPOCA NINGUÉM SABIA FAZER ROCK, SÓ AS POUCAS BANDAS QUE EXISTIAM. NÓS JÁ TÍNHAMOS UMA BANDA COM SUCESSO E ALGUNS DISCOS PELA ‘COPACABANA DISCOS’ (THE ANGELS). GOSTO DE ACENTUAR SOBRE OS ARRANJOS PORQUE NINGUÉM FALA SOBRE ISSO. O ARRANJO É FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER MÚSICA E ESTILO. NENHUM CANTOR OU CANTORA OU MAESTRO DAQUELA ÉPOCA TINHA CONHECIMENTO PARA FAZER ARRANJOS DE ROCK, QUE ERA A MAIS NOVA MÚSICA DO MUNDO. SÓ MESMO OS ROQUEIROS TINHAM ESSA POSSIBILIDADE. NÃO EXISTIA ESCOLA DE ROCK, NÃO EXISTIA PROFESSOR DE GUITARRA, BAIXO ELÉTRICO, TECLADO ETC…
TEM UM ARRANJO MEU NA NOVELA ‘PIGMALEÃO 70’ DA REDE GLOBO, PARA O
PERSONAGEM ‘KIKO’ VIVIDO PELO ATOR E DIRETOR MARCOS PAULO, QUE FALECEU O ANO PASSADO, COM MÚSICA DE ROBERTO E ERASMO QUE A IMPRENSA ATRIBUIU AO ROBERTO E AO ERASMO, SENDO QUE ELES NEM FORAM AO STUDIO E FIZ O ARRANJO ATRAVÉS DE UMA FITA K7 QUE O NELSON MOTA NOS ENVIOU.
ABRAÇÃO A TODOS….PAZ – LUIZ CARLOS – THE ANGELS/THE YOUNGSTERS
Em 19 de julho de 2014
Formação do conjunto The Youngsters
Sérgio Becker também falou sobre este disco:
 Sergio Becker escreveu: “Nesta época o conjunto que acompanhava o Roberto Carlos nas gravações era o THE ANGELS com a seguinte formação: Carlos Becker guitarra base, Sergio Becker sax, Carlos Roberto dos Santos Barreto (GB) guitarra solo, Jonas Caetano Damasceno baixo e Romir Pereira de Andrade bateria. Por sugestão de meu irmão Carlos, como tinhamos acesso a discos importados, estavamos começando a ouvir grupos que tinham em sua formação organistas, naquela época não havia teclados, ainda. Tais grupos THE ANIMALS e DAVID CLARK FIVE serviram de inspiração para que o Carlos sugerisse um organista para os discos do Roberto Carlos e o indicado pela CBS foi o Lafayete.”
Sergio Becker escreveu: “Nesta época o conjunto que acompanhava o Roberto Carlos nas gravações era o THE ANGELS com a seguinte formação: Carlos Becker guitarra base, Sergio Becker sax, Carlos Roberto dos Santos Barreto (GB) guitarra solo, Jonas Caetano Damasceno baixo e Romir Pereira de Andrade bateria. Por sugestão de meu irmão Carlos, como tinhamos acesso a discos importados, estavamos começando a ouvir grupos que tinham em sua formação organistas, naquela época não havia teclados, ainda. Tais grupos THE ANIMALS e DAVID CLARK FIVE serviram de inspiração para que o Carlos sugerisse um organista para os discos do Roberto Carlos e o indicado pela CBS foi o Lafayete.”
Depoimento de Romir Pereira de Andrade:
“O Sergio (Becker) está em Arraial da Ajuda tocando nos “points” locais. O Jonas em Campos tocando blues e dando aulas de música. Paim, Luiz e Eu, só de vez em quando tocamos com amigos para não “enferrujar”. Como ainda trabalho como Arquiteto em consultorias, fico mais em composições e agora escrevendo o livro “Memórias de Um Baterista Canhoto” contando a historia dos músicos e origem da banda, e o “making of” das gravações com instrumentos precários, em gravador MONO sem fones de retorno e sem trilha guia..Criação e adaptação de instrumentos, truques de gravações e improvisos que ninguém ou poucos podiam imaginar. Na época não percebemos que estávamos fazendo algo importante – era uma curtição tocar! Pode servir de informação para os músicos que contam hoje com tantos recursos.. Hoje temos recursos de computador e programas que permitem gravar um CD em casa! No nosso tempo não havia fones nem caixas de retorno. Gravávamos todos juntos o acompanhamento – sem o cantor – e tínhamos que acertar ou voltar e começar tudo de novo. Mesmo assim, gravamos o LP “É Proibido Fumar” em apenas três seções. o LP “Jovem Guarda” em apenas dois dias -10 faixas num dia e as outras duas no dia seguinte – com arranjos nossos e sugestões do Roberto Carlos (veja nossa foto na contracapa com o RC).. Criamos instrumentos e improvisamos muito para suprir as dificuldades dos instrumentos disponíveis na época e gravando em “MONO” – um só canal de gravação! São esses detalhes e “manhas” de gravação que conto no livro. A História da Jovem Guarda já foi contada … O que estou fazendo é a história dos “The Angels” / “The Youngsters” desde a origem e falando sobre o “making of” das gravações no tempo da Jovem Guarda. Nós tivemos uma formação de banda de baile que tocava todos os estilos e ritmos o que facilitou nosso trabalho na “Jovem Guarda”. .
O GB (Carlos Roberto) era nosso guitarrista solo no “The Angels” que começou a aprender musica na “Escola da Rua” sentado comigo no meio fio, com um violão e eu com um tamborete de peteca de praia na percussão – uma dupla dinâmica! kkk. Era um roqueiro radical. Tinha um talento enorme e quando já estávamos gravando na Copacabana os 3 LPs sob o nome “The Angels”, ele fez solos maravilhosos e sem recursos que temos hoje, reproduziu o som de uma guitarra havaiana com um vidro vazio de remédio fazendo “slides” nas cordas da guitarra. Se você ouvir “Hawian Eye” vai se sentir no Havai. No 3º LP “Happy Week End”, tocamos só temas de “SURF”. Nesse LP ele e o Joninhas compuseram uma musica “Makaha Beach” que é puro clima de SURF e Havai e que, sinto, até hoje seria curtida pelos surfistas! Infelizmente a vida o retirou do nosso convívio, que éramos uma família musical, largou banda, trilhou caminhos longe de nós, e partiu para o “espaço” com 35 anos! Foi uma perda sentida principalmente para a alma de um músico!
O Luiz Carlos Siqueira entrou para o “The Angels” no lugar do Carlinhos Becker que era líder da banda e guitarra base e chegou a tocar com o GB, que está vivo em nossa memória e nas gravações! Toquei com o Luiz até 1966 quando saí e o Mamão me substituiu na bateria. Estou contando toda a historia no livro que estou terminando sobre o “making of” da gravações desde o tempo do The Angels, passando para Youngsters na trilha da Jovem Guarda: Parei na Contramão e as 38 músicas seguintes com o Roberto, com os Golden Boys (Erva Venenosa, Ai de Mim…), Wanderleia (Ternura …), Jerry Adriani (Italianissimo), Serguei, etc.”
“Tocamos algumas vezes em São Paulo, inclusive no programa Jovem Guarda e no do Ronnie Von. Gravamos músicas dos Beatles, inclusive dois sucessos que saíram nas 14 Mais, que foram Gente Demais (Ticket to Ride) e Vem (Help!), versão de Leno, da dupla Leno e Lílian. Leno me contou em Natal/RN em 2004, onde me encontrei com ele pela última vez, que ele escutou pela primeira vez a canção Do You Want to Know a Scret, dos Beatles, com o The Youngsters, no disco Os Fabulosos Youngsters, de 1964. Os discos de fora demoravam a chegar ao Brasil, mas tínhamos amigos que nos traziam ou enviavam logo que saiam… PAZ – LUZ… Luiz Carlos Siqueira – THE ANGELS/THE YOUNGSTERS”.
Foto do conjunto The Youngsters na Revista Sétimo Céu – Foto no Canecão, casa que inauguramos em 1967.

Foto do acervo do baterista Romir, durante a gravação do LP de Celia Vilela no estudio da RCA para MUSIDISC – anos 60
” Todas as músicas desde Parei na Contramão, Na Lua Não Há, e todas as músicas dos LPs “É Proibido Fumar’, ‘Roberto Canta Para a Juventude”, “Jovem Guarda” – Todos os arranjos e gravações foram feitos por nós, The Youngsters.” (Romir / The Angels/The Youngsters) (Romir Pereira de Andrade)
.
.
“Band on The Run”, Paul McCartney & Wings.
Lançado em 1973, o álbum Band on the Run tem as seguintes faixas:
01 – Band on the Run (5:13)
02 – Jet (4:09)
03 – Bluebird (3:25)
04 – Mrs. Vandebilt (4:41)
05 – Let Me Roll It (4:51)
06 – Mamunia (4:51)
07 – No Words (2:34)
08 – Helen Wheels * (3:47)
09 – Picasso’s Last Words (Drink to Me) (5:51)
Um pouco da história deste álbum.
Texto de Dado Macedo na comunidade Paul McCartney (Orkut)
Se Paul soubesse onde estava se metendo talvez BAND ON THE RUN nunca tivesse sido gravado.
Denny Seiwell e Henry McCullough desertaram do WINGS poucos dias antes da viagem à Nigéria.
Paul estava em dúvida onde gravar e pediu uma lista dos estúdios da EMI no mundo! Até o Rio de Janeiro foi cogitado! Paul acabou se decidindo por Lagos na Nigéria, onde ele achou que teria muito sol! Só que era o final da estação das monções e o sol só brilhava ocasionalmente.
Além do calor, da umidade e dos insetos, Paul, Linda e Denny se depararam com um estúdio em construção em que eles tiveram que ajudar na sua montagem…
Entre outros “incidentes” Paul teve um desmaio e foi levado ao médico que recomendou que ele parasse de fumar.
Noutra ocasião Paul e Linda passeando perto do estúdio foram abordados por uma gangue que roubaram seus relógios, dinheiro e fitas do que já tinha sido gravado.
Em Lagos, Paul assistiu a um show do músico nigeriano Ransome-Kuti e seu conjunto e se emocionou achando que tinha sido a melhor banda que já tinha visto ao vivo.
Só que Ransome-Kuti – apesar de não ter ouvido uma nota sequer do que Paul estava gravando – depois foi ao estúdio acusar Paul de explorar os músicos nigerianos e roubar a cultura musical nigeriana!!!
Paul teve que lhe mostrar as músicas e se ele achasse que estavam “roubando” sua música Paul não lançaria nenhuma delas!!!
Paul lembra do outono de 73 como um dos períodos mais difíceis de sua vida.
Entretanto as saídas de McCullough e Seiwell não se mostraram determinantes. Paul assumiu além do baixo e piano, bateria, sintetizadores, e ajudou Denny nos solos de guitarra.
Após 3 semanas na África o trio retornou para Londres, onde encontraram uma carta atrasada que dizia…”Não embarquem para Lagos de forma alguma. Cancelem – está havendo uma epidemia de cólera lá!”
Às vezes a sorte ajuda…. rsrs
Já na Inglaterra o grupo foi direto ao estúdio terminar as gravações.
Apesar dos vocais terem sido gravados na África, nota-se muito pouca influência africana nas gravações. De fato, talvez seja o álbum mais britânico dos WINGS.
Geoff Emerick mixou o álbum e Howie Casey acrescentou solos de sax em “Bluebird” e “Mrs. Vandebilt”. Tony Visconti fez o arranjo para a maioria das canções, sendo considerado um dos melhores que já foram feitos para um álbum de rock.
Durante a mixagem Paul sentiu que “Band on the Run” era algo especial. Após 3 dias de maratona mixando no estúdio Kingsway, o álbum estava pronto.
A capa foi idéia de Paul. Os 3 WINGS fugindo da cadeia com um grupo de “prisioneiros” que incluíam os atores James Coburn e Christopher Lee, o apresentador de TV Michael Parkinson, o cantor Kenny Lynch, o membro do Parlamento Clement Freud e o boxeador John Conteh.
Todos foram convidados só para uma brincadeira, nada parecido com a capa do “Peppers” – como alguns acham – que levou semanas para ser bolada.
Números do ‘Band on the Run’
Lançado nos EUA em 5/12/73 e 7/12/73 na Inglaterra. Ele chegou ao nº1 em ambos os países. Na Inglaterra ele liderou as paradas por 7 semanas.
“Helen Wheels” foi lançada somente na edição americana. Quem na época comprou a edição nacional tb ficou sem “Helen Wheels” já que nosso catálogo era baseado no inglês.
“Band on the Run” foi o 1º álbum do WINGS a liderar as paradas de ambos os lados do Atlântico e o primeiro tb a ganhar “Disco de Platina”.
Singles do “Band…” incluem “Helen Wheels/Country Dreamer”
“Jet”/”Mamunia” depois “Jet/”Let Me Roll It”.
“Band on the Run”/”1985” nos EUA e “Band on the Run”/”Zoo Gang” na Inglaterra.
Em 22 de março de 1999 o álbum foi relançado – duplo, sendo um cd só de entrevistas e contando a feitura do álbum e da capa – no mundo todo com bônus tracks, um booklet e um mini-poster, para celebrar seus 25 anos!!!
Um pouco sobre as músicas que compõem o álbum.
Band on the Run
A música “Band on the Run” foi inspirada num comentário esquisito que Harrison fez numa reunião de negócios da Apple. De acordo com Paul, “Ele disse que ‘todos nós éramos prisioneiros de alguma maneira’, um tipo de observação como, ‘If we ever get out of here’. Eu achei isso um jeito legal de começar um álbum.”
A canção tem 3 passagens diferentes, musicais e líricas. Após abrir com o tema “stuck inside these four walls”, ela pula para pensamentos de fuga com a frase, “If I ever get out of here”. Depois vem o segmento de orquestra simbolizando a escapada e levando a parte principal da canção, a banda em fuga.
A faixa tem Paul nos vocais, guitarras, teclados, baixo, sintetizador e bateria, Linda no backing e teclados, Denny Laine na guitarra e backing. Orquestra foi dirigida por Tony Visconti.
Jet
A próxima “Jet”, é um poderoso rock. Paul deu o mesmo nome à canção de seu filhote de Labrador. Mas como era o caso de “Martha My Dear”, que foi intitulada com o nome da Sheepdog de Paul, a canção não é sobre um cão, mas sim sobre uma mulher.
Jet foi gravada no A.I.R. estúdio e tem Paul nos vocais, guitarras, teclados, sintetizador, baixo e bateria, Linda, backing e teclados, Denny na guitarra e backing mais orquestra de cordas de Tony Visconti e ainda 4 saxofones.
Bluebird
“Bluebird” é uma bela balada com destaque para o violão, escrita na Jamaica durante umas férias. A frase “At last we will be free” continua o tema do álbum de fuga e liberdade.
Tem Paul nos vocais, guitarras e baixo, Linda no backing e Denny no violão e backing. O bonito solo de sax foi adicionado por Howie Casey, um velho amigo de Paul dos dias de Hamburgo, no A.I.R. estúdio. Um dos percussionistas foi Lenny Kabaka, natural de Lagos, mas que adicionou sua parte em Londres. Ele foi o único africano a tocar no álbum.
Claro que não faltaram comparações com ‘Blackbird’, mas Paul como já tinha deixado claro, não queria comparações com seu trabalho com os Beatles.
Mrs. Vandebilt
“Mrs. Vandebilt” é outra canção up-tempo, muito interessante. A frase inicial, “Down in a jungle, living in a tent” não foi inspirada nas sessões de gravações da África, e sim, era uma ‘pegadinha’ do comediante inglês, Charlie Chester.
A linha, “What’s the use of worrying?” tb combina bem com o tema de fuga do disco. Durante a gravação em Lagos, houve uma queda de luz no estúdio durante uma forte tempestade – e Paul esperava sol, hehehe, – forçando a banda a confiar na gerador de força, o qual felizmente aguentou até o final da gravação.
Paul está nos vocais, guitarras e baixo, Linda, teclado e backing, Denny no violão e backing, e Howie Casey no sax. O baixo de Paul se sobressai, atuando como instrumento solo, e ele também acrescenta um lindo solo de guitarra. O refrão “Ho Hey Ho” é um eficiente gancho, aumentado pelo som de risadas adicionadas em Lagos e Londres.
Let Me Roll It
O lado 1 termina com “Let Me Roll It”, uma canção de amor ‘bluesy’, que é parecido com o estilo de tocar guitarra e de cantar de John Lennon.
A faixa básica começa com Paul na bateria, Linda no orgão e Denny na guitarra. Paul então adicionou sua guitarra solo.
Para dar ao som da guitarra um som diferente e mais pesado, Paul a plugou num poderoso amplificador vocal ao invés de um amplificador para guitarra.
O ‘riff’ lembra John em “Cold Turkey”, e o vocal de Paul com eco, particularmente no fim da canção se aproxima muito do de John, que adorava usar eco, mas Paul nunca achou que fosse parecido. Linda e Denny cantaram backing.
Mamunia
O lado 2 abre com “Mamunia”, pra mim uma das melhores do álbum. Ela expande o tema e os sentimentos de “Rain” dos Beatles. Mas enquanto “Rain” é uma das mais pesadas canções Beatle, “Mamunia” é uma música leve e pop.
O nome veio de um hotel em Marrakesh. Segundo Paul, ela foi a primeira música a ser gravada em Lagos, no meio de uma tempestade tropical.
Ela tem Paul nos vocais, guitarras, baixo e sintetizador, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. Inclui uma percussão tocada por um dos roadies.
Em árabe, ‘mamunia’ significa ‘Safe Haven’ (Porto Seguro).
Neste post, publiquei sobre “Mamunia” e sua relação com o Hotel “La Mamounia” em Marrakech!
No Words
Esta canção foi escrita mais de uma ano antes por D. Laine/McCartney. A canção de amor mid-tempo, foi começada por Laine e terminada por Paul. É sem dúvida a mais ‘pop’ do disco.
Ela tem Paul nos vocais, guitarras, piano, baixo e sintetizador, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. Overdubs em Londres incluíram um quarteto de cordas com arranjo de Tony Visconti e mais backing vocais de 2 roadies, Ian Horne e Trevor Jones.
Helen Wheels
Esta música foi lançada como single 3 semanas antes do álbum. Paul não pretendia a incluir no disco, e na Inglaterra ela não o foi (nem no Brasil, onde nossa discografia era baseada na inglesa – ainda bem!!).
Para o mercado Americano, Paul acabou seguindo o conselho da Capitol americana de que sucessos em single geram secessos de álbuns(esta fórmula ajudou a vender milhões de discos dos Beatles na América).
“Helen Wheels” apresenta Paul nos vocais, guitarra solo, baixo e bateria, Linda nos teclados e backing e Denny na guitarra e backing.
Picasso’s Last Words ( Drink to Me)
Esta música foi o resultado de mostrar como se escreve canções à Dustin Hoffman.
Qdo em férias na Jamaica na primavera de 1973, Paul encontrou Hoffman que estava lá filmando “Papillon”. Paul e Linda foram jantar na casa de Hoffman e sua esposa e o ator recentemente tinha lido um artigo da “Time” sobre a morte de Pablo Picasso.
Dustin queria muito saber como era a técnica de composição de Paul e enquanto ele descrevia à Paul a última noite do pintor e suas últimas palavras, “Drink to me, drink to my health…you know I can’t drink anymore.” Dustin observou assustado, que Paul estava cantarolando já a frase, acompanhado de seu violão. Hoffman gritou para sua esposa: “Ele está compondo… Venha cá… Ele está compondo.”
Ela foi gravada no estúdio de Ginger Baker, ex-Cream, em Lagos. Ela apresenta Paul nos vocais, guitarras elétricas e violão, piano, baixo e bateria, Linda no backing, Denny no violão e backing, com orquestra de Tony Visconti. Baker contribuiu com percussão sacudindo um balde cheio de cascalho.
Paul queria para a canção um som fragmentado simbolizando o estilo cubista de Picasso. Parece que conseguiu!!!
Nighteen Hundred and Eighty-Five
A faixa final, é um rock de piano – e que piano!!!
Apesar de Paul já ter a melodia pronta fazia algum tempo, ele terminou a letra no dia da gravação. Para mim esta também foi um dos grandes momentos do álbum.
A faixa tem Paul nos vocais, piano, guitarra solo, baixo, sintetizador e bateria, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. A canção tb tem orquestrações de Visconti e percussão.
No final da música, Tony Visconti trabalhou num poderoso arranjo de orquestra que leva à uma reprise de “Band on the Run’.
É um final apropriado para um grande álbum!!!
O álbum London Town da banda Wings. (Resgatando tópico do Orkut)
Lançado em 1978, é composto das seguintes faixas:
1. London Town
2. Cafe on the left bank
3. I´m carrying
4. Backwards traveller
5. Cuff link
6. Children children
7. Girlfriend
8. I´ve had enough
9. With a little luck
10. Famous groupies
11. Deliver your children
12. Name and address
13. Don´t let it bring you down
14. Morse moose and the grey goose
15. Girl´s school
Segue um texto escrito por Dado Macedo para a comunidade Paul McCartney no Orkut.
Nem ‘Mull of Kintyre’ nem tampouco ‘Girl’s School’ faziam parte do álbum original em vinil.
Quando saiu em CD nos EUA, ‘Girl’s School’ entrou como bônus, e mais recentemente, ‘Mull of Kintyre’ também!
Para quem gosta de uma certa ‘unidade’ de álbum (não estou falando de conceito, ou álbum conceitual), estas duas não deveriam fazer parte. Elas fogem, no meu modo de ver, da idéia geral do álbum, mas claro, como singles que não tinham onde mais se encaixar, teria que ser neste disco mesmo!
Na minha ótica este álbum ficou devendo. Após o auge do ‘Wings Over America’, Paul resolveu dar uma guinada e ir gravar nas Ilhas Virgens.
Tudo bem, ares novos, mas isto não se transformou em música mais bem trabalhada! A banda na verdade estava novamente se desfazendo. Jimmy saiu logo após a volta das Ilhas, e Joe English, ainda terminaria o álbum, mas depois se afastou.
Penso que se o projeto original era gravar a bordo de iates, num verão tropical, por que no final colocar uma capa do inverno londrino e da própria Londres???!!!
O ‘clima’ do álbum passa por mudanças drásticas, das músicas que foram gravadas no verão para as do inverno em Londres! Metade foi gravado em péssimas condições, enjôos, turbulências internas, Linda grávida de sete meses, etc..
A outra metade, tudo certinho, em Londres!
Havia boas canções ali, como ‘Don’t Let It Bring you down’, ‘Famous Groupies’ e ‘I’m Carrying’, mas não é apenas de boas canções que se faz um grande álbum!
Foi o começo do fim do Wings pra mim!
Informacoes sobre Kintyre
http://www.kintyre.org/
‘Girlfriend’ fez parte do álbum ‘Off the Wall’ de Michael Jackson lançado em 79! Acho que foi o início do processo de colaboração que iria dar em.. ‘The Girl Is Mine’, ‘Say Say Say’ e ‘The Man’.
Aliás sobre esta música ( Girlfriend), tinha gente que achava que o vocal era da Linda no ‘London Town’ hehehe. Paul conseguia fazer vocais de tudo que era tipo..
Segundo Paul, Michael ligou pra ele e falou: “Vamos fazer alguns sucessos juntos?”
Então no ‘London Town’, algumas pessoas acharam que era a Linda cantando ‘Girlfriend’, mas claro que era o Paul!
Depois, Michael em seu ábum ‘Off the Wall’ também fez uma versão de Girlfriend!!
Cafe on the left bank – “Composta em Campbeltown, Escócia, e nas ilhas virgens.
Cafe on the left bank foi a primeira canção gravada no iate Fair Carol. A letra desta faixa foi inspirada pelas viagens de Paul à França, principalmente em uma viagem em que visitou Paris, juntamente com John Lennon, em 1961.
Instrumentos tocados por Paul McCartney: contra-baixo, sintetizador e guitarra elétrica.
Tamborim e moog, por Linda McCartney. Bateria por Joe English. Guitarra solo, por Jimmy McCulloch. Guitarra elétrica rítmica, por Denny Laine.
Gravada no iate Fair Carol, nas Ilhas Virgens.” (DIRANI, Claudio D. Paul McCartney: Todos os Segredos da Carreira Solo. p. 64)
A letra
“Cafe On The Left Bank”
(Paul Mccartney)
.
Cafe on the left bank, ordinary wine
Touching all the girls with your eyes
Tiny crowd of Frenchmen round a TV shop
Watching Charles deGaulle make a speech
.
Dancing after midnight, sprawling to the car
Continental breakfast in the bar
English-speaking people drinking German beer
Talking far too loud for their ears
.
Cafe on the left bank, ordinary wine
Touching all the girls with your eyes
.
Dancing after midnight, crawling to the car
Cocktail waitress waiting in the bar
English-speaking people drinking German beer
Talking way too loud for their ears
A foto clássica do encarte/poster do vinil ‘London Town’
Mais algumas curiosidades sobre o Álbum London Town
London Town, a música, foi originalmente criada qdo Paul estava em Perth, na Austrália, e ela ainda não se referia a Londres, pois Paul só tinha a primeira frase.
Ele depois desenvolveu a idéia na Escócia e a completou quando em férias no México. Ele então trabalhou com Denny Laine para os ajustes finais.
Ela foi lançada em single em agosto de 78 com ‘I’m Carrying’ no lado B, mas só chegou ao nº 60 na Inglaterra e nº39 na América.
Cafe on the Left Bank
A primeira canção gravada pelos WINGS nas Ilhas Virgens para o que viria a ser o ‘London Town’!
Foi gravada em 2 de maio de 77 no iate ‘Fair Carol’, e foi inspirada nas viagens de Paul a Paris, incluindo sua primeira visita acompanhado de John Lennon em 1961.
I’m Carrying
Foi lado B em single da ‘London Town’.
Inspirada por uma antiga namorada de Paul – não me perguntem qual – ela foi gravada em 05 de maio de 77 nas Ilhas Virgens.
George Harrison considerou a melhor música do álbum. Um instrumento diferente chamado ‘gizmo’ foi utilizado nela, é uma espécie de sintetizador. Este instrumento foi criado por Kevin Godley e Lol Creme da banda 10cc.
Backwards Traveller e Cuff Link
Aqui ja parece ser Paul preparando o ‘McCartney II’, são pequenos esquetes musicais embora a ‘Backwards Traveller’ tenha um ritmo interessante.
Children Children
Paul ajudou Denny a compor esta, e deu a ele a chance de cantar.
Ela foi inspirada durante uma conversa entre os dois nos jardins da casa de Paul onde havia uma cachoeira (Denny comentou que a inspiração foi a ‘waterfall’, quem sabe esta tb não inspirou Paul a compor a sua ‘Waterfalls’)!!
Ela foi gravada em Abbey Road.
Girlfriend
Não foi acidente – Paul escreveu esta canção pensando em Michael Jackson e ela parece uma faixa do Jackson Five.
No ano seguinte Michael a gravou no ‘Off the Wall’ e a lançou em single em 1980, chegando ao nº 30 nas paradas.
I’ve Had Enough
Gravada nas Ilhas Virgens a bordo daqueles iates, ‘Fair Carol’ e ‘Wanderlust’ em 1977.
Ela foi lançada em single em junho de 78, junto com ‘Deliver Your Children’ de Denny. Chegou ao nº 42 no Reino Unido e nº 25 na América.
A idéia para esta música me pareceu boa, mas sem conclusão, faltou um desenvolvimento maior do tema, e talvez como comentou o Luiz, tenha havido uma fallha na produção devido ao problema de gravar nos iates.
Dizem que as condições de gravação eram precárias, devido ao constante movimento da maré.
Nada que não pudesse ter sido consertado depois em Abbey Road! Então a produção de Paul McCartney falhou mesmo!
With a Little Luck
A mais comercial do disco, sua gravação começou nos iates e terminou em Londres.
Foi lançada em single nos EUA em março de 78 e chegou ao nº 01, na Inglaterra ela foi apenas nº 07. O lado B foi Backwards Traveller/Cuff Link. Esqueci de dizer que nessas duas Paul tocou bateria.
Foi feito um clip desta canção que eu acho um dos mais chatos ja gravados por Paul, com ele Linda e Denny numa espécie de ‘salão de baile’ com jovens dançando.
Como curiosidade, ‘With a Little Luck’ toca ao final do filme ‘Sunburn’ com Farrah Fawcett!
Famous Groupies
Esta foi escrita por Paul na Escócia e gravada nas Ilhas Virgens. Sem duvida um dos melhores momentos do álbum, ela apresenta um Paul muito solto nos vocais e mudanças ritmicas bem tipicas do ‘Ram’.
Deliver Your Children
Outra colaborção de Paul e Denny, em que este assume os vocais novamente. É um belo rock-rural, que foi lado B de ‘I’ve Had Enough’ em single. A música foi feita sob medida para o pouco alcance vocal de Denny.
Name and Address
Esta foi a homenagem de Paul ao rei do rock Elvis Presley que tinha acabado de morrer. Foi gravada em Abbey Road, e Paul está na guitarra solo. Jimmy McCulloch e Joe English ja tinham deixado a banda.
Hank B. Marvin guitarrista dos ‘Shadows’ apareceu nesta sessão, mas apesar de alguns comentários discordantes ele NÃO tocou guitarra nesta música!
Don’t Let It Bring You Down
Pra mim a melhor do álbum. Ela tb foi gravada nas Ilhas Virgens e foi outra colaboração de Paul e Denny.
Eles tocam uma espécie de flauta irlandesa nesta canção. Se tivesse sido lançada em single talvez tivesse uma trajetória melhor.
Morse Moose and the Grey Goose
Outra composta nas Ilhas Virgens para o “London Town”, onde Paul e Denny Laine estavam brincando nos teclados.
Paul estava no piano elétrico e Denny dando pancadas num piano acústico, e eles gostaram tanto do som estranho – Paul comparou ao código Morse – que começaram a compor uma canção a partir daí, e que depois foi completada em Londres.
Talvez tenha sido o final apropriado pra aventura de Paul nas Ilhas Virgens!
‘London Town’ recording session 1977
Ficha técnica do Álbum:
Capa: Aubrey Powell e Geroge Hardie
Arte: Paul e Linda McCartney, Denny Laine, Henry Diltz e Graham Hughes
Nome de trabalho: Water Wings
Gravado entre: 2/1977 e 1/1978
Equipe Técnica: Geoff Emerick
Lançado em: 30/03/1978 e 27/3/1978
Paradas: #4 e #2 (Reino Unido/EUA)
Lançado em 31 de março de 1978, o álbum London Town da banda Wings completou 36 anos em 2014, tendo sido o sexto álbum de estúdio de Paul McCartney & Wings.
Celly Campello, o mito de uma geração!
José Eduardo Gomes Chacon, o viúvo de Celly Campello, em entrevista a Antonio Aguillar fala sobre as escolhas de Celly.
Para a tristeza de toda uma geração que se espelhou no trabalho dela, Celly abandonou a carreira no auge da fama, aos 20 anos de idade, para se casar e morar em Campinas, interior de SP.
Foi em 1962 que José Eduardo e Celly, que eram namorados desde a adolescência, se casaram e permaneceram juntos até a morte dela, em 04 de março de 2003, deixando dois filhos, Cristiane e Eduardo.
Trailler do documentário realizado pela ND Produções com direção artistica de Dimas Oliveira Junior, direção técnica de José Inácio Silva. Co-Produção da Camera2.
O músico da banda Ghizzi & Kentucky Rangers e sua relação com os Beatles!
★♪♪★♪♪★ Dados Biográficos do Músico Toninho Ghizzi.★♪♪★♪♪
Antonio Ghizzi Rodrigues nasceu em Itapetininga, Estado de São Paulo, no dia 28 de janeiro de 1947 e lá morou até seus 17 anos. Mudou-se para São Paulo onde reside até hoje, sendo que de maio de 1975 até maio de 1976, morou em Los Angeles, California/USA. O Ghizzi aprendeu tudo sozinho, nunca estudou em escola de música ou conservatório, que eram muito comuns à época. Ele pretendia ser engenheiro da Aviação, fazer mecânica de Aviação, design, piloto, enfim, tudo que fosse ligado à aviação. Mas em fevereiro de 1964 sua vida mudou para sempre! Chegou a São Paulo no dia 27/01/1964, completando no dia seguinte 17 anos. Umas duas semanas depois começou a tocar uma música nas rádios, uma música diferente de tudo que havia ouvido até então. A música? “I want to hold you hand”, primeiro sucesso dos Beatles no Brasil. Aí ele literalmente deixou que eles segurassem sua mão e não as soltou mais. Parou com tudo e ouvia Beatles 25 horas por dia, 8 dias por semana! Foram sua maior motivação e fonte de inspiração.
★♪♪★♪♪★♪♪★♪♪ Trajetória Artística ★♪♪★♪♪★♪♪★♪♪
1966 e 1967 – (contrabaixo e vocal) Os Atômicos (banda do Chupeta, que foi dançarino nos programas Ritmos para a Juventude, do Antonio Aguillar) Boates na boca do luxo.
1968 – (guitarra e vocal) Quarteto de Rock ‘n’ Roll sem nome – Boates no cais de Santos 1969 – (guitarra e vocal) Universom 99 (banda de bailes). 1969 – (contrabaixo) no disco (L.P.) Erasmo Carlos e os Tremendões
1970 e 1971 – (contrabaixo) Os Tremendões – (banda de Erasmo Carlos).
1972 ~ 1974 – (bateria, contrabaixo e solos vocais) Os Impossíveis (banda de bailes).
1972 – (direção de gravação) 2º disco (L.P.) dos Vencedores por Cristo (Banda Evangélica).
1973 – (direção de gravação) 3º disco (L.P.) dos Vencedores por Cristo (Banda Evangélica).
1975 ~ 1976 – (contrabaixo) Hollywood/Los Angeles (La Brea Inn Band – banda peruana de Salsa).
1976 – (contrabaixo) Roberto Carlos – RC 10.
1977 – (guitarra) Nelson Ned. 1977 ~ 1980 – (contrabaixo, guitarra, solos vocais em fonogramas publicitários) Cinestúdio, MCR e Echo’s. 1977 ~ 1981 – (guitarra e arranjos) Programa do Bolinha – TV Bandeirantes.
1978 ~ 1982 – (guitarra e solos vocais) Programa Inglês com Música – TV Cultura.
1980 – (arranjos e direção musical) Filme Estrada da vida de Milionário e José Rico.
1980 – (arranjos e direção) dos discos nº 8 e nº 9 (L.Ps. ) de Milionário e José Rico.
1980 ~ 1983 – (arranjos, criação, solos vocais e direção de fonogramas publicitários) Estúdio Avante Garde.
1984 até 1996 – (arranjos, criação, solos vocais e direção de fonogramas publicitários) Alta Freqüência (produtora própria).
1996 até os dias atuais – BandaGhizzi & Cia. Rock. Bares onde se apresenta ou já se apresentou: Charles Edward (SP – durante 7 anos), Miller Goddard (SP -durante 9 anos), Cartum (Campinas-SP – durante 13 anos), Santa Aldeia (SP), Memphis (SP), Gitana (SP), Vera Cruz (São Bernardo-SP), My Way (Americana-SP – durante 1 ano), Café Tequila e Lounge (Jundiaí-SP – durante 10 anos), All Black (SP – há 9 anos), Dublin Live Music (SP), O Garimpo (Embú das Artes-SP – durante 9 anos), No Canto (Nova Odessa-SP – durante 8 anos), Corcoran’s (SP), Delta Blues (Campinas-SP); O’Malley’s (SP), Espaço Arena (Pedreira-SP), Old Vic Pub (SP), Fashion Club e Musique Design Bar (Recife-PE), Resort da Pousada do Rio Quente (GO), Grainne’s (Campinas-SP – há 4 anos), Rhino Pub (SP), John Gow Irish Pub (Americana-SP -há 4 anos), etc..
Considerações finais: No período de 1969 até 1996 trabalhou em Companhias de discos comerciais (RCA, Copacabana, Fermata, Som Livre, Continental, Chantecler, etc.) e também em vários estúdios de gravação como arranjador, produtor, diretor de estúdio, contrabaixista, guitarrista e coralista, além de várias criações, arranjos e solos vocais em fonogramas publicitários de clientes como: McDonald´s, Coca-Cola, Chevrolet, Peugeot, Honda, C&A, Margarinas Delícia e Mila, Casas Pernambucanas, entre outros tantos.
Em 1992 e 1993, trabalhou com sua banda Ghizzi & Kentucky Rangers nas casas de country music: Caipicountry, Caipiródromo e Tennessee Saloon.
“O Protagonista Oculto dos Anos 60”, livro de Primo Moreschi.
“O Protagonista Oculto dos Anos 60″é um livro autobiográfico escrito por Primo Moreschi, o Joe Primo, músico fundador dos grupos de Rock dos anos 60, The Jet Black’s e Os Megatons.
“Quem se dispuser a comprovar no que resultou meu “debut” literário intitulado “O Protagonista Oculto dos Anos 60”, entre em contato comigo pelo E.mail: primomoreschi@gmail.com .
Meu desejo é que todos tenham uma leitura prazerosa e que me queiram bem, que não faz mal a ninguém.
Na hipótese de querer matar a curiosidade e não se dispuser a comprar o livro, sentir-me-ei honrado em ter como leitor do mesmo online neste blog, afinal, essa sempre foi minha intenção. É óbvio. Portanto, sintam-se vontade no aconchego de seu lar, brindando com sua maravilhosa atenção este meu livro, também online. Na eventualidade de vir a gostar de minha modesta maneira de me expressar nas paginas deste livro, isso só me dará prazer! Caso contrário, antecipadamente deixo minhas desculpas. Nem sempre é possível agradar a todos.
Apenas peço de antemão que levem em consideração minha pouca experiência no trato com a literatura, e que em boca pequena, amenize minhas falhas dizendo aos outros que ninguém é perfeito, e que esse meu erro quer ortográfico ou outro qualquer, se deu por um lapso imperceptível de minha parte, o qual nem deve ser levado em conta ok? Afinal de contas errar é humano, e “perdoar é divino”… O resto? Ora, o resto é resto! Bjos.” (Primo Moreschi)
“O PROTAGONISTA OCULTO DOS ANOS 60”
escritor: Primo Moreschi – Livro distribuído pela “Livros de Biografias – Memórias Sollus – Livraria Virtual”, ou Rua Airí, 24 – Tatuapé, fone (11) 29420337 ramal 135
Copyright by c 2008 – Primo Moreschi
Todos os direitos reservado
Impresso no Brasil
Deposito Legal na Biblioteca Nacional
Editora Oeste
Rua Spipe Calarge, 1538
Bairro Jardim Morumbi
79051-569 – Campo Grande – MS
Telefone: 67 3301 9010
edoeste@terra.com.br
————————————————————————————————————-
Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Moreschi Primo
M845p O Protagonista Oculto dos Anos 60 – Primo Moreschi. –
Campo Grande , MS: Ed.Oeste, 2008.
302 p. : il. : 23 cm.
ISBN: 978-85-88523-52-4
1.Moreschi, Primo. 2. Autobiografia – Músicos. 3. l. Título
CDD (22) 780 92
___________________________________________________________________________________
“Wagner Benatti (Bitão) Se encarregou de assinar um primeiro parecer sobre este livro com as seguinte frazes”:
Duas pessoas numa só: o amigo Primo Moreschi e o amigo e músico Joe Primo. Este foi, e é, realmente um dos pioneiros do Rock’n roll brasileiro que nos seus primordios dos anos 1950 ainda era praticamente só instrumental.Foi assim que pelas mãos habilidosas, musicalidade consagrada e tenacidade deste brilhante músico surgiram duas das mais cultuadas e respeitadas bandas ( que na época dizia-se conjunto musical) do rock instrumental nacional: “The Jet Black´s e “Os Megatons”. Muitos dos jovens músicos que iniciaram seus aprendizados naqueles longinquos e criativos anos 1960 tiveram como espelho essas duas bandas, sendo que “Os Megatons” apesar de nunca terem tido um sucesso avassalador como outras bandas da época, sempre foram cultuadissimos por todos os músicos pela qualidade instrumental e virtuose de seus integrantes. Lendo este livro – que na minha opinião é uma das obtas mais abrangentes do panorama musical jovem dos anos 1950 – 1960 – poderão entender exatamente o que estou dizendo, até porque tenho o orgulho de ter párticipado juntamente com Joe Primo da última formação dos Megatons no finalzinho dos anos 60. Leiam atentamente cada linha, cada detalhe deste ótimo livro e descobrirão muitas histórias nunca antes reveladas deste cenário musical do então iniciante rock’n roll brasileiro.
Bom divertimento! – Wagner Benatti (bitão)
Guitarrista- vocalista
da banda “Pholhas”
“O Protagonista Oculto dos Anos 60”
Uma seqüência de acontecimentos do mundo artístico nos finais dos anos 50 e inicio de 60; com revelações inusitadas, até então desconhecidas dos remanescentes e aficionados do Rock e Twist no Brasil. Neste livro, Primo Moreschi, (Joe Primo), sita uma serie de fatos vividos e vivenciados, merecedores de atenção especial de quem de direito, no sentido de atenuar o mal que certas leis, e ações impensadas causam ao ser humano de boa índole, trabalhador, cumpridor de seus deveres e obrigações, que em virtude de ter um caráter ilibado, sofre ao ter que encarar as agruras impostas por essa sociedade mesquinha, exclusivista, fria e calculista, demagoga e oportunista.
“Sinopse”
Capitulo – I
A primeira infância
Pág. 01
Capitulo – II
Vida de órfão
Pág. 02
Capitulo – III
Vida de pensionista
Pág. 06
Capitulo – IV
O desenho – Profissão e arte
Pág. 12
Capitulo – V
Nasce o Artista
Pág. 25
Capitulo – VI
A caminho do Auge
Pág. 34
Capitulo – VII
A luta e o punhal pelas costas
Pág. 41
Capitulo – VIII
No Hospital – O começo do fim
Pág. 46
Capitulo IX
Preparando a volta
Pág.49
Capitulo – X
Retorno à batalha
Pág. 52
Capitulo – XI
Tons e Megaton´s – conhecendo o sucesso
Pág.59
Capitulo – XII
Provando now how e se retirando
Pág.72
Capitulo – XIII
Fotografia, espiritualidade e amor
Pág. 74
Capitulo – XIV
A grande aventura na selva
Pág. 82
Capitulo XV
Parênteses – pausa para reflexão
Pág. 106
Capitulo XVI
A sorte e o casamento
Pág. 116
Capitulo XVII
Convite para uma nova vida
Pág.122
Capitulo XVIII
Vida de marceneiro
Pág. 125
Capitulo – XIX
Rinha de galo e briga de gente
Pág. 129
Capitulo XX
Parêntese II – reflexão nunca é demais
Pág. 134
Capitulo XXI
Gratidão, solidariedade e caldo de galinha, não fazem mal a ninguém.
Pág. 137
Apresentação
1. Nem defunto autor nem autor defunto, felizmente, tampouco com a pretensão de fazer-me de grande escritor, sempre tive em mente, no entanto, num momento em que estivesse inspirado, de cabeça fresca, escrever um livro. Em síntese, algumas nuances de minha infância, adolescência e juventude, ricas que foram de fatos pitorescos e situações inusitadas que merecem um relato simples, de alguém que viveu e encarou a vida da maneira como esta lhe foi apresentada. Narrando minhas venturas e desventuras – que não foram poucas – confronto essas experiências com afirmações de certos “donos da verdade”, que vivem parafraseando ensinamentos para justificar determinado comportamento de crianças e adolescentes. Enfim, um depoimento de quem, mesmo com dificuldades, soube tirar dos obstáculos o próprio modo de superá-los, fazendo cair por terra certas teorias “modernas” sobre como os acontecimentos influenciam o caminho e as escolhas dos jovens.
CAPÍTULO I
A primeira infância
Pág. 03
Filho de italianos: lembro-me de que todos os dias, ao cair da tarde, ficava ansioso à espera de meu pai retornar do trabalho – ele era carpinteiro – porque, quando voltava do seu serviço, passava em um armazém vizinho de casa, sagradamente, tomava um aperitivo (rabo de galo) e comprava um doce de maria-mole. Não sei se o doce era grande demais ou minhas mãos muito pequenas (eu devia ter cinco ou seis anos), mas não conseguia segurar só com uma das mãos aquela delícia, cuja lembrança me dá água na boca até hoje. Ao chegar a casa, ele pedia para minha mãe deixar de fazer o serviço que estivesse fazendo porque ele o terminaria. Meus pais – que eu lembre – não me batiam. Salvo uma única vez que minha mãe, não sei por que cargas d’água, abaixou um calção que eu usava e me deu umas chineladas. Fiquei uns bons bocados chorando, deitado de bumbum pra cima no chão do jardim que havia em nossa casa, sentindo os grãos de areia que desprenderam do chinelo de minha mãe e grudaram em minha pele. Nessa época, morávamos na Rua Canuto Saraiva, no bairro da Móóca, em um sobradinho. Todos os dias, às 18 horas – hora do “Ângelo” – eu e minha irmã, a qual chamava carinhosamente de Mariínha, íamos até a nossa vizinha, dona Linda para ouvir o rádio e rezar a Ave Maria. Dona Linda tinha uma sobrinha que também se juntava a nós para rezar e, após brincar, comer uma maçã vez ou outra. Quando ela me oferecia um pedaço, eu, bobo, dizia que não gostava, sem imaginar que, por conta disso, a menina não mais me ofereceria. E eu sempre ficava com vontade de comer a fruta.
Lembro-me também, vagamente, de um vizinho, mais ou menos da minha idade, de nome Henrique – Henriquinho –, que, de vez em quando, juntava-se às brincadeiras. Fazíamos de conta que no jardim de minha casa, por entre aquelas plantinhas e capins, havia onças, macacos, Tarzan e muitos bichos criados pela nossa fértil imaginação infantil. Vez por outra, montavam um circo em um terreno baldio à distância de mais ou menos uns 100 metros da nossa casa. Eu e Mariínha fazíamos de tudo para assistir aos espetáculos, ora vendendo pipocas para o pipoqueiro, ora entrando como penetras por baixo da lona. Também o neto do dono do circo, que fazia o papel principal, de mocinho, no seriado que aos domingos encenavam, colocava-nos para dentro – o danado estava de olho em minha irmã. Ao término do seriado, ele ficava se insinuando para ela, mas meu outro irmão, Antônio, não permitia que ninguém namorasse minha irmã, porque ela tinha apenas nove ou 10 anos e era a única filha entre nove irmãos.
Outra coisa de que me lembro é que, vez por outra, meu irmão de nome Urbano reunia-se com mais quatro colegas para ensaiar as músicas que compunham o repertório de um conjunto de faroeste – muito em moda na época – do qual ele fazia parte, cujo nome era Rancheiros da Paulicéia. Vez por outra, apresentavam-se na Rádio América de São Paulo, trajados a caráter, ou seja, de cowboy, arrancando muitos aplausos da platéia, pela afinação e qualidade de seus componentes. Meu pai também cantava e, mesmo não tendo dois dedos, que por infelicidade perdera quando trabalhava em uma marcenaria, conseguia se acompanhar ao violão. Meu irmão Luiz era muito arteiro. Quando não estava em casa lendo gibis – coisa que meus pais não aprovavam – estava aprontando alguma traquinagem. Perto de casa, havia campinho, por sinal muito perigoso para brincadeiras, porque abrigava torres de transmissão de alta voltagem. Certo dia, meu irmão Luiz, influenciado pelos gibis, que não deixava de ler nem quando estava almoçando (hora sagrada), fez um pára-quedas do pano de um guarda-chuva velho e se atirou de cima de um dos lances da torre de alta tensão. Por verdadeiro milagre, não se quebrou todo. Como se não bastasse, um coleguinha seu, que devia ter a mesma idade de meu irmão (Zinho), também subiu em um dos lances da torre de alta tensão e a uma altura aproximada de quatro metros, com um cigarro na boca e um arame numa das mãos, cismou de acender o cigarro com uma das faíscas que o mesmo provocaria. O resultado não poderia ser outro: recebeu um enorme tranco, seguido de um estrondo com faíscas, pra ninguém botar defeito. Não sei precisar se o menino se safou dessa.
Existia também, naquela época, um parque de diversões de nome Xangai, que dentre múltiplos divertimentos, apresentava um espetáculo de calouros cujo animador chamava-se Zé Estaca. Não havia uma só apresentação de que Mariínha participasse cantando que não ganhasse o primeiro prêmio. O mérito disso tudo se devia à afinação e ao timbre de voz, combinados com sua beleza. Mamãe passava horas fazendo cachos em seus cabelos, com um ferro quente, deixando-a parecendo uma bonequinha. Nessa época, meus irmãos Sebastião e Orlando já eram casados. Portanto, nossa casa era composta da seguinte forma: José (papai), Concheta (mamãe), Agostinho, Urbano, Antônio, Luíz, Maria, Geraldo e Primo, que sou eu, – o caçula. Meus irmãos casados moravam em suas respectivas casas. Minha mãe, de repente, adoeceu. Pelo que me lembro, em seu quarto, estavam meu pai, meus irmãos e não sei precisar quem mais. Apenas me lembro de ter ouvido minha mãe, deitada na cama, dizer num tom de voz bem baixo para que cuidassem do Priminho e da Mariínha.
CAPÍTULO II
Vida de órfão.
Pág.04
Algum tempo depois, eu estava sentado em cima de um muro, ao lado do portão de entrada de minha casa, e várias pessoas entravam ou saíam, não sem antes passar a mão carinhosamente em minha cabeça. Nesse dia, ganhei do meu irmão Urbano um caminhãozinho de madeira (o primeiro e único presente que eu havia ganhado). O porquê disso tudo? Minha mãe estava sendo velada na sala de minha casa. Tenho para mim que tudo que se passava à minha volta não tinha tanta relevância quanto no tempo em que minha mãe vivia. Passados alguns meses, meu pai estava fazendo um vigamento e sofreu uma queda de cima do telhado, ferindo a cabeça e indo parar no hospital. Após alguns dias, veio também a falecer. Desse dia em diante, nossa família, tal qual uma nau sem rumo no mar revolto, tentou encontrar o caminho que deveria ser tomado, com o intuito de preservar nossa união. Todos, em comum acordo, decidiram que morar em uma pensão resolveria em parte nossos problemas. Pela idade, somente eu e minha irmã não tomamos parte da decisão. Foi então que meu irmão Orlando levou-me para morar consigo. Sua casa constituía-se de um quarto e uma sala e, fora, um banheiro coletivo. Na verdade, um cortiço. A cozinha, era dividida com sua sogra, que também morava lá.
Quando cheguei, a mulher dele acomodou-me para dormir em cima de duas cadeiras da sala, que me serviram de cama. O poder aquisitivo de meu irmão não era dos maiores, levando-se em conta que era barbeiro. A esposa de meu irmão tratava-me como se eu fosse seu empregado. Dava-me, a seu bel-prazer, às vezes, repreensões por coisas que eu não havia feito. Era tão exagerada e infundada em suas acusações, que até sua própria mãe a censurava, intercedendo a meu favor. Quando Orlando voltava do trabalho, ela era a falsidade em pessoa. Simulava brincadeira comigo, abraçava-me, enfim, mudava da água para o vinho. Ao retornar para o serviço, meu irmão nem sequer podia imaginar como eu era tratado. O tempo foi passando. Para se ver livre de mim, ela passou a inventar coisas inacreditáveis a meu respeito, para que meu irmão me internasse num orfanato ou instituto disciplinar. Caso não o fizesse, ela o ameaçava de separação.
Orlando comentou o ocorrido com meu irmão Sebastião, também casado. (Ele havia ido cortar o cabelo na barbearia na qual Orlando (Lando) trabalhava), Sebastião lhe disse que, se o problema fosse esse, ele o resolveria de imediato, levando-me para morar em sua casa. “Eu vivo com minha mulher em uma casinha de meia água na estação de XV de Novembro, mas, se for pra salvar teu casamento, levo o Priminho pra morar lá em casa até quando ele quiser”- foram suas palavras. Dito isso, Sebastião levou-me somente com a roupa que eu estava vestindo, não sem antes dizer umas verdades (que a ética me impede de citar) para a mulher de Orlando. E, assim, lá fui eu para casa de Sebastião. Após algum tempo – não sei precisar quanto –, chegamos de trem à Estação de XV de Novembro. Saltamos do trem, andamos uns 20 minutos mais ou menos e entramos num armazém para comprar alguns alimentos. O dono do armazém perguntou para Sebastião quem eu era, ao que ele respondeu prontamente que eu era seu irmão e iria levar-me pra morar com ele, dizendo: “onde come um, comem dois, comem três”. Em seguida, o dono do armazém complementou. “E quando ele crescer vai ajudá-lo nas despesas da casa, não é?”, ao que meu irmão retrucou: “Aí você se engana. Eu vou criá-lo e, quando ele for adulto, que siga o caminho que Deus achar que ele deva seguir.”
Ao chegar a sua casa, a mulher de Sebastião, de nome Noêmia, perguntou meio surpresa, o que eu estava fazendo ali. Meu irmão lhe contou o acontecido, e ela, sem esboçar nenhum gesto que desse a entender que não havia gostado, apenas disse: “Ah… é? Então, tudo bem”. Desse dia em diante, a convivência em família não poderia ser melhor. Tudo corria às mil maravilhas. Meu irmão tinha dois filhos, mas nem por isso eu era tratado com indiferença. Alguns acontecimentos dessa época até hoje me vêm à mente, de vez em quando. O primeiro diz respeito a uma vizinha do meu irmão, uma senhora morena, que, de vez em quando, vinha pedir para minha cunhada um copo de “esprito” (álcool) para acender a espiriteira e “quentá um leite”. Mal ela começava a ir embora, olhava dos dois lados, sorrateiramente; se não houvesse ninguém olhando, bebia uns goles do álcool e lá ia ela de pés descalços, a passos largos, para seu barraco de pau-a-pique coberto de sapé, de um cômodo – meia água. De vez em quando, dona Maria, a vizinha do “esprito”, ia para o mato cortar varas para cercar seu terreno e me levava junto. Eu ficava admirado com a quantidade de varas que ela conseguia carregar num feixe enorme que amarrava com cipó. Lembro-me também de fatos interessantes. Diante do nosso lote, cujo terreno era bem inclinado, havia um mato rasteiro, um misto de capim barba de bode com braquiária. Devido a essa inclinação do terreno, dona Maria conseguiu por duas vezes correr e escapar de uma cobra coral ou caninana, – não recordo bem o nome. Ela dizia que o bicho a perseguia, mas o engraçado disso tudo eram os gritos que soltava enquanto corria morro abaixo em disparada, com medo da cobra.
Outro fato interessante e inesquecível foi ter conhecido também um vizinho, que morava a uns cinco lotes de distância (uns 50 metros), um “preto velho”, estatura média, cabelos e barba comprida bem branquinha, chamado senhor João. Para melhor descrevê-lo: era exatamente aquela figura de um preto velho fumando cachimbo, tão usado em calendários. Ele colocava lenha no fogão caipira – que ele mesmo construíra, bem como sua casa de pau-a-pique coberta de sapé – e ficava de cócoras, pitando seu cachimbinho de barro, reacendendo-o de vez em quando com um graveto que tirava de seu fogão, transmitindo uma paz digna de ser perpetuada, pelo menos em minha lembrança. Aquela imagem calou tanto em minha memória, que, toda vez que vejo um preto velho, não resisto ao ímpeto de olhar seu rosto para ver se parece com o senhor João que conheci. Mas outra coisa também me marcou com relação a essa pessoa. Certa vez, ele colheu uma fruta num brejo, que existia ali nas proximidades de casa, e me deu para comer. Segundo o senhor João, essa fruta chamava-se banana do brejo. Até hoje, não encontrei ninguém que tivesse conhecimento de alguma fruta com as características daquela que ele me deu. Parecia-se com uma espiga de milho, um pouco mais grossa, com seus grãos deliciosamente doces, que a gente comia da mesma forma que se come o milho na espiga.
Marcantes, também nessa época em que eu morava com meu irmão Sebastião, foram às noites em que, devido à falta de espaço existente na casa e minha “cama” ser um colchonéte no chão de terra batida, eu acordava no meio da noite com formigas por todo meu corpo. – esse fenômeno chamava-se correção. Era um deus-nos-acuda. Meu irmão e minha cunhada jogavam cinzas do fogão em cima delas para espantá-las, enfim, lá se ia a noite inteira sem dormir. Passado algum tempo, outro irmão meu veio me visitar. Era o Antônio, a quem chamávamos carinhosamente de Toninho. Do terreiro de casa, avistei Toninho chegando lá embaixo, na estradinha que dava acesso a nossa casa. Fiquei tão contente que saí correndo, em disparada, ao seu encontro. Ele me abraçou fortemente, rodopiando comigo no seu colo, colocou-me no chão, agachou-se para ficar na minha altura. Ao mesmo tempo em que me fazia algumas perguntas, das quais não me lembro, segurava minhas mãos, apertando levemente umas saliências gordinhas que eu sempre tive em cima dos meus dedos. Nesse instante, notei que ele chorava.
Depois de conversar um bom tempo com Sebastião, Toninho levou-me para morar com ele. Lá vou eu novamente viajar no trem da Central do Brasil, com destino à capital de São Paulo. Toninho, nessa época, morava numa pensão na Rua Conselheiro Nébias, dividindo com outro pensionista um quarto onde havia duas camas. O companheiro de quarto do Toninho trabalhava à noite, então sua cama ficava vaga e eu podia ocupá-la. Mas, bastava começar a clarear o dia, eu tinha que levantar, pois era a vez do outro dormir. De manhã, meu irmão levava-me até um bar em que eu tomava uma média de café com leite e um pãozinho com manteiga para, em seguida, pegarmos um ônibus rumo ao bairro do Brás, onde Toninho trabalhava. Vez ou outra, ele me levava a uma pensão da Rua João Bohemer, no Brás, para almoçar (era um sobrado bem antigo). Não sei explicar bem ao certo, mas creio que Toninho deve ter “cortado um doze” para ficar comigo. Digo isso porque, solteiro, sem ter quem o ajudasse a cuidar de uma criança, fez das tripas coração para me cuidar.
Toninho, então, ajeitou as coisas para eu morar numa pensão, na qual já estavam morando outros quatro irmãos, pela ordem decrescente de idade, Agostinho, Urbano (tecelão), Luís (retocador de retratos), Geraldo (empregado em uma fábrica de calçados) e Mariínha, que trabalhava numa fábrica de ampolas. Ela vivia no mesmo quarto de meus irmãos, dividido apenas com uma folha de compensado, para ter um mínimo de privacidade – bem mínimo, diga-se, mas era a única alternativa encontrada naquele momento. Passei, a partir daquele instante, a morar com meus irmãos, como deveria ter morado desde quando meus pais faleceram. O único irmão solteiro que não estava morando com a gente era justamente Toninho, pois alugara um quarto juntamente com um colega, que, como ele, havia feito um curso técnico de rádio. Eles usariam o local tanto para o trabalho quanto para dormir. Meu irmão Geraldo, cujo apelido era Ladinho, trabalhava na frente da pensão onde morávamos. Ele encontrou um jeito para convencer o dono da fábrica de calçados a me empregar, alegando a necessidade premente de pagar minha pensão. Não foi nada fácil – eu tinha dez anos incompletos, e a idade mínima para trabalhar naquela época devia ser entre 12 e 14 anos. Depois de muito relutar, o dono da fábrica acabou atendendo a solicitação do meu irmão, cedendo-me o emprego. Lá fui eu, com um macacão de cor cáqui, todo contente, trabalhar de ajudante de montador de bico. Para ser mais claro, meu serviço resumia-se a amolecer a ponta dos sapatos na parte interna, que, feita com raspa de couro e cola de polvilho, endurecia, havendo necessidade de amolecê-la para que a ponta pudesse ser recoberta com couro e o sapato, modelado. Para mim, esse serviço era o mais importante de todos. Eu me sentia como o maior dos profissionais do calçado (que se danasse o fato de eu ser menor e sem carteira assinada). O principal de tudo era que eu estava trabalhando, podendo pagar meu sustento na pensão com meu trabalho.
CAPÍTULO III
Vida de pensionista
Pág.08
No primeiro contato que tive com a dona da pensão, não sei por que cargas d’água, alguém sugeriu que ela seria minha mãe, ao que imediatamente (com educação) descartei. Mesmo assim, não sei quem ainda disse: “Você não se lembra mais de sua mãe”? Educadamente, pedi que parassem com aquilo. Alguém devia ter imaginado que, como eu não tinha visto a saída do caixão de minha mãe para o enterro, eu poderia confundir e supor que outra pessoa – no caso a dona da pensão – fosse minha verdadeira mãe. Aquilo somente fez aguçar minha lembrança, que estava adormecida, fazendo-me sofrer novamente, sem nada falar pra ninguém, como era meu costume desde que fiquei sem meus pais. Como não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe, no dia seguinte, lá estava eu pronto para trabalhar. Lá pelas nove horas – hora do lanche na fábrica de calçados – meu irmão Ladinho comprava uma garrafinha de guaraná cheia de café com leite, do qual ele tomava um pouco e me dava o restante. Nessa hora, outro companheiro de serviço, que trabalhava ao meu lado, procurava ensinar-me uma maneira de amolecer os bicos dos sapatos de uma forma que não ferisse tanto minhas mãos, e ao mesmo tempo ajudasse a acelerar o trabalho do montador de bicos, que dependia do meu serviço para finalizar as pontas dos calçados. Por mais boa vontade que o Edson – nome do companheiro de serviço – tivesse, não conseguiria seu intento, por conta de minhas frágeis mãos de criança. Passados uns dez dias, mais ou menos, desde que comecei a trabalhar, minhas mãos tinham tantos riscos e cortes que mais pareciam lixa para madeira número 15. Aos sábados, após o meio expediente da fábrica, eu não via a hora de chegar ao quarto da pensão. Meu irmão Luizinho, aos sábados e domingos, não perdia uma gafieira. Como ganhava muito bem na época, tinha uma infinidade de ternos de albene – um tecido fino, caro e muito em moda naqueles tempos – e vários pares de sapatos, feitos sob encomenda, em couro de pelica e cromo alemão. Eu ganhava, toda semana, uns trocados somente para engraxá-los. Esses trocados, na realidade, eram os únicos que eu possuía, pois o salário que eu recebia da fábrica se destinava todinho para a dona da pensão, ou seja, trabalhava apenas para comer e dormir, não sobrando um centavo pra comprar um misero calção. O sapato que eu usava chamava-se alpargata roda – uma espécie de lona com solado de cordas.
Foi nesse meio tempo que passei a freqüentar o catecismo da Igreja Santo Antônio do Pari, para poder fazer minha primeira comunhão. Só que, para os meninos poderem receber a primeira comunhão naquele tempo, tinham de se vestir com terninho branco. Como não tínhamos dinheiro para comprá-lo, minha irmã Mariínha desmanchou um conjunto de roupa dela de albene branco e fez, com suas próprias mãos, meu traje. Diga-se, esnobei na cerimônia, com tudo que eu tinha direito, graças a ela. A única coisa que faltou foi uma fotografia, que todos tiraram para guardar de lembrança, menos eu, porque não podia pagar. Passados alguns dias, meu irmão Geraldo – Ladinho – inventou de seguir com um circo, – “Circo Arethuza”, deixando a pensão em que morávamos, bem como o emprego na fábrica de calçados, da qual também saí dias depois. Como eu tinha que trabalhar para pagar meu sustento, procurei e consegui outro emprego em uma esquina bem perto da pensão. Era uma distribuidora de palmito, onde meu serviço seria tirar as etiquetas velhas das latas de palmito, separar as latas que estivessem estufadas e rotular com rótulos novos as latas não estufadas. Novamente, o salário era todo destinado para pagar minha pensão.
De vez em quando, a dona da pensão, cuja religião era espírita, recebia a visita de uma irmã. Quando ela e seu marido chegavam, era mais do que certo que haveria reunião espírita. Sentavam-se ao redor da mesa de mais ou menos 12 ou 14 lugares, uma jarra de água, vários copos, toalha branca – igual a toalha de banquete – uma luz verde bem fraquinha (mal se via quem estivesse diante de si) e começavam os trabalhos. Um a um dos assentados à mesa ia sendo autorizado a receber seus guias (protetores). Passado o recebimento dos guias de todos, o presidente dava autorização para algum médium que quisesse manifestar algum outro espírito. Por essa época, meus irmãos, não sei precisar se por razões de aumento do valor da pensão ou outra razão, tinham a intenção de se mudar para outro lugar. E justamente nesse período, casualmente assisti a dita reunião espírita na casa. O primeiro médium a se manifestar foi exatamente a dona da pensão. Vou procurar descrever na íntegra como foi a manifestação:
Dona – (gemendo) “Aiiii… aiiiii… (pausa) aiiii
Presidente da mesa – “O que o irmão deseja?”
Dona – (com voz de quem está sofrendo) “Aiii… Primiiiinho…”
As pessoas que estavam do meu lado cutucaram-me dizendo para que eu pedisse bênção, pois era minha mãe que estava “baixando” na dona da pensão. Nesse instante, eu estava que não agüentava mais de vontade de rir e também de fazer xixi. Mas, como me instigavam tanto para pedir bênção, resolvi satisfazê-los, sem me convencer nem por um instante de que minha mãe tivesse “baixado”. Para começar, minha mãe não me obrigava a pedir bênção quando era viva. A voz de minha mãe e seu sotaque, com o português “italianado”, eram pra mim inconfundíveis. O diálogo, após eu pedir benção foi assim:
Dona – (com voz bem fraca) “Deus te abençoe meu fiiilhoo.”
Presidente – “Quem está se manifestando no aparelho?”
Dona – “Coocheetaaa” =
Presidente – “O que você deseja do aparelho?”
Dona – “Uma preeeceee” (voz bem fraca, quase não se ouvindo)
Presidente – “Irmãos (pausa) vamos todos, em nome de Deus, fazer uma prece para aumentar a luz dessa irmã sofredora”
Todos rezam um Pai Nosso.
Dona – “Aiii… aiiii… Primiiinhooo, vocêêê…” Ela disse tão baixo, que o presidente interferiu, repetindo o que era falado quase sussurrando.
Presidente – “A irmã está pedindo que seus irmãos não façam o que estão pretendendo fazer e continuem morando aqui junto com você” (dirigindo-se a mim).
Dona – (voz bem baixa) “Tenho que iiirrr…”
Nesse instante, começaram a me cutucar de novo, para eu pedir bênção, porque minha mãe ia “subir”. Cansado daquela encenação, obedeci, pedindo mais uma vez bênção e me sentindo como um verdadeiro bocó de mola – termo usado pelos mais velhos para se referir a pessoas tolas. Depois desse ato, ocorreu o fechamento da sessão espírita, do mesmo jeito que havia começado, com cada médium recebendo seus respectivos guias protetores, dando uma tremenda tremida de corpo e voltando a ficar em silêncio, e o presidente dando como encerrados os trabalhos daquela noite. Todos tomam um pouco de “água benzida” e entabulam uma conversa, em torno de “quem recebeu quem”, que tem início com a irmã da dona perguntando a ela:
Irmã – “Sabe quem você recebeu?”
Dona – “Não, você sabe que eu sou médium inconsciente!”
Irmã – “Você recebeu a mãe do Primo”.
Dona – (com ar de surpresa) ”você está falando sério?”
Irmã – “Estou. E você sabe o que foi que ela disse?”
Dona – “Eu nem imagino! Mas me conte!”
Irmã – “Ela falou que os irmãos do Primo querem ir embora de sua pensão.”
Dona – (com ar de indignação) “É? (pausa)… não me diga… eu não acredito… o que ela falou mais, que eu estou ansiosa para saber?”
Irmã – “Ela pediu para o Primo dizer para os irmãos dele que é pra eles não irem embora daqui, não.”
Dona – “A mãe deles disse isso? (pausa) Bem… eu não vou dar nenhum palpite. Já que foi a mãe deles quem disse, eles que decidam!”
Não contei para os meus irmãos o que se passou pura e simplesmente porque não acreditei em nada do que tinha visto e ouvido. O dia seguinte – um domingo – era especial pra mim. A Mariínha levava-me à matinê do cine “Rialto”. Lá íamos nós: eu, minha irmã e seu namoradinho, para assistir, além de um baita filme de bangue-bangue, ao seriado de Flash-Gordon no planeta Marte ou no planeta Ming. Saber que hoje em dia quase todas aquelas montagens dos filmes de Flash-Gordon transformaram-se em realidade deixa-me boquiaberto.
Por falar em boca aberta, nesse ano, no Domingo de Páscoa, minha irmã deu-me um ovo de chocolate tão grande que deu para comermos à vontade e ainda sobrou para uns dois dias, mais ou menos. Alguns dias depois, meus irmãos se mudaram. Cada qual seguiu para um lugar diferente. A pensão em que morávamos tornou-se grande demais porque somente eu e meu irmão Urbano ficamos. A dona da pensão reuniu sua família, composta pelo casal, dois filhos maiores de idade, duas moças com 18 e 20 anos e um menino apenas alguns meses mais novo do que eu, uns dez anos mais ou menos. Dessa reunião, decidiram que alugariam um sobradinho bem menor, re-alugariam um quarto nos fundos, e eu dormiria, provisoriamente, junto com o menino. Depois, meu irmão Luizinho, que havia se casado recentemente, iria me levar para morar com ele, aproveitando a oportunidade para me ensinar a profissão de afinador de retratos, reconhecida pelos fotógrafos como retocador. Nesse meio tempo, a etiquetadora de latas de palmito havia fechado. Tive de correr atrás de outro serviço, que desse o suficiente para pagar minha pensão, sem o que eu estaria na rua. Dei tanta sorte, que na Rua Silva Telles, bairro do Brás, avistei uma lojinha especializada em estampas em couro para forração de cadeiras. Pedi emprego. O dono, depois de muito pensar por causa de minha pouca idade, atendendo a um sinal favorável de sua mulher, acabou me aceitando para trabalhar. Passados 20 dias, mais ou menos, de tanto ter de me esconder da fiscalização do trabalho, o dono da loja, analisando o risco para me ter como seu empregado e receoso de fecharem sua loja, despediu-me, dizendo ser eu um de seus melhores empregados, mas a multa que levaria era muito grande e ele não podia correr esse risco. Chorei e dirigi os piores palavrões aos fiscais e suas respectivas mães, ao mesmo tempo em que eu ia andando em direção ao largo Silva Telles. Por estar com sede, entrei em uma lanchonete. Do meu lado, tomando não sei bem o que, um senhor meio calvo quis saber o porquê do meu pranto. Contei o ocorrido. Tive a maior surpresa com a reação daquele senhor. Ele praticamente fazia coro comigo, acompanhando-me nos xingamentos aos fiscais do trabalho. Em seguida, colocando sua mão sobre minha cabeça, categórico, para quem quisesse ouvir, falou alto e em bom som: “Eu não tenho medo dessa cambada de ladrões, você precisa trabalhar pra viver? Pois, a partir de agora, considere-se trabalhando novamente, na minha oficina, bem ali” – apontando com a mão – “na esquina da Rua João Theodoro com o largo Silva Telles, e quero ver quem vai se meter na minha frente pra impedir.” Naquele instante, eu passei do choro para o riso, contagiando todos os presentes, que até palmas bateram, dando-me parabéns.
O meu novo emprego era bem diversificado, porque se tratava de um misto de tipografia com corte e vinco – feitio de caixinhas de embalagens. A atenção e o respeito com que eu era tratado nesse emprego davam-me uma injeção de ânimo tão grande, que eu, agradecido, dava tudo de mim em retribuição. Uma coisa, porém, deixava-me intrigado: todos os dias após o almoço, eu via meu patrão surgir de uma portinhola embaixo do balcão em que trabalhávamos. Descobri com o passar dos dias que ali era exatamente o local em que as sobras dos cortes de papéis em geral ficavam depositadas, até serem transferidas para a reciclagem. Por serem bem limpos, os retalhos de papel ali depositados tornavam-se excelente local para uma sesta, um cochilo, explicado, portanto, que meu patrão ali descansava após o almoço. Dessas idas e vindas da pensão para o serviço, um dia encontrei-me com dois conhecidos, que residiam num apartamento diante do prédio do meu antigo emprego, na etiquetadora de latas de palmito. Eles eram uns três a quatro anos mais velhos que eu. Conversa fiada vai, conversa fiada vem; um deles convidou-me para andar de bicicleta. Disse-lhes que não só não tinha uma, como também não sabia andar de bicicleta. “Não tem problema”, disse um deles. “Nós também não temos bicicleta, nós apenas sabemos andar nelas. Portanto, como amanhã vai ser feriado, nós vamos alugar as bicicletas no Mesquita e a gente aluga também uma de mulher para você aprender a andar”. Obaaa! – eufórico – Então eu vou! Combinamos o encontro para o dia seguinte, em uma confeitaria da Rua Rodrigues dos Santos com a Rua Oriente. Quando cheguei, conforme combinado, os dois me esperavam, sentados no chão de uma das portas da citada confeitaria, na qual não havia ninguém: nem no balcão de atendimento, tampouco no caixa para recebimento. Os dois foram ao caixa, pegaram uns dois pacotinhos de moedas, enfiaram no bolso e chamaram-me para ir embora. Na minha cabeça, aquela confeitaria era do pai de algum deles. Somente mais tarde atinei que eles haviam roubado aquela padaria. Só que com tanta naturalidade, que me fez pensar tratar-se de um filho, tendo liberdade e autorização para pegar o que quisessem na hora que bem entendessem. Nunca poderia imaginar que aquilo fosse um roubo. Pior que era! Creio ter sido a euforia que me causara a possibilidade de aprender a andar de bicicleta que me fez raciocinar daquela maneira. Eles alugaram as bicicletas como haviam dito. E eu, para aprender a andar, levei tantos tombos tentando me equilibrar, que só não desisti de apreender porque eu sabia que tão cedo não teria outra chance igual àquela. Então, mesmo me quebrando todo, aproveitei até o último segundo do aluguel de bicicleta obsequiado, para tentar aprender. Após a euforia do momento, senti-me no dever de contar tudo para o dono da padaria. Mas… Como sempre existe um mas… Fiquei com receio de ser mal-interpretado e sobrar pra mim o ônus da culpa. Pois não tendo ninguém para interferir a meu favor, sem pai nem mãe – solto no mundo, pensei melhor. Mesmo contra minha vontade, deixei de delatá-los. Porque como diz o velho ditado, “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.
E assim o tempo foi passando, até que um dia meu irmão Luizinho apareceu lá na pensão e falou pra dona que iria me levar pra morar com ele. Com isso, aproveitaria para me ensinar sua profissão de afinador de retratos. Fiquei duplamente contente: primeiro, por aprender uma profissão e, segundo, por sair daquela pensão, na qual me sentia muito injustiçado em relação aos filhos da dona. Contente da vida, lá fui eu pra casa do “Zinho”, nome carinhoso pelo qual costumávamos tratar o Luís. Nessa época, fazia muito poucos meses que ele havia se casado. Sua casa se situava no bairro da Casa Verde, também na capital de São Paulo, e era composta de um quarto, cozinha e banheiro. Durante o dia todo e parte da noite, o Luiz trabalhava em seu próprio quarto de dormir porque, por trabalhar por produção, quanto mais ampliações ele retocasse (afinasse), mais dinheiro ganharia. Zinho montou seu cavalete de pintura nos pés da cama dele, onde também pôs uma prancheta improvisada – meu cavalete – para que eu pudesse aprender sua profissão. O quarto de dormir acabou se tornando o seu – nosso – ateliê. Meu irmão ouvia muito a Rádio São Paulo (enquanto trabalhávamos), que, naquela época, primava pelas novelas. Lembro-me de uma novela cujo artista principal chamava-se Ênio Rocha, considerado o maior galã aventureiro. Outra novela que também me marcou se chamava “Alameda das Acácias 29”, cujo tema é lembrado para os saudosistas: “Num galho de acácias amarelas, uma aranha fez a sua teia…” Ao relatar detalhes dessa que era considerada a emissora das novelas da capital paulista, faço-o; consciente de haver saudosistas que, como eu, tiveram o prazer de ouvir isso e as obras maravilhosas transmitidas, que ficaram gravadas em nossa memória, tais como: “As Mil e uma Noites”, por exemplo, e muitas outras, interpretadas pela nata da dramaturgia radiofônica da época. Como negar valores a atores do mais grosso calibre tais como Odair Marzano, Vilma Bentivenha e uma player de valores que enriqueciam sobremaneira a emissora das novelas “Radio São Paulo” – que saudade.
Pelo fato de haver muito pouco espaço físico em sua casa, Luizinho comprou uma cama de campanha, dessas que se usam nos campos de futebol, para tirar jogadores do campo quando eles se contundem; a qual seria armada na cozinha à noite pra eu dormir. Durante o dia, eu aprendia com meu irmão uma profissão, na qual muito cedo – modéstia à parte – tornei-me um especialista. Porém, involuntariamente, creio eu, devo ter acendido o estopim para acabar com a minha permanência na casa do meu irmão Luizinho. O fato de a cozinha da casa do meu irmão não ter forro, facilitava a entrada de um ou outro rato, a ponto deles passarem por cima do cobertor que me cobria, fazendo-me acordar assustado. Como toda criança, eu me apavorava, chutando os bichos com os pés por baixo do cobertor e gritando de medo. Com isto, talvez, eu tenha atrapalhado a vida íntima do casal – somente hoje posso entender isso. E o desfecho não podia ser diferente: sobrou pra mim! Disseram-me que meu irmão voltou lá na pensão, e, com lágrimas nos olhos, perguntou se existia vaga para eu voltar a morar lá, porque caso contrário, a mulher se separaria dele. Claro que havia vaga: quem em sã consciência rejeitaria receber por uma criança o mesmo valor que um adulto paga? Nem eu; ninguém rejeita.
Com o meu retorno à pensão, muita coisa mudou. Pra início, o lugar que eu teria de dormir seria embaixo da escada. Por se tratar de casa – sobrado – antiga, o que mais havia embaixo daquela escada era baratas. Como não tinha alternativa, encarei aquela parada, que, na pior das hipóteses, ainda era melhor do que ratos; mas – diga-se de passagem – marcou-me profundamente. Havia noites em que eu passava a maior parte procurando me safar das baratas. Uma vez, acordei com uma quase dentro de minha boca. E lá em cima, no quarto, o filho mais novo da dona da pensão, dormia tranqüilo em um quarto relativamente grande, com duas camas de solteiro e tendo espaço de sobra para acomodar outra. Quando eu tentava ver se pelo menos no chão do quarto dele eu poderia colocar um colchão? A resposta, após dialogarem, era curta e grossa. “Ele é pensionista. Se não esta satisfeito; que procure outra pensão”. Precisando do meu dinheiro e pondo banca. Quando alguma visita ou curioso perguntava quem eu era, a resposta da dona da pensão estava na ponta da língua. “Este aqui? É meu outro filho” – olhando-me com um olhar meigo – “não é mesmo”? E eu, com a cabeça baixa, mesmo sem dizer nada, com um sorriso amarelo, não desmentia. Se eu tivesse coragem e menos educação, com certeza questionaria na frente de todos a veracidade daquelas palavras. Como eu adoraria gritar alto e bom som pra quem quisesse ouvir: “Filho? Nuuuunca!” Uma mãe faz das tripas coração para proteger e privilegiar um filho, o que nunca acontecia comigo. Uma das provas evidentes e relevantes disso? Era revelada na hora das refeições. Na divisão das partes de um frango, por exemplo! Sempre as piores partes, ou seja: a asa, pé, pescoço, tinham a direção certa do meu prato. Nunca uma coxinha, sobre coxa ou coxinha da asa. Peito então?… Nem sonhar. Esse somente iria para os pratos dos seus filhos. Na divisão dos bifes na hora da refeição?… Não havia a menor dúvida que o menor tinha o endereço certo de meu prato, e sem direito a repetir. A despeito de tudo isso, eu me dava por feliz, porque muitas vezes comiam demais, e não sobrava nem unzinho pra mim. A desculpa? Era minha velha conhecida. “Gente, acho que errei na conta dos bifes, que coisa heim! Bem, coloca aí no seu prato um pouco de salada e tudo bem vai.”
CAPÍTULO IV
O desenho – profissão e arte
Pág.14
Ainda bem que existe a lei da compensação, porque meu irmão Luizinho, quando me ensinou a arte de afinador de retratos, indicou-me para trabalhar com um pintor de telas famoso, de nome Paulo Nobre, que, além de pintar telas como ninguém, também trabalhava com um agenciador de retratos, que morava em Rio Claro – interior de São Paulo – e trazia as encomendas para o senhor Paulo pintar ou retocar, cuja afinação, (corrigir imperfeições das faces), ficava sendo tarefa minha e me dava muito orgulho. O senhor Paulo gostava muito de mim. A dedicação com que ele me tratava deixava-me esquecer boa parte das mágoas e tristezas que eu tinha passado desde que fiquei sem pai e sem mãe. Enquanto ele retocava, eu, com um cavalete ligeiramente à frente dele, afinava os rostos, tirando as imperfeições deixadas devido ao processo de ampliação de uma fotografia tamanho 3x4cm para um retrato tamanho 35x50cm, por exemplo. Ele gostava muito também de música lírica. Enquanto trabalhávamos, todas as quintas-feiras, às 11 horas, ele sintonizava seu rádio na Rádio Gazeta de São Paulo, que tinha um programa somente de música erudita, com trechos de ópera, inclusive. De vez em quando, dependendo do cantor que estivesse cantando – os nomes de que me lembro são de Mário Lanza, Benamino Gilli, Hímah Sumak e Herna Sak – o ateliê em que trabalhávamos quase estourava. Devido ao fato de o senhor Paulo adorar bel canto e ser “barítono”, ele colocava o rádio no último volume e, com sua voz potentíssima, cantava junto, enquanto trabalhávamos. Isso pra mim caía como uma bênção. Além disso, o senhor Paulo, além da arte da pintura, ensinava-me impostação de voz para cantar. Quando eu cantava qualquer início de música com a voz impostada – como ele havia me ensinado –, ele vibrava tanto que chegava a bater palmas me incentivando a cantar novamente. Devido ao nosso excesso de ânimo, de vez em quando, sua esposa se deslocava dos seus afazeres para, educadamente, sem dizer uma palavra, olhar-nos, sugerindo com isso que não nos excedêssemos. Na hora do almoço, todos os dias, ela me convidava para que eu almoçasse junto com eles na mesa (aplicada, aqui, a lei da compensação). Dona Sicca – esse era o nome pelo qual seu marido carinhosamente a chamava – acomodava todos na mesa, senhor Paulo, ela própria, os três filhos, – Reinaldo, Maria Amélia e Henrique -, incluindo-me no grupo. Lembro-me de que Maria Amélia deveria ter naquela época seis ou sete anos, mais ou menos. O Reizinho – assim era chamado Reinaldo –, uns 11 anos, e o Henrique, uns 13 anos, aproximadamente. Nem por isso, eu era preterido em relação às iguarias que eram servidas no almoço. Devo admitir que grande parte da educação que até hoje possuo devo à convivência que tive com essa abençoada família – que saudade!
Para me deslocar da pensão até meu local de trabalho, todos os dias, eu percorria uma distância de uns quatro quilômetros andando a pé até chegar à Avenida Celso Garcia e pegar um bonde (Belém), que me levaria até a Rua Herval, onde ficava meu trabalho. Eu morava na Rua Silva Telles, no Brás, e trabalhava no Belenzinho. Recebia por produção. Se trabalhasse e produzisse – afinasse – bastantes retratos, ganharia razoavelmente bem. Do contrário, nada, porque eu não tinha nenhum ganho fixo. Por mais que eu me esforçasse, eram raras as semanas que eu conseguia uma retirada após descontar o dinheiro da pensão, que era sagrado. Dificilmente me sobrava dinheiro para comprar alguma roupa. Certa vez, tive de ficar deitado embaixo das cobertas, sem roupa, esperando meu calção secar no varal. Tenho até vergonha de dizer a razão, mas acontece que, num dia de sábado, instalou-se uma feira a cerca de 50 metros de casa. Eu e alguns colegas passeávamos em volta das barracas. Eu havia tomado purgante (óleo de rícino) havia pouco tempo, razão pela qual não tinha ido trabalhar. Meus coleguinhas, não sei explicar o porquê, iniciaram uma guerra de tomates podres. Quando, no meio das barracas, abaixei-me para pegar do chão um tomate para revidar, um feirante veio por trás e me deu um chute no traseiro tão violento que me desgovernou, a ponto de, ao mesmo tempo em que eu corria pra casa, ir deixando um rastro do efeito do purgante com xixi pela calçada. Como eu tinha apenas um calção, não deu outra. Enquanto não secasse da lavagem, eu não poderia levantar-me da cama.
De outra feita, perguntei a possibilidade de pagar um pouco menos pela pensão, devido ao fato de almoçar todo dia no trabalho. A intenção era que me sobrasse algum dinheiro para comprar roupas. A resposta, cortante, veio da parte de uma das filhas da dona da pensão: “Está cheio de pensões por aí. Caso não esteja contente, a porta da rua é a serventia da casa!” E ainda diziam que eu era tratado como filho – imaginem se não fosse! Mais uma vez, tinha que engolir a seco e calar a boca, indo chorar escondido, abafando meus soluços com meu travesseiro, pois não tinha quem interviesse a meu favor. Meus irmãos? Não me visitavam nem pra saber se eu estava vivo. A realidade nua e crua era que eu tinha de me virar de qualquer maneira pra sobreviver. Procurei, a partir da premissa de que somente poderia contar comigo mesmo, apegar-me com unhas e dentes ao meu serviço no sentido de aperfeiçoar o máximo possível cada retrato que vinha a minhas mãos. Minha fama de afinador espalhou-se entre os melhores retocadores, os quais queriam que eu trabalhasse para eles. Como trabalhar com o senhor Paulo Nobre estava ficando cada vez mais difícil, por eu ter de produzir mais para poder arcar com os vencimentos necessários a minha subsistência, achei por bem ensinar minha profissão a um colega. Meu objetivo seria deixá-lo em meu lugar com o senhor Paulo Nobre, pagando assim, com gratidão, aos ensinamentos advindos dele, não o deixando totalmente na mão. Depois eu encontraria alguma maneira de aumentar meus vencimentos e arcar com minhas despesas essenciais.
Aos domingos pela manhã, eu jogava bola pelo grupo infantil do Esporte Clube União Silva Telles (o vovô da várzea) e tinha um colega chamado Liberato Farina (Tato), um pouco mais velho do que eu, também jogador, mas numa categoria superior à minha – juvenil e esporte. Ciente de que ele gostaria de aprender minha profissão, convidei-o para ir comigo todos os dias trabalhar que eu lhe ensinaria meu serviço na íntegra. O senhor Paulo Nobre tinha autorizado minha atitude. Passados alguns dias, Tato estava tinindo em matéria de afinação. Daí em diante, passei a trabalhar com outro pintor de telas, também de renome, chamado Romeu Caiani, respeitadíssimo por seus trabalhos em tela. Seu ateliê situava-se na Avenida Celso Garcia, diante do Instituto Disciplinário. Sua produção de retratos policromados pintados com tinta a óleo era grande, devido à contribuição de outro pintor, senhor Hélio. Assim, eu deitava e rolava nas afinações, ganhando dinheiro como água. Passei a comprar roupas finas, terno feito sob medida em alfaiate – o branquinho –, blusões, camisas esporte e social, sapatos de cromo alemão – deixei de usar alpargatas. Enfim, dei uma guinada de 90 graus. Na pensão, como sempre, jogavam-me na cara como se fosse um xingamento a frase: “você é pensionista”; então, passei a me portar como tal. Dava somente o dinheiro que era estipulado como pensão. Antes, entregava todo o dinheiro que ganhava à mulher da pensão. Mesmo assim, nunca tive algum privilégio durante o tempo em que lá permaneci, nem ao menos na comida.
Indicaram-me também naquela época outro pintor renomado, de nome Paulo Ansaldi, que queria que eu afinasse alguns policromados, pinturas de ampliações de fotografias feitas a pincel e tinta a óleo em seu ateliê, situado num prédio de apartamentos na Avenida Ipiranga, onde também ficava sua residência. Igual aos pintores anteriores, Paulo Ansaldi era um senhor de fino trato e costumes. Como eu executava sua produção de pinturas em dois ou três dias, sobrava-me tempo suficiente para dar conta de outros trabalhos. Quando a quantidade de serviço era muito grande, eu levava as produções para fazer num cantinho da despensa na pensão, trabalhando até altas horas da noite. Com o inconveniente de ter de ouvir rotineiras reclamações: “Apaga essa luz aí! Como é? Você vai demorar muito com isso aí?” A verdade era uma só: tanto a dona da pensão como seus filhos tinham o gosto de questionar tudo que eu fizesse, pelo simples prazer de fazer valer sua autoridade. Eu tinha roupas bonitas, e o filho mais novo da dona tinha a mania de usá-las sem a minha permissão. Eu me desforrava nele mandando-o tirar imediatamente minhas roupas do corpo. Aí é que pegava “fogo na canjica”. Juntavam-se mãe e irmãs a defenderem o rapaz. Uma das irmãs dizia ao irmão: “Você não precisa dessa porcaria de roupa!” Gritava: “Joga essa m… na cama dele e nunca mais use nada dele, ouviu?” Como se não bastasse, também a mãe aproveitava o ensejo, fazendo-se de vítima. “Ai, gente, eu não agüento mais… eu sou uma desgraçada… não sei por que eu não morro!” E fingia puxar os cabelos. Fato inusitado, o filho mais velho, vendo o tamanho daquela ignorância, veio em meu favor – ao menos uma vez, ufa! “Vocês estão erradas, o Primo está coberto de razão. Ele compra as roupas com o suor do rosto dele pra poder usá-las quando precisar. Quando chega essa hora, suas roupas estão sujas, porque usaram sem sua permissão! E vocês ainda querem ter razão? Ora, façam-me o favor!” Desse dia em diante, passei a ter um aliado. O marido da dona da pensão não tinha boca para nada. Era o verdadeiro anjo em pessoa. O filho mais velho, casado, exatamente o que veio em minha defesa no caso das roupas citadas, apoiava-me em tudo. O outro filho, solteiro, um pouco mais novo, quase não opinava também, tal qual o outro filho ligeiramente mais novo. A encrenca e falsidade mesmo vinham da mãe, filhas e do filho menor, que fazia chantagem emocional, com reclamações a meu respeito, instigando-as contra mim. Usando meu jogo de cintura, eu ia engolindo um sapo aqui, desforrando de alguma maneira ali, chorando minhas tristezas e lembranças de minha família lá e levando uma vida solitária e amargurada, sem ter com quem desabafar. E dizer que eu tinha oito irmãos espalhados cada um pra um canto de São Paulo… Dói ou não dói? Meus aniversários, muitas vezes, passavam despercebidos até por mim, dada a pouca atenção que meus familiares me dispensavam.
Quando eu tinha algum dinheiro sobrando, coisa bem difícil, eu pagava uma pizza para alguns colegas, que eram quem, nessa altura dos acontecimentos, eu tinha. Festejava meu aniversário com alguns pedaços de pizza junto a eles. Pelo menos, momentaneamente, eu recebia um carinho. Mesmo não sendo de minha família, enganava meu coração e me deixava um pouco feliz. O chato de tudo isso era quando eu ficava só. Meus amigos iam cada um para sua casa e eu, sozinho, voltava a minha realidade – agüenta travesseiro. Nunca deixei ninguém perceber que eu chorava – porque homem que é homem não chora – e não iria ser eu a exceção, mas que eu chorava, chorava. Devo dizer que nessa fase de minha vida, dentre vários colegas, havia um que morava a uma quadra de minha casa, que se chamava Flávio. Ele tinha um irmão de nome Gilberto – mais novo –, regulando com minha idade, e, esporadicamente, convidava-me para nadar nas piscinas do Clube de Regatas Floresta, Antigo Clube Spéria. Alguém de sua família devia ser sócio e, graças a isso, eu tinha o privilégio de ser convidado de honra. Por causa desse obséquio, eu me esbaldava naquelas maravilhosas piscinas. De tanto beber água delas, acabei por aprender a nadar um pouquinho. Outra amizade que me traz boas lembranças foi a de Marcos Borlenghi, filho do dono de uma empresa de transportes de nome Guido Borlenghi, situada em uma esquina da Rua Cachoeira com a Rua Silva Telles, no bairro do Brás. Ele pegava um dos FNM “cara chata” – fenemê, popularmente falando – da empresa de seu pai, mandava-me subir na boléia e dávamos algumas voltas pelo bairro do Brás e Pari, deixando todos que nos viam passar boquiabertos, devido à capacidade de dirigir que o Marcos tinha, levando-se em consideração que ele era relativamente pequeno no tamanho e tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Costumeiramente, jogávamos pelada em um campinho, um terreno baldio também perto de minha casa (pensão) na Rua Silva Telles. O ponto alto disso tudo recai sobre outro colega, que me chamava bastante a atenção. Seu nome era Cadhemar, seu pai tinha uma lojinha especializada em artigos de borracha, situada na Avenida Rangel Pestana, ali nas imediações em que se situava o antigo Cine Santa Helena. Quem for dessa época irá se lembrar. Quando jogávamos as peladas, raro era o dia que uma partida fosse até o fim. Cadhemar encrencava com seus colegas de time ou com o time adversário e saía descendo o braço sem dó nem piedade em quem viesse pela frente. Fosse grande ou pequeno, ele encarava, apelando inclusive para golpes baixos, que sou impossibilitado de citar para não baixar o nível mais do que já baixei. Só sei dizer que ele acabava deixando seus próprios colegas de time receosos por causa de seus arroubos de violência. Mas, dali a pouco, lá estávamos todos juntos novamente. Na maioria das vezes, eu também participava das peladas e comumente também da pancadaria – quem podia mais chorava menos.
Certo dia, depois de uma boa briga entre amigos, os nervos acalmados, alguém sugeriu que fossemos nadar no Rio Tietê, embaixo da ponte da Vila Guilherme. Quando já estávamos chegando ao começo da ponte, vinha também chegando um furgão azul da companhia de doce Confiança, veículo que tinha somente porta em sua traseira. Um dos meninos, não lembro exatamente qual, assim que o furgão de doces começou a entrar na ponte para transpô-la, subiu com o carro em movimento, abriu a porta e foi jogando caixas de chocolates para outro, que corria ao lado, no ritmo que o furgão andava – devagar – para ir recebendo as caixas de doces jogadas. Após atravessar a ponte, o motorista do furgão nem podia imaginar que havia sido roubado nem como sumiram as caixas de doces. Após esse mau feito, como que se não houvesse acontecido nada de anormal, eles distribuíram chocolates para todos à vontade, até ao exagero. Depois de nos fartarmos de tanto comer, iniciou-se uma guerra de chocolates. Alguns, mais afoitos, atiravam-se de cima da ponte para não serem atingidos pelos chocolates. Ao mergulhar naquele rio – que já naquela época era bastante poluído – voltavam com suas cabeças lambuzadas de fezes. Um nojo de lembrança, essa. A partir desse dia, vi que não poderia mais participar daquele grupinho de amigos. Como a corda sempre estoura do lado mais fraco, adivinhem de que lado estouraria? Isso mesmo, do meu lado. Achei melhor dar um basta naquilo enquanto ainda era tempo.
Passei a freqüentar o Esporte Clube União Silva Telles, o “Vovô da Várzea”. À noite, quando eu não tinha retratos extras para afinar, dirigia-me para a sede do clube, que ficava na Rua Bresser, na frente da Rua Santa Rita, no bairro do Brás. Lá ficava eu, jogando tênis de mesa, entre um grupo de amigos bastante diferente do anterior. Aos sábados à noite e domingos à tarde, costumava haver baile para os associados, e o pé-de-valsa, aqui, estava lá de prontidão, com um terno feito pelo Branquinho, meu alfaiate, camisa para gravata de pêlo de pêssego, sapato “scatamachia”, de cromo alemão, e colônia Sonho de Pinho. Eu alugava uma mesa estratégica no salão, colocava um cuba-libre em cima da mesa e, se Deus ajudasse, já seria covardia. Lá ia eu esnobar minhas qualidades de dançarino no auge da rumba, mambo, bolero e samba. Devido à maneira que eu costumava me trajar, apelidaram-me de “Panca”. Daí em diante ninguém mais me conhecia por Primo, meu nome de nascença. Em época de festas juninas, eu participava da quadrilha, trajado a caráter, caipira. Os amigos, com os quais eu mais tinha afinidade eram o Cláudio, que trabalhava de contínuo num escritório, na Rua São Bento, no centro de São Paulo; o Milton, propagandista e entregador de amostras do laboratório Roche; Cezar, escriturário de um banco. E também Luís Merllo, que às vezes era nosso goleiro do time juvenil, outras vezes do esporte (categoria existente no clube tida como a melhor), com quem aconteceu um fato muito interessante, fora do clube. Ele era técnico de som da Rádio Nacional de São Paulo, quando suas instalações eram na Rua Sebastião Pereira (Rua Das Palmeiras), onde também trabalhava seu pai, Senhor Victorio, como porteiro.
Certo dia, o Luís convidou-me para ir com ele conhecer a rádio, que era muito famosa na época. Após ter percorrido suas instalações, levou-me á sala da técnica, onde deveria gravar uns jingles com vinhetas de chamadas, que deveriam ser utilizadas no transcorrer do dia, conforme a programação da emissora. Dentro do aquário – como era chamada a sala da técnica de som – estávamos eu e o Luís, que devia ter entre 19 e 20 anos de idade. Nessa gravação, o locutor estava lendo um roteiro, em cima do palco do auditório da Rádio Nacional. O técnico era quem gravava era justamente o Luís Merllo. Por se tratar de gravação, não poderia haver erro, fosse de leitura ou de inflexão de voz. Quando isso acontecia, o Luís tinha de voltar a fita do gravador e dar novamente o sinal para o locutor começar tudo de novo. Depois de uns cinco ou seis erros do locutor ao ler as chamadas, o Luís passou a ficar nervoso e descontrolado. Insultava tanto o locutor lá de dentro da técnica, com palavrões, que sou impedido de registrá-los aqui. O locutor por sua vez, meio sem jeito, recebendo toda aquela humilhação, vermelho que só, desculpava-se novamente e começava tudo de novo, tentando não errar pra não ser desfeiteado. Sempre tive em mente que o locutor deve ter ficado tão magoado, que forjou, daquelas humilhações todas, uma alavanca com a qual trabalhou ferrenhamente, removendo montanhas para crescer e ter o prazer de, um dia, dar o troco por toda aquela ofensa recebida. Algum tempo depois, ele se tornou o patrão – e que patrão. Quem me garante que ele não teve o prazer de mandar o Luís embora da emissora só pra se vingar? Eu faria isso. Se vocês que me lêem não adivinharam de quem se trata, eu vou dizer: o locutor em questão chama-se Sílvio Santos, Segnor Abravanel. Se eu deixar de citar um ou outro amigo nestes meus relatos, tenho a declarar que não foi em razão de importância, mas por falta de um espaço mínimo razoável para que eu pudesse explanar os pormenores dos fatos na íntegra, comentar os frutos de uma convivência salutar digna de ser reportada, que considero de suma importância, porque dada a criação que demonstraram ter recebido de seus pais. Indiretamente, esses amigos serviram-me de exemplo.
Uma vez, Milton me levou até o laboratório em que ele trabalhava e pegou um pacote de amostras, que deveriam ser entregues nos consultórios e constavam de uma relação que lhe foi entregue. Acabamos entregando juntos as amostras. De outra feita, o Cláudio convidou-me pra conhecer o serviço dele. Lá chegando, ele datilografou algumas coisas, pegou uns documentos e fomos a vários bancos, onde ele deveria sacar ou depositar algum dinheiro. Meu amigo Cezar, por sua vez, quando um ou outro baile de sábado lá no clube terminava um pouco mais tarde, convidava-me pra dormir em sua casa. Como jogávamos futebol no dia seguinte – ele no juvenil do Silva Telles e eu no infantil –, matávamos dois coelhos com uma cajadada. Outro amigão que não poderia deixar de citar é Alceu. Também foi no clube que o conheci. Ele me disse que trabalhava com seu irmão, que tinha um estúdio fotográfico, bem próximo dali, e me convidou para conhecê-lo. Aceitei o convite e fui. Eduardo, irmão de Alceu e dono do estúdio, estava sentado com a cabeça dentro de uma espécie de cabaninha, com uma luz por trás de um vidro “leitoso”. Ao ver que eu estava curioso, brincou comigo dizendo: “quer trabalhar um pouquinho?” Deu-me um lápis, com uma ponta parecida com uma agulha, já velho conhecido meu, mas Eduardo e o Alceu não sabiam disso. Peguei aquele lápis e uma lixa bem fina que estavam em cima da mesinha. Cortei uma tira, dobrei-a ao meio e enfiei a ponta do lápis dentro dela, fazendo movimentos circulares com a mão esquerda e movimentos horizontais para frente e para trás com a mão direita. Deixei aquela ponta de lápis tão fina, que eles adotaram meu sistema de afiar lápis naquele instante. Como o Eduardo havia me convidado pra trabalhar um pouquinho – se bem que de brincadeira –, eu não dispensei o convite e me sentei, colocando a cabeça naquela “cabaninha”, com um pano preto que evitava claridade dos lados. Quando olhei bem de perto, notei seis negativos de fotografias 3×4. Eduardo, rindo, voltou a dizer: “Bem, no lápis você sabe fazer ponta fina como ninguém, agora eu quero ver se você sabe retocar também.” A palavra retocar soou como música a meus ouvidos. Disso eu sabia até demais. Só que aquilo a que os fotógrafos chamavam de retocar para mim não passava de uma simples afinação que apenas se incumbe de tirar as imperfeições da face, ao passo que o trabalho que eu fazia era pintar a roupa, cabelo, fundo do retrato, etc. Então, peguei aquele lápis, afinei mais ainda sua ponta e larguei brasa. Passados alguns minutos, não sem todo instante Eduardo enfiar a cara dentro do retoquino (nome daquela cabaninha) para se certificar de que eu não estava fazendo alguma besteira que pudesse prejudicar aquele negativo, entreguei o lápis de novo para o Eduardo e lhe disse-lhe: “Isso que você chama de retocar, que você faz nos negativos 3×4, eu costumo fazer também, mas em retratos reproduzidos em tamanhos normalmente de 35×50 e com outro nome: afinação. Eu trabalho com retratos, ampliações pintadas em positivo, ao passo que você trabalha com tamanhos infinitamente menores e em negativos.” Eduardo, admirado pelo serviço que eu havia feito, segundo ele em tempo relativamente curto, ainda brincando, pegou uma caixa de papelão parecida com essas de guardar camisas, cheia de negativos de tamanhos variados, e me disse: “Você não vai embora, não. Pode sentar aqui no meu lugar e retocar pra mim, que eu vou lhe pagar um bom dinheiro.” Sem pensar duas vezes, aceitei o convite, não sem antes dar uma satisfação plausível aos pintores para os quais eu trabalhava. A partir desse dia, além de retocador, passei a exercer também as funções de fotógrafo, aliás, foi um pulo. Trabalhar com o Eduardo foi uma das boas coisas que aconteceram comigo. Primeiro, por se tratar de estar trabalhando a mais ou menos dez quarteirões da pensão em que eu morava; segundo, porque, devido à prática que eu já havia adquirido com os pintores, retocar negativos de fotografias era uma moleza.
Eu trabalhava para Eduardo, no Foto Schimidt, em regime de produção. Os negativos que eu retocava eram anotados num caderno em separado; quando chegava o fim da semana, somávamos o total dos serviços executados e eu recebia por aquilo. Daí pra frente, meu padrão de vida mudou de um salto. Animado com a facilidade que eu tinha de retocar negativos e sabendo que, quanto mais eu retocasse, mais dinheiro ganharia, procurei dar o máximo de mim, chegando a levar fotografias de reportagens de casamentos para fazer em casa em algumas noites. Sempre que eu quisesse adquirir alguma coisa, dentro de meu padrão de vida, claro, eu procurava produzir mais, para ganhar o dinheiro suficiente e coroar com êxito meu objetivo. Na medida em que eu ia comprando um sapato novo ou uma camisa nova, lá na pensão já começava aquela ladainha famosa da dona: “Aí, gente! (com as mãos na cintura) As coisas estão aumentando tanto, que esse valor de pensão não está dando, não. Mês que vem vai ter aumento.” Para complementar, uma das filhas – a mais nova – intrometia-se como se fosse a dona da verdade, dizendo: “É isso mesmo, mãe. Quem não quiser, a porta da rua é serventia da casa.” “Quem tem dinheiro pra estar comprando roupas e sapatos caros pode muito bem pagar mais.” Eu ouvia tudo calado, como sempre. Se ao menos algum irmão dos muitos que eu tinha me visitasse de vez em quando, eu teria alguém que, pelo menos, na pior das hipóteses, dissesse algo em meu favor. Argumento para rebater ou questionar, eu tinha até demais. Mas, como eu era uma criança, tinha que ver ouvir e calar. Se eu pudesse fazer valer minha voz…
O filho solteiro mais velho não dava dinheiro em casa porque estava noivando e precisava juntar dinheiro para se casar. O outro, ligeiramente mais novo, com a desculpa de estudar para tentar entrar na guarda civil, não dava também nenhum. A moça mais velha vivia mudando de emprego – balconista – e, com isso, a grana, dinheiro, que era bom, nada. A mãe disfarçava, insinuando que a filha comparecia com algum, mas não me convencia. A única que podia pôr banca, entre todos na casa, era a filha mais nova. Essa, verdade seja dita, nunca a vi desempregada. Já o menino, cuja idade regulava mais ou menos comigo, pelo que me lembro só trabalhou um pequeno período – um ano mais ou menos. O resto do tempo enrolava todo mundo. Para passear, só não usava meus sapatos, porque seus pés eram maiores. Mas minhas roupas ele usava, aliás, com a conivência de sua mãe e irmãs. E ai de mim, se reclamasse! Todos se juntavam em sua defesa. Em suma: o único que não dava mancada com dinheiro naquela pensão era eu. Mesmo assim, caso houvesse um atraso de pagamento que fosse apenas de dias, meu ouvido virava um verdadeiro penico de tanta “M” que eu ouvia. A pessoa por quem eu mais tinha respeito naquela pensão era justamente o patriarca da casa. Homem de origem humilde e de educação exemplar, sem mentiras ou falsidades. Quando todos esbravejavam, ele apenas ouvia e olhava com muita discrição, mas seu olhar dizia muito mais do que as palavras. De uma frase que ele dizia muito quando simulava uma repreensão a alguém, lembro-me com carinho e até hoje a repito: “Esse pamonha, é isso, esse pamonha não vê que está errado? Precisa ter o pamonha para o ladino viver.” Pamonha era a ofensa mais grave que ele sabia dizer. Exemplo digno de ser copiado.
Certo dia, ao voltar da rua em um horário não costumeiro, havia uma reunião na cozinha. O senhorio (dono) da casa a queria de volta por não haver acordo quanto a um aumento de aluguel. Deus escreve direito por linhas tortas. O burburinho continuava lá na cozinha e eu, escondido, ouvia tudo. Eles diziam que, na hipótese de se mudarem para Santo André, na divisão dos quartos, eu ficaria sobrando, por se tratar de ser uma casa menor que a atual. A solução – fria e calculista – partiu de uma das filhas da dona da pensão, a mais nova, que, com naturalidade, disse em alto e bom som: “É o seguinte: a casa comporta apenas nós. Portanto, o Primo é pensionista, e que se vire em outra pensão por aí.” Nesse instante, o filho mais velho interferiu: “Vocês não estão em condições de estar pondo toda essa banca, não. Só dois estão trabalhando aqui nesta casa. E o dinheiro do Primo faz falta, sim.” E prosseguiu: “Onde eu faço reuniões de minha religião, além do salão que eu uso, há três cômodos grandes com espaço de sobra para o Primo também. E digo mais: não é embaixo da escada, não. E se houver mais alguém, espaço não falta. Há também uma sala, cozinha e uma área de serviço em cima da laje, porque é um sobrado. O único inconveniente é ter somente um banheiro, que quando houver reuniões, terá de ser usado por todos. Se vocês quiserem, eu divido o aluguel com vocês até o dono do imóvel cismar de pedir para reforma.” Como o valor do aluguel era bem menor e conveniente, todos concordaram. Nesse instante, simulei que acabava de chegar. O filho mais velho deu-me umas tapinhas nas costas e sorrindo disse: “Primo meu velho: de hoje em diante você deixará de dormir embaixo da escada.” Fingi não entender e perguntei: “Por quê?” Nisso, como se não tivesse havido nada de anormal, todos disseram quase que em coro: “Porque vamos mudar para uma casa maior, o que você acha?” Sem deixar que percebessem que já sabia, respondi: “Ah, é?”, de forma displicente. “Por mim, tudo bem”, sem aparentar qualquer animação ou alegria. Ao estranharem minha reação, alguém perguntou: “Parece que você não ficou contente?” Respondi sem entusiasmo: “Claro, fiquei contente, sim, claro.” Aquele tinha sido mais um sapo que eu havia engolido.
Após trabalhar uns cinco anos mais ou menos no Foto Schimidt, surgiu uma oportunidade de fazer um teste para uma vaga de distribuidor de materiais na Estrada de Ferro Santos a Jundiaí RFFSA, em um dos depósitos de materiais da Lapa. Participei de todas as provas do processo de seleção. Passei e fui trabalhar na ferrovia. Junto comigo, havia outro participante, chamado Batista, que foi colocado para trabalhar com o Almoxarife Chefe daquela repartição, Senhor Ribeiro, em uma escrivaninha bonitinha, limpinha, com uma máquina de escrever. Nada como ter um QI (Quem Indica)… Quanto ao bobão aqui, jogaram em um depósito de materiais sem o mínimo de limpeza, perdendo de dez a zero, se comparado aos meus trabalhos anteriores, nos quais, além de prevalecer à limpeza, sempre fui respeitado em todos os pontos de vista. Logo em meu primeiro dia de serviço, no depósito de materiais onde disseram que eu devia trabalhar, o chefe, de nome Rabelo, dirigiu-me um olhar tão frio, sem ao menos me dizer bom dia, que já revelou o grau de ignorância que reinaria naquele local de trabalho. Tudo ali, para mim, era completamente estranho, portanto, eu deveria merecer um mínimo de compreensão por parte do dirigente, ensinando-me os pormenores, orientando-me para que eu pudesse exercer aquela função que me foi destinada da melhor maneira possível. Infelizmente, isso não aconteceu. Para trabalhar, eu tinha de me levantar às 4h30min, pegar um ônibus até a estação da Luz, pegar um trem, que me deixaria em meu local de trabalho, na Lapa, faltando mais ou menos cinco minutos para as sete horas da manhã. Às 11h, aglomerava-se uma fila de empregados diante da máquina de picar cartão para, em seguida, sair correndo pelos pátios atrás de esquentar suas marmitas. Como eu não podia levar marmita – porque morava em pensão – tinha exatamente uma hora para sair correndo ao lugar mais próximo do serviço e comer. Eu sempre me dirigia a uma casa que servia refeições, distante uns mil e quinhentos metros do meu serviço. Mal tinha tempo de mastigar e já voltava correndo para picar o meu cartão. Caso contrário: se tivesse atraso de um minuto em dois dias da semana, não precisava ir ao trabalho no dia seguinte porque o dia seria descontado. Como se não bastasse todo esse meu sacrifício, ainda tinha que ficar adulando todo mundo lá dentro para cada serviço que eu devesse realizar. A má vontade era geral. Parecia até que eu era um cachorro sarnento. Ninguém queria saber de me ensinar nada. O mesmo não acontecia com o outro, que entrou junto comigo. Ele recebia tratamento de chefe de departamento. Fiquei sabendo que ele era indicação do chefe do Departamento de Distribuição de Materiais. Um dia, mandaram me chamar ao telefone, avisando-me de que o marido da mulher da pensão em que eu morava havia falecido. Como eu sentia muito carinho por ele, deixei o serviço e fui para a pensão. Senti demais. Por que não dizer que chorei um bocado por aquela pessoa pela qual eu nutria muita simpatia e respeito? Quando chegou o dia do pagamento daquela merreca que eu ganhava naquela época, que equivalia nem à metade do que eu conseguia faturar retocando, descontaram-me o dia que perdi, o que eu considerei injusto, virei um bicho. Cansado de ser tratado sem o mínimo de consideração, insultei todos os falsos colegas de trabalho e pedi minha demissão sem pestanejar. A não ser pelo registro em carteira de trabalho, o que não foi mais que obrigação da empresa, aquele serviço que eu pensei ser uma alavanca para meu futuro só me fez foi desacreditar ainda mais dos que nos cerca – pelos maus pagam os bons.
Voltei a minha antiga, mas rentável profissão de retocador e fotógrafo, indo trabalhar com outro fotógrafo conhecido, de nome Bonçalo, no Foto Bonçalo, que se situava na Rua Maria Marcolina, no Brás. Confesso que nunca havia visto nenhum fotógrafo tirar tanta fotografia de casamentos como seu estúdio fotográfico, aos sábados. A partir das 16 horas, chegava a haver fila de casais aguardando para serem fotografados, terminando somente após as 23 horas. Com isso, acabei especializando-me na arrumação dos casais, especialmente nos vestidos das noivas para que a fotografia não cortasse parte de sua cauda. Nessa época, os casais costumavam se casar no civil e religioso – que saudade! O mês de maio era considerado o mês das noivas, preferido para os enlaces matrimoniais. Contente por ter voltado a ganhar, com meu esforço, o dinheiro que, naquele tempo, satisfazia todas as minhas necessidades de rapaz, eu levava minha vida repleta de amigos, sempre freqüentando o Clube Silva Telles, com seus bailes comentadíssimos naquela época. O réveillon, no fim de ano, então? Não existia igual. As orquestras que animavam os bailes eram as mais famosas. Só que, em todos os bailes de réveillon, quando todos confraternizavam, eu ficava praticamente sozinho, porque todos os meus amigos iam para suas casas para abraçar seus pais e familiares. Eu, como não tinha família, ficava sem saber a quem me dirigir no meio daquele salão, que acabava ficando ainda maior devido à minha solidão. O clube ficava somente com a orquestra, os garçons e eu. Havia mais três datas, além do réveillon, em que eu ficava muito amargurado. A primeira era o dia 14 de outubro, data de meu aniversário, no qual nunca tive um mísero bolo. Quando eu recebia uns parabéns chochos, era porque eu dizia que estava aniversariando ou, com algum dinheiro, pagava uma pizza para os amigos. Caso contrário, ninguém se lembraria ou saberia que eu existia. A segunda era o Natal, que sempre marcou minha existência, porque nunca ganhei presente. Vinha-me à mente o caminhãozinho de madeira, único brinquedo que ganhei em toda minha vida, exatamente quando minha mãe estava sendo velada na sala de minha casa. A terceira data: Dia das Mães, no qual não consigo descrever minha angústia, por nunca ter podido presenteá-la e abraçá-la, sentimento intensificado pelo incompreensível esquecimento de meus irmãos para comigo.
Passados aproximadamente dois anos trabalhando no Foto Bonçalo, em um dia de véspera de Natal, noite de ceia, o senhor Bonçalo e sua esposa pediram para que eu ficasse na casa deles à noite, para fazer companhia a uma irmã dele, porque eles iriam passar a ceia em outro lugar. Concordei e dormi em um sofá da sala. No dia seguinte, ao retornar, agradeceram-me, e sua esposa deu-me um embrulho, dizendo que era um presente para mim. Aceitei meio desconfiado, pois o papel que o envolvia era de embrulhar carne, todo amarrotado, que só com um toque se abriu, revelando uma camisa bem maior que o número que eu usava, de um tecido verde bem claro, com o colarinho todo desbotado – devia ter ficado muito tempo exposto ao sol. Tive a impressão de que ela havia me classificado como o último dos mendigos. Não acredito que ela, levando-se em conta o tempo que trabalhei com eles, não tivesse notado que as camisas que eu usava eram confeccionadas sob encomenda, feitas pelo melhor camiseiro daquela região, de nome “Camisaria Giron”. O pitoresco dessa história é que nem o filho da dona da pensão, que só usava minhas camisas, nem ao menos uma vez pegou essa. Por me sentir ofendido pela falta de consideração com a minha pessoa, sem dar satisfação, já que eu não era registrado, fui trabalhar no Foto São Bento, na rua do mesmo nome, só que em um padrão de serviço bem inferior, por se tratar de fotografias tiradas na hora para documentos. O inconveniente desse serviço era a distância. Depender de condução para trabalhar em São Paulo significava ficar no mínimo uma hora e meia ou mais no trânsito para se chegar ao destino. Por outro lado, trabalhar com o filho do dono de um foto na Rua São Bento, Zezinho, encarregado da gerência do estabelecimento, significava ter como me distrair, devido aos aprontos dele com uma ou outra garota, que, aliás, ele tinha até demais. Por intermédio do Zezinho, acabei conhecendo o Jóquei Clube de São Paulo pelo qual ele era apaixonado. Ele também me ensinou a jogar nos cavalos. Mas, como meu dinheiro não era capim, após perder em três páreos, eu parei de jogar definitivamente. Quando voltava do serviço para casa, após tomar banho ia encontrar-me com meus colegas costumeiros, em uma lanchonete que ficava na esquina da Rua Silva Telles com a Rua Rio Bonito. Lá, jogávamos bastante conversa fora, muita gozação sobrando pra todo mundo e, às vezes, um boxe que a TV Gazeta transmitia. Nessa época, havia um pequeno grupinho que queria se infiltrar entre nós. Mas, nossa turma, composta de dez a 15 pessoas, mais ou menos, não lhe dava oportunidade, porque era um grupo que já começava a fumar maconha, na linguagem deles, “puxar um fuminho”. Os colegas que iam aderindo ao vício eram isolados da nossa convivência. Pode-se dizer inclusive que o uso da maconha propriamente dita em São Paulo teve como nascedouro os bairros do Brás-Pari e Canindé, naquela época, ali, bem embaixo dos nossos olhos. Se tivesse havido uma força-tarefa direcionada, com muita seriedade e responsabilidade por parte das autoridades competentes do período, aquele princípio de “câncer” poderia facilmente ser extirpado e curado, evitando que se ramificasse e se alastrasse ao ponto incurável a que chegou. Faltou, portanto, estratégia de combatividade.
Hoje, quando vejo crianças, jovens e adultos usarem essa droga ou outra qualquer, quase não acredito. Ao mesmo tempo, sinto-me incapaz de discernir se meu sentimento é de dó ou de raiva de quem se droga. Oportunidades para experimentar maconha e outras drogas, eu tive até a exaustão. Dizer que esse ou aquele infeliz que puxa fumo, cheira cola, fuma crack, usa cocaína ou tem outros vícios, associando-se a isso inclusive roubar e matar, faz isso porque não tem ninguém por ele, é sozinho no mundo, a mãe bebe, os pais são separados, o pai bate na mãe, etc., não passa de uma desculpa esfarrapada e cabeluda, desprovida de fundamento e convencimento lógico aceitável, usada ultimamente como muleta para justificar o inaceitável, que é o vício em si. Como se não bastasse, meia dúzia de metidos a entendidos, ávidos de aparecerem na mídia, endossa essa desculpa, dando receitas mirabolantes que os pais devem seguir para que seus filhos não enveredem para o caminho do vício e criminalidade. Isso deixa as cabeças dos pais que não se enquadram nessa situação, mas com filhos que caíram nessa má vida, imaginando também ter alguma culpa. Mais razões e justificativas do que as que eu tive pra entrar no vício e criminalidade não há. Nem por isso optei pelo caminho do vício, da droga ou da marginalidade. Não me venham com essa de que fui a exceção. A não ser que vergonha na cara tenha mudado de nome. Não que eu esteja com isso querendo me auto afirmar, mas acredito que ser viciado, marginal, ladrão ou criminoso relaciona-se mais ao caráter da pessoa, que já nasce com ele. Que ninguém duvide disso nem queira inventar fórmulas milagrosas para mudá-lo, porque, além de não resolver o problema, vai criar ainda mais deveres e obrigações para os pais cumprirem, na maioria das vezes, sem poder reverter. Hoje em dia, todos trabalham. Marido e mulher, sem exceção, e, se orientados a agirem no intuito de corrigir o incorrigível, irão se desdobrar tanto, entrando de cabeça num poço totalmente sem fundo, e dando um verdadeiro furo na água – tarefa impossível. Infelizmente. Vão acabar se machucando tanto, se expondo a um ridículo tão grande, que pode muito bem ser evitado. Que me perdoem os partidários de formulas corretivas milagrosas. – pura ilusão. Digo isso porque presenciei pais serem humilhados pelos filhos na frente dos colegas, que, sem jogo de cintura suficiente, e querendo mostrar que aquilo tudo era normal, deixaram-se ser rebaixado pelos seus filhos a tal ponto, que me deu vontade de sair dando porrada – perdoem o palavreado – tanto no filho como em seus amigos, obrigando-os a pedir perdão de joelhos para os pais, numa tentativa de reverter a humilhação que haviam passado. Só não o fiz porque seria bem capaz dos pais se virarem contra mim e ainda dizerem que “não era o filho deles que estava falando, mas as drogas”, como costumam dizer os incautos. O pior de tudo isso é que é voz corrente – virou moda – atribuir a culpa dos atos praticados pelos ladrões, tarados, estupradores, assassinos, espancadores de mulheres, bem como agressões físicas, ao fato de o indivíduo estar drogado ou alcoolizado. Querem, tapando o sol com peneira, isentá-los de culpa, ou seja, inocentá-los. Pelo andar da carruagem, o destino final que querem nos fazer chegar é o seguinte: o indivíduo que pratica o delito é inocente. O réu, ou culpado, como queiram, são as drogas ou bebidas que invadiram o indivíduo, coitadinho. Portanto, se prenderem o indivíduo, estarão praticado uma injustiça muito grande, e isso não é coisa que se faça com um inocente!… Não estão vendo que “ele é uma vítima?” Devemos pedir desculpas a eles por estarem nos matando, roubando, estuprando, etc., afinal, é das “drogas”, não deles, a culpa, não é mesmo?… Para mim, isso é conversa de doido, – mas tem sua lógica.
CAPÍTULO V
Nasce o artista
Pág.28
Um dia, o Cézar, um amigo, pediu-me para acompanhá-lo até sua casa, onde iria pôr ou trocar uma gravata, não lembro exatamente. Lá chegando, mostrou-me, diante do portão de sua casa, um senhor que seria fiscal de feiras livres e também compositor, o qual se apresentou a mim muito educadamente, dizendo se chamar Américo de Campos. Nesse pouco tempo em que eu esperava o Cézar, o senhor Américo citou várias composições suas já gravadas por artistas famosos. Fiquei de queixo caído. Entre tantas composições, cantarolou uma que havia feito para os Demônios da Garoa, antes mesmo de lhes ser oferecida para gravação. Seu título: Promessa de Jacó. Um trecho da letra: “Jacó, a senhor me prometéu uma gravata e até hoje inda não déu. Faz trinta anos que isso se passar, e até hoje o gravata não chegar.” Depois disso, a composição demorou mais de três anos para ser gravada pelo grupo. Em tom de conversa, disse-lhe que eu era meio metido a compor e cantarolar também, mas nunca tinha imaginado fazê-lo profissionalmente, pois, para tanto, eu imaginava que teria que haver um padrinho muito bem relacionado no meio artístico e, no momento, eu só conhecia o Luiz Merllo, técnico da Rádio Nacional. Foi então que ele se virou pra mim e disse: “Pois então já não falta mais nada. Você acaba de conhecer o seu padrinho”. Estendendo novamente a sua mão em minha direção, repetiu: “Muito prazer, Américo de Campos, um seu criado e seu padrinho a seu dispor”. Abraçou-me, deu-me um cartão dele e me convidou a procurá-lo qualquer dia para que a gente se conhecesse melhor. Indicou-me qual era sua casa. Confesso que fiquei entusiasmadíssimo com o que eu havia acabado de presenciar. Coisas assim, eu sabia que só aconteciam em filmes. Mas não o procurei, pois imaginei que aquele momento não fora mais do que a apresentação de uma pessoa educada, dirigindo-se a outra, procurando não ferir sua susceptibilidade, nada mais. Dias depois, conversando lá no clube com o Luiz Merllo, contei-lhe o ocorrido. Ele me disse que conhecia muito o senhor Américo e sabia de algumas composições suas, feitas em época de carnaval. Também me informou que o compositor era bem-relacionado e respeitado no meio artístico. No entanto, Luiz Merllo mostrou-se surpreso por saber que eu cantava e compunha. Recomendou-me, então, um programa infantil aos domingos, às sete horas, na Rádio Nacional. Ele iria me apresentar ao Aranda e lhe dizer para que me deixasse cantar lá. Topei a idéia e, todos os domingos, cantava uma música. Como havia um contrabaixo sempre ali no palco, sem ninguém que o tocasse, às vezes, eu arriscava ajudar nos acompanhamentos dos participantes (só amadores), dando uma de contrabaixista.
Por estar sempre entrando e saindo dos bastidores da emissora, notei uma escalação de artistas, exposta em um quadro pendurado na parede de um dos corredores internos, que me chamou a atenção. Havia a relação de todos os programas e, em cada programa, os artistas selecionados. Lembro-me de alguns dos nomes: Ronald Golias, Jose Mizziara, Raquel Martins, Canarinho, Iara Lins, Luiz Pínni, Eloísa Mafalda, Borges de Barros, Simplício, Chocolate, Moacir Franco, Sílvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Barnabé escalados para participar do programa Manoel de Nóbrega, cuja apresentação era diária, diretamente do palco da Rádio Nacional de São Paulo, na Rua Sebastião Pereira. Ao lado dessa escalação, havia outra relação de chamadas com o título: Teatro Experimental – produtor: Luiz Tito. Como não vi nenhuma seleção de artistas, perguntei a um indivíduo que também estava lendo o quadro de chamadas por que não havia nome dos artistas daquele programa. Ele me respondeu que aquele era um programa para testar e ensinar iniciantes no teatro, rádio, televisão, etc. Curioso, perguntei-lhe onde e quando teriam início aqueles testes. “Dentro de uns 20 minutos, ali naquele estúdio”, respondeu-me, apontando uma sala. “Se você quiser participar, é só aguardar, como eu”. Como era exatamente isso que eu queria, já procurei saber seu nome. Ele se apresentou com o nome de Nelson Bueno. Disse-me também que estava tentando ver se ingressava na carreira de ator por meio daquele programa experimental. Era o único meio de começar a carreira de que ele tinha conhecimento. Nesse meio tempo, foram surgindo mais alguns interessados em participar do programa. Dentre eles estavam Cláudio Marzo, Rafael Loduca, Florinda, Wilson Marcos, José Oscar, Denise Dumond, etc. Dada nossa convivência quase diária, participando de uma figuração ou outra, aflorou em nós uma amizade desinteressada e de ajuda mútua, muito bonita. Poucos frutos em verdade vingaram. Mas de uma qualidade incomum, por exemplo, Cláudio Marzo, na época, o preferido do idealizador do programa e produtor Luiz Tito, que o lapidou para ser um galã. Mais tarde, Marzo brilhou como uma estrela de primeira grandeza.
Naqueles tempos, o Canal 5 e a Rádio Nacional pertenciam às Organizações Victor Costa e contavam com um elenco de produtores invejáveis. Jaci Campos, com sua famosa Câmera 1, Valter Avancini, que um dia me disse com todas as letras que eu jamais seria um ator, devido a minha voz ser muito rouca, e outra dupla de produtores, Leonardo de Castro e Roberto Silveira, que produziam um programa de muita audiência de nome “A noite é de Garbo”, além de Vicente Cesso, etc. Os galãs do Canal 5, que eu lembre, eram Edson França e Walter Foster, famoso por sua conversa de meio-dia, sem contar com o inigualável Rogério Cardoso, que até me inspirou a produzir um programa tendo-o como protagonista. Nunca, no entanto, atrevi-me a lhe contar, receoso de não ser bem recebido, escaldado que eu estava do Avancini. Como diretor de estúdio era o Régis Cardoso, não tinha pra mais ninguém. Mas como diretor de TV, o Álvaro Moia arrasava. Quem estava praticamente iniciando na carreira, na contra-regragem, naquela época era o Valentino Guzo, um amigão. Um dos fatos pitorescos que aconteceram nesse período foi uma simulação em que eu e outros figurantes, vestidos de “cossacos”, deveríamos ficar dentro de algumas tendas de lona. O produtor, Leonardo de Castro, verificando se estávamos em nossas posições, gritou em alto e bom som: “Não quero nenhum cossaco de fora.” O riso tomou conta do estúdio de tal maneira, que ele próprio desculpou-se do ocorrido, valorizando-o ainda mais. Em outra ocasião eu tinha que fingir ser um morto, velado em cima de uma mesa. No papel de viúva, Rachel Martins, que deveria debruçar-se aos prantos sobre mim. Como não houvera ensaio para a cena, quando ela caiu em cima de mim, gritando e chorando, não agüentei a palhaçada e comecei a rir. Ela, muito profissional, aproveitou o riso em meu rosto para dizer, chorando: “Coitadinho do meu marido (soluço), morreu rindo (soluço).” Aí, ninguém conseguiu segurar o riso. Tudo isso sendo levado ao ar pela TV Canal 5. Também participei de um programa transmitido aos sábados, na hora do almoço, com produção, direção e apresentação de Borges de Barros, denominado; “Seu Borges é um Caso de Polícia”. Algumas vezes, até ajudei a produzir essa atração. Tratava-se de uma delegacia em que tudo de absurdo e engraçado acontecia, com as trapalhadas que o comediante Borges de Barros fazia. Para conciliar minhas idas e vindas a fim de fazer essas atuações como “extra”, teria que haver alguém que custeasse minhas despesas essenciais, condução, alimentação, etc. Como eu não tinha ninguém por mim, eu passava no foto Schimidt, e o Eduardo separava uns negativos – os mais difíceis, claro – para eu retocar. Ele adorava isso, pois era serviço bom e garantido. Assim, eu defendia minhas despesas só com algumas horas de trabalho e sem dever favor ou obrigação a ninguém. Por essa razão, eu pouco dependia da pensão, no tocante à alimentação (que, vamos combinar, era muito ruim). Por não poder chegar exatamente nos horários pré-determinados de almoço ou jantar – em virtude dos meus afazeres diversos – quando chegava, mal havia arroz e feijão, que grudava no fundo da panela, de tão sem caldo e frio. Acabava que eu às vezes comia arroz puro – quando comia.
Em um dos intervalos de ensaios para um episódio em que eu, caracterizado de “negrinho”, encerraria a cena chorando e pedindo ajuda pro sinhô Luiz Gama, interpretado por Borges de Barros, em trajes da época da escravidão, fui até uma lanchonete ao lado do Canal-5 tomar um refrigerante e vi o compositor Jorge Costa, batendo com a mão um pandeiro e cantarolando uma marchinha de carnaval que havia acabado de compor. Quem lhe fazia coro, também batendo no balcão da lanchonete, simulando o acompanhamento de um bumbo, era nada menos que Américo de Campos. Ao me ver entrar, parou de fazer batucada no balcão e se dirigiu a mim, sorridente. Retribuí a efusividade abraçando-o e o saudando. Entusiasmado, com sua mão em meu ombro, Américo apresentou-me para todos em volta, dizendo ser meu padrinho artístico e afirmando que eu iria lançar brevemente um rock, que seria o maior sucesso. Aquilo para mim foi uma surpresa, achei que não passava de mais uma gentileza do Américo de Campos para comigo. Mas estava totalmente enganado. Falando um pouco baixo em minha direção, ele me disse. “Onde você esteve todo esse tempo?” Respondi: “Por aí, lá no Silva Telles, no Foto Schimidt, aqui no Canal 5, e você?”, ao que ele retrucou: “Arrumei um contrato para você gravar na Gravadora Todamérica e estava a sua procura todo esse tempo. Você disse que iria me procurar, mas não apareceu. Eu já estava por desistir e ir pedir desculpas à família Rozemblite, donos da Gravadora Todamérica, onde consegui um contrato pra você gravar um disco 78 RPM”. Nesse instante eu lhe disse que só não o procurei porque pensei que aquela nossa apresentação, na frente da casa do Cézar, não tivesse passado de uma gentileza de sua parte, e não seria justo ir incomodá-lo em sua casa. “Incomodar-me? Sua presença nunca será um incômodo pra mim. Sou seu padrinho artístico e procurei fazer o que um padrinho artístico deve fazer. Projetar seu afilhado. Nada melhor para isso que a gravação de um disco profissional. Portanto, o primeiro passo será a assinatura do contrato com a gravadora. Hoje mesmo eu irei até lá combinar dia e hora que você deverá comparecer para que os fotógrafos possam registrar o ato da assinatura do contrato de gravação do disco.
Marcado o dia, no início da década de 60, mais precisamente em 1961, lá estávamos nós para sacramentar o que naquele tempo era tido como que um fenômeno: um contrato com uma gravadora de discos profissional. A família Rozemblite, pai e filho, tratou-me com todas as honras que um artista de primeira grandeza poderia receber. Confesso que fiquei até constrangido com tanto carinho e atenção que recebi de sua parte. Ficou patente que todo aquele tratamento que recebi deveu-se principalmente ao prestígio que Américo de Campos tinha com a família Rozemblite. Após todo aquele espalhafato em torno da assinatura do meu contrato com a gravadora Todamérica e os senhores Rozemblite tecerem um pequeno discurso de boas vindas para mim, o filho passou-me o endereço de quem iria fazer os arranjos e acompanhamentos de meu primeiro disco. Seu nome? Nada menos que Poli. Para que se tenha uma idéia do que representava aquele nome, pura e simplesmente estava em primeiro lugar nas paradas de sucesso de todo o Brasil com um disco de doze músicas tocadas por ele com guitarra e guitarra havaiana. Todos os instrumentais que fizeram parte de suas gravações foram executados também por ele. Não havia evento sem que se ouvissem as músicas do Poli tocando de fundo. Quando cheguei a sua casa, após me identificarem para ele, Poli conduziu-me para um quarto que usava para fazer seus arranjos. Pegou um violão e pediu que eu cantasse para sentir como era a melodia para a qual ele faria os arranjos. Pedi-lhe que me desse o violão, pois eu teria mais facilidade de mostrar a melodia e o ritmo, uma vez que as composições eram de minha autoria. Repeti umas cinco ou seis vezes as músicas quando ele me disse que era o suficiente e que, por enquanto, estava dispensado. Pediu-me ainda que aguardasse uns dias, e a gravadora manteria contato comigo. Antes de ir embora, pedi a ele que tocasse pelo menos um pouquinho um dos sucessos de seu disco. Ele me pegou pela mão, levou-me até uma janela do quarto e, colocando minha cabeça para fora, disse-me: “Ouça.” Foi então que percebi que seu vizinho estava com o rádio ligado e era exatamente sua música sendo tocada, ao que ele me falou: “Não é bem melhor ouvir no rádio?” Junto com o rádio ele tocou um pouco no violão, exatamente igual. Tive a impressão de que ele estivesse dentro do rádio. Agradeci pela atenção que me foi dada, despedi-me e só fui vê-lo novamente, após uma semana, já na gravação. Poli estava sozinho num estúdio, que considerei enorme, talvez porque nunca havia entrado em um estúdio de gravação de disco profissional. Fiquei com Américo de Campos, o filho do senhor Rozemblite e o técnico de som, presenciando Poli acabar de gravar alguns toques complementares de guitarra, terminando assim o playback para que eu pudesse colocar a voz em cima. Quando terminou de gravar com sua guitarra, subiu até onde estávamos, cumprimentou-nos, virou-se para mim e disse: “Agora, o restante é com você, sucesso!”, dando-me alguns tapinhas nas costas. Quando ele foi embora, perguntei ao técnico se os outros músicos que haviam gravado meu playback tinham ido fazia muito tempo, ao que ele me respondeu que eu havia acabado de me despedir de todos ao mesmo tempo ao apertar a mão de Poli, ou seja, o músico tocou todos os instrumentos do meu playback. Desci ao estúdio. Em menos de uma hora, eu já havia colocado voz nas duas músicas, que se chamavam “Seu Delegado” e “Água de Cheiro”, ambas de minha autoria. Em comum acordo, Américo de Campos, senhor Rozemblite e o técnico decidiram que eu deveria ter como nome artístico Joe Primo. Mais uma vez concordei com meus produtores. A partir dali, a fita gravada deveria passar por mixagem, em seguida, seguir para a fábrica para prensagem. A primeira edição foi de dois mil discos, com distribuição feita pela Continental. A divulgação da produção correu praticamente por minha conta e do Américo de Campos, que acionou seus colegas de rádio ligados à técnica de som e discotecários para que meu 78 RPM fosse tocado em suas programações.
Naquela época, para ser sucesso, uma música teria que entrar na parada de sucessos era transmitida pela Rádio Nacional todos os dias às 11 horas da manhã. O locutor, de nome Hélio de Alencar, apresentador oficial, anunciava as cinco gravações mais vendidas da rede de Lojas Assumpção, espalhadas por toda São Paulo. Quando chegava a hora do primeiro colocado em vendas daquele dia, o apresentador, com uma voz inconfundível, causando o maior frisson e fazendo o maior suspense, dizia: “O programa Paraaada de Sucesso neste momento passa a apresentar (pausa, enquanto tocava ao fundo um efeito especial caracterizando um momento apoteótico) o sucessoooo do dia. O disco 78 rotações mais vendido ontem em todas as lojas Assumpção espalhadas por toda São Paulo… o disco mais vendido foi…” Nesse momento, já começava tocando minha música, e o locutor dizia: “Exatamente ele, Joe Primo, cantandoooo ‘Ela me fez de Limão’”. Em um intervalo de um mês, meu disco conseguiu ser o sucesso da Parada de Sucessos exatamente por seis dias alternadamente. Conseqüentemente, alguns discotecários de outras emissoras de rádio passaram a incluí-lo em suas programações diárias. Quando, por casualidade, eu me ouvia cantando nas rádios “Ela me fez de Limão” ou “Água de Cheiro”, minha alegria era tão grande, que me dava vontade de dizer pra quem estivesse ao meu lado naquele instante que aquele cantando na rádio era eu, era eu… Para ajudar na divulgação do disco, eu percorria quase o dia todo, dentro dos meus limites monetários, os programas de disc-jóqueis em evidência naquela época. Além de dar às vezes uma pequena entrevista e, ao mesmo tempo apresentar e tocar meu disco nos programas, acabava fazendo amizade com os apresentadores, sem os quais muitos artistas deixam de aparecer na mídia e, conseqüentemente, caem no esquecimento. Relações públicas são indispensáveis em todos os segmentos. Desses apresentadores, que muito colaboraram nesse meu primeiro lançamento no mundo fonográfico, alguns nomes foram fundamentais. Disc-jóqueis e discotecários programadores, bem como técnicos de som, alavancaram sobremaneira minha ascensão como cantor no meio artístico. Não utilizarei uma ordem de valores aqui para não cometer nenhuma injustiça. Imperdoável seria não reconhecer o apoio de Luiz Merllo, técnico de som. Ele nunca me disse nada, mas tenho certeza absoluta de que, sempre que pôde, colocou meu disco para tocar na Rádio Nacional de São Paulo. Certa vez, no Clube Silva Telles, perguntei-lhe o que achava da minha gravação. Categórico, Merllo afirmou: “O seu disco? Não vá ficar mascarado não, mas é sucesso na certa. Pode ficar escutando as rádios, principalmente a Nacional.” Pra bom entendedor…
Sebastião Ferreira da Silva, um dos discotecários e técnico também da Rádio Nacional, foi outro que também me ajudou muito. Ele tinha muitas versões de sua autoria. Nem por isso, deixava de me dar uma colher de chá, preterindo seu próprio trabalho e deixando de executar uma de suas versões gravadas por artistas famosos da época, para tocar minha música. Dividia o pão. José Russo, mais um que me auxiliou demais. Fez o primeiro elogio que recebi numa revista, a “Melodia”: “Joe Primo – protótipo do “rockista” nato, com um futuro promissor a sua frente, parabéns.” Além de escrever para esse veículo, Russo apresentava programas musicais. Divulgava minha gravação, tocando meu disco, e tecia sempre alguns comentários elogiosos. Na Rádio Record de São Paulo, Randal Juliano, famoso apresentador de televisão, principalmente de um programa que era a coqueluche de todos os sábados no horário nobre (20 horas) pela “TV Record (canal 7), de nome Astros do Disco, era também apresentador de um programa de rádio todos os dias pela manhã pela Jovem Pan”. Nesse programa, dava uma colher de chá para os estreantes no mundo fonográfico, como era o meu caso, tocando os discos e tecendo comentários. Também não posso deixar de citar o Osvaldo Audi, para quem não havia tempo quente em matéria de executar meu disco. Ele tinha um programa de lançamentos na Rádio Nove de Julho, e o assédio de artistas, que o procuravam para que pudessem tocar suas gravações, era uma coisa de louco. Mas Audi sempre dava um jeitinho de agradar a todos, encurtando as entrevistas e tocando mais músicas. Como não podia deixar de acontecer, Joe Primo, interpretando, de autoria de Américo de Campos e Teixeira Filho a música, “Ela me fez de Limão”, entrava novamente no ar. Uma vez ou outra, para variar um pouco, era tocado o verso do meu disco, ou seja, “Água de Cheiro” de Aguiar Rodrigues e Joe Primo. Nesse programa, ainda como ilustres desconhecidos, como eu, com seu disco sendo lançado e necessitando ser divulgado nas rádios, também se encontravam, às vezes: Roberto Carlos, Waldick Soriano, Carmem Silva, Demétrius, Roney Cord, Althemar Dutra, Clara Nunes, enfim, vários nomes que ficaram famosos e nasceram praticamente nessa época. Como existiam vários programas especializados em lançamentos de discos, nós nos cruzávamos quase diariamente.
Outro programa por demais concorrido em se tratando de lançamentos era o programa Barros de Alencar, na Rádio Tupi de São Paulo, no Bairro do Sumaré. Era comum a coincidência na programação das duas atrações, a de Barros de Alencar e a de Audi. Ouviam-se praticamente as mesmas músicas nos dois programas, entre os quais havia um intervalo de três horas. Como a distância entre as duas emissoras era grande, o artista recém-lançado que não tivesse carro teria que pegar dois ônibus se quisesse participar dos dois programas. O desejo de vencer suplantava a distância. O que acontecia com o artista ao ser lançado era o seguinte: quem não tivesse o suporte da gravadora para custear uma divulgação à altura da concorrência e dependesse única e exclusivamente de seu poder monetário para arcar com as despesas de locomoção e alimentação – como era o meu caso –, dificilmente conseguiria fazer seu disco tocar nas rádios o suficiente para que o público pudesse assimilar na íntegra a letra, bem como a melodia e nome do disco, a ponto de se interessar por ele e comprá-lo. Também não adiantava fazer das tripas coração, no sentido de fazer tocar seu disco nas rádios, se a gravadora não tivesse um corpo de distribuidores competentes para colocar o trabalho (disco) nas lojas, juntamente com o início da divulgação nas rádios. Aconteceu naquela época um fato inusitado. Naquele sufoco de início de carreira, comentou-se muito entre os que juntamente com Roberto Carlos batalhavam para fazer tocar seus discos em programas de lançamentos, que um dia Audi emprestou uns trocados para Roberto lanchar. Num futuro bem próximo, Roberto fez muito sucesso em vendas de discos e shows, ganhou tanto dinheiro, que tanto ele se sentia constrangido de pagar aquela dívida (por ser tão pequena) quanto Audi se sentia da mesma forma em cobrá-lo. A solução foi deixar ficar como fato pitoresco.
Voltando a Barros de Alencar, seu programa era líder de audiência no horário das 10 da manhã. Quem conseguisse encaixar seu disco na programação, na certa, seria ouvido por metade de São Paulo ou mais. Independentemente de uma vez ou outra eu não conseguir chegar no horário em que seu programa estivesse no ar, por ser ao vivo, eu ouvia minha música ser tocada. Isso só era possível por se tratar de o Barros de Alencar ser um sujeito muito humano. Com esse ato, demonstrava ter reconhecimento do esforço que fazíamos para ir ao seu programa, convicto de que, se não chegávamos a tempo, era por motivos exclusivamente financeiros. Chego a imaginar que talvez eu não tenha sabido agradecer à altura pelo favor recebido. Não custa agradecer-lhe mais uma vez através de um “Muito obrigado, Barros de Alencar!” Que você tenha sempre alguém de braços abertos para ajudá-lo se um dia precisar. Prosseguindo com a maratona da divulgação do disco, após sair do programa do Barros de Alencar, fui convidado para cantar no “Almoço com as Estrelas”, comandado por Airton e Lolita Rodrigues, diretamente da PRF-3 TV Tupi, canal 3, aos sábados, no Sumaré. Radiante de alegria pelo convite, prossegui com destino, dessa vez, à Rádio Bandeirantes, instalada na Rua Paula Souza. Lembro não ter sido tão fácil adentrar os estúdios e, principalmente, falar com Enzo de Almeida Passos, um dos reis de audiência do horário, com um programa chamado “Telefone Pedindo Bis”. Era uma alegre seqüência de sucessos musicais, em que você ouvia sua melodia predileta e podia pedir bis quantas vezes quisesse, pelo telefone, para eleger sua melodia favorita. Logo depois, às 14 horas, você a ouviria no “Atendendo ao Ouvinte”, que reprisava as músicas preferidas de todos os que telefonaram, elegendo assim a campeã do dia. Quando minha gravação era escalada para ser tocada e, automaticamente, solicitada pelos ouvintes, eu reunia alguns amigos, e dava-lhe telefonar para tentar eleger minha música como campeã do dia. Confesso que não era fácil, porque o programa não era de lançamentos, mas de sucessos. Mesmo sem ter conseguido eleger minha música como campeã, para mim foi bom demais ter participado, porque acabei conhecendo Enzo de Almeida Passos, a quem valeu muito conhecer nessa minha fase de início de carreira artística.
Trabalhando nos meios de comunicação, estando em todo e qualquer lugar onde, de uma forma ou de outra, meu disco fosse tocado, voltei à Rádio Nacional de São Paulo para participar de outro programa de lançamentos musicais intitulado “Ritmos Para a Juventude”, cujo apresentador chamava-se Antônio Aguilar. Quando entrei nos estúdios, algumas fãs que se encontravam lá dentro. Reconheceram-me e, como sempre acontece quando elas vêem um artista, deram gritinhos característicos, abraçando-me e pedindo autógrafos, o que me deixou com mais moral perante o apresentador Antônio Aguilar, que até então ainda nem tinha ouvido falar no meu nome. Radialista e jornalista experiente que era, não perdeu a oportunidade dos gritinhos das fãs para reportar aos ouvintes de seu programa, que estava no ar, o porquê daquela euforia, dizendo: “Acaba de entrar nos nossos estúdios, ele… vocês estão ouvindo ao fundo o alvoroço das fãs… está um pouco difícil para ele conseguir chegar até aqui… vocês vão ouvi-lo e reconhecê-lo, porque ele mesmo vai se apresentar.” Passou-me o microfone, e eu disse: “Quem vos fala é Joe Primo. É com muito prazer que estou aqui, para participar do programa do nosso amigo Antônio Aguilar, que gentilmente convidou-me para estar com vocês”. O apresentador, mesmo sabendo que não havia me convidado, prosseguiu: “Gosto de fazer dessas surpresas para os nossos ouvintes, e é por essa razão que nossa audiência aumenta a cada dia”, ao que eu retruquei: “Aguilar, meu amigo, você tem que ampliar seu estúdio ou fazer seu programa diretamente do auditório da Rádio Nacional para dar chances a mais fãs poderem conviver com seus artistas”. Ele prosseguiu o diálogo, dizendo: “Joe Primo, meu amigo, deixe estar que vou pensar seriamente nesse assunto.” Após terminar o programa ele me disse: “Obrigado pelo improviso, bem como a sugestão que você deu com o programa no ar. Mas, quanto a ampliar o estúdio, impossível. Fazer o programa diretamente do auditório depende de muitos fatores. O primeiro é a verba de patrocínio, sem a qual nada se faz. O segundo: se o programa for no palco, as fãs vão querer ouvir seus cantores cantarem ao vivo, o que acarretaria a necessidade de um conjunto musical especializado em ritmos próprios da juventude para acompanhar os artistas. Sem contar que os artistas que cantam rock no momento são muito poucos. Mesmo assim, é quase certo que iriam querer ganhar algum cachê para participar. Enfim, não é fácil. Além do mais, eu ainda teria de ter poder de convencimento junto ao Abreu (diretor-geral da Rádio Nacional), para conseguir a liberação do auditório e levar avante essa empreitada. Sozinho, é quase impossível.” Depois de ouvi-lo atentamente, disse-lhe: “Aguilar, se os problemas forem esses, eu tenho a solução para quase todos. Você não ouviu falar do meu conjunto de rock (disse-lhe o nome de um conjunto americano, famoso na época)? Pois esse grupo é meu. Você já ouviu falar de Bobby De Carlo? Pois ele, além de cantar solo, faz parte do meu conjunto.” Aguilar, surpreso: “Sim, mas, para fazer um programa diretamente do auditório, haja atrações capazes de preencher o tempo mínimo, que, acredito, deva ser de uma hora.” Respondi: “Deixa comigo. Eu e meu conjunto faremos pela manhã uns testes com alguns cantores ou cantoras amadores, aos quais você fará uma chamada pelo seu programa. Os que forem aprovados serão escalados para participar, intercalando-se comigo, cantando, juntamente com o Bobby De Carlo, e meu conjunto tocando. Você verá que vai haver cantores profissionais que, ao perceberem o sucesso do programa no auditório, farão questão de participar sem sequer pensar em cachê.”
Capítulo VI
A caminho do auge
Pág.36
Animado com tudo, Aguilar disse: “Joe Primo… eu vou dar o primeiro passo ainda hoje. Sabe qual? Falar do que conversamos com o Abreu. Dependendo do que ele disser, amanhã mesmo farei as chamadas para quem quiser fazer testes procurar você sábado pela manhã, e seja o que Deus quiser. Mas (olho no olho), Joe Primo, pelo amor de Deus, não me vá mancar, porque isso tudo é muito sério. Após o cartão verde do Abreu, não existe volta”. Respondi: “Pode confiar em mim. Palavra e responsabilidade eu tenho até demais.” Quando nos despedimos e comecei a entrar no corredor lateral da Rádio Nacional que dava até a saída para Rua Sebastião Pereira, as fãs novamente me assediaram. Depois de dar alguns autógrafos, bati um papinho amigo com o Barnabé, que me perguntou, entre outras coisas, o que eu achava dele arriscar fazer um LP, com histórias e piadas caipiras. Como na época o José Vasconcelos, humorista, estava com o maior sucesso de vendas de um LP de histórias e piadas diversas, dei-lhe meu parecer favorável. Barnabé, com seu jeito bem humilde de tratar a todos, aliado ao seu linguajar caipira por natureza, que lhe dava mais autenticidade, não tinha por que não dar certo com um disco de piadas. Em seguida, tomei um suco na lanchonete. Foi exatamente nesse instante que comecei a perceber a responsabilidade que havia assumido com Antônio Aguilar. Sem pestanejar, dirigi-me para o bairro do Canindé, indo direto para a casa do Bobby De Carlo, que era amigo meu havia algum tempo. Lá chegando, contei-lhe a história, o diálogo, o combinado; ele tudo ouvia sem discordar de nada. Quebrando o silêncio, Bobby virou-se pra mim, categórico: “Primão” – olhando-me espantado – “você tá louco? Cara, como é que nós vamos tocar como conjunto se não só não temos músicos suficientes, como também não temos instrumentos e tempo hábil para consegui-los?” Eu disse: “Bobby, é o seguinte. Nós só temos que arrumar um contrabaixo e um baterista. Baterista, normalmente, costuma já ter sua bateria. Eu compro uma guitarra a prestação nas Casas Manon, da Rua 24 de Maio, e você reveza comigo na guitarra, ora solando, ora acompanhando! Uma hora eu canto e você me acompanha. Outra hora você canta e eu o acompanho. Nesse instante, Bobby me interrompeu, dizendo que se lembrou de ter conhecido um carinha que morava lá pelos lados de Santana e tocava mais ou menos violão. “Quem sabe, a gente dando algumas dicas de como era a batida da guitarra para acompanhar rock, ele aprendesse, uma vez que sabia tocar samba?” Já era meio caminho andado, portanto valeria a pena arriscar. Fomos. Bobby apresentou-me a ele, José Paulo. Imediatamente, perguntei se toparia participar de um conjunto de rock para tocar todos os sábados na Rádio Nacional. Ao ouvir o convite, principalmente pelo nome da Rádio Nacional, a resposta foi a seguinte: “Rapaz… é claro que eu topo, vou realizar um sonho”. Ficou muito alegre e disse que tinha um conhecido no colégio que tocava bem bateria, só não sabia se também tocava rock, pois só o tinha visto tocar samba. Apos contatar o baterista, Jurandy, que também concordou em participar do conjunto imediatamente, marcamos um encontro para decidir como seria nossa atuação de estréia, tendo em vista não termos praticamente tempo hábil para ensaios. Nessa reunião, combinamos, dentre outras coisas, por exemplo, quem tocaria o quê. Na guitarra solo, seria Bobby De Carlo; no contrabaixo, Carlão. Na bateria, Jurandy e, na guitarra base, Joe Primo e Zé Paulo.
Pronto e definido, só faltavam duas coisas: como fazer pra eu não passar por mentiroso, tendo em vista ter dito para o Antônio Aguilar que eu tinha um conjunto de rock com o nome de um conjunto americano, muito famoso na época, que nunca poderíamos usar, conhecidíssimo que era dos aficionados em rock no mundo todo. Chamei Bobby de lado e lhe disse: “Ajude-me a encontrar um nome em inglês que, ao ser pronunciado, confunda-se o máximo possível com o do conjunto americano.” Depois de muito pensar, chegamos à conclusão de que a único nome plausível, que, ao ser pronunciado rapidamente, pudesse se confundir com o que eu havia dito para Aguilar seria The Vampire´s. Resolvido o nome do conjunto de rock recém-formado. Solucionado o problema, dirigi-me ao apresentador e o autorizei a anunciar quando quisesse o primeiro programa “Ritmos para a Juventude”, diretamente do palco do auditório da Rádio Nacional de São Paulo. Nessa semana, que antecedeu a estréia do programa, Aguilar, ao fazer as chamadas, dava tanto ênfase à atração, que o conjunto The Vampire´s antes de se apresentar em público já estava praticamente famoso. No sábado, quando seria a estréia do programa, diretamente do palco e auditório da Rádio Nacional de São Paulo, que se situava na Rua Sebastião Pereira, no bairro Santa Cecília, às sete horas da manhã, eu, Bobby De Carlo, Zé Paulo, Jurandy e Carlão, componentes do conjunto de rock The Vampire’s, lá estávamos, arregaçando as mangas e agitando os preparativos junto com Antônio Aguilar, tentando organizar da melhor maneira possível tudo o que deveria acontecer no transcorrer das apresentações em cima do palco. Toda a direção artística musical, bem como algumas encenações em cima do palco para não deixar buracos entre uma apresentação e outra, estava ao meu cargo. Aguilar, a todo instante, vinha a um dos estúdios que improvisei para fazer testes e me perguntava: “E aí, Joe Primo? Você tá confiante? Você acha que nós vamos conseguir preencher o horário cedido pela direção? Será que vai ter um bom público no auditório?” Respondia: “Tenha calma, Aguilar. Ainda falta mais de uma hora para o início do programa. Assim que eu terminar os testes com esse pessoal todo, vou ver quem tem condição de cantar hoje e intercalar uns três ou quatro deles com o Bobby De Carlo cantando “Oh, Eliana”. Em seguida, você usa seu poder de persuasão e convencimento, aproveitando a deixa dos aplausos destinados ao Bobby De Carlo, para valorizar o novato que irá se apresentar em seguida. Mais uns três novos e você anuncia Joe Primo, e eu canto. Novamente, alguns novos cantam e você chama o Carlão. Em seguida, encerramos com The Vampire´s tocando e deixando os participantes dançarem em cima do palco, enquanto você vai agradecendo a juventude presente, prometendo uma nova atração no outro sábado. Aí, tchau e benção.” Combinado, respondeu Aguilar.
Continuando com os testes. A fila de quem queria cantar era enorme, e como ao êxito desses testes estaria condicionado quase 50% do sucesso do programa de auditório, eu tinha que ser rigoroso, pelo menos dessa primeira vez. Devido ao pouco tempo de que dispunha para fazer um teste e ao mesmo tempo ensaiar o número que o novato apresentaria, resolvi que os que fossem aprovados por mim dissessem apenas o nome da música que iriam cantar. No palco, improvisaríamos uma introdução, e o novato entraria cantando. Foi a única maneira conciliatória que encontrei e, diga-se de passagem, não poderia ter sido melhor. Dentre os amadores que aprovei, havia um que até no teste contagiava a gente. Só cantava o repertório de Little Richard, com movimentos de pernas e corpo dignos de elogio, indo ao encontro, portanto, do gosto do público freqüentador de shows de rock. O nome artístico escolhido por ele era Jet Black. Ficamos eufóricos com a desenvoltura do crioulinho nos testes. Aprovei-o e chamei o próximo. O novato seguinte queria cantar músicas de Elvis Presley. Dei o tom pra ele iniciar, mas, além de começar a cantar em outro tom, totalmente diferente, ele cantava quase que praticamente pelo nariz. Os que estavam em volta riram. Pedi que todos saíssem e continuei com o rapaz. Disse pra ele cantar outra coisa que não fosse do Elvis Presley. Foi quando ele começou a cantar uma música muito lenta, em italiano (não lembro qual). Semitonava demais e não tinha nada a ver com o perfil a que o programa se propunha. Reprovei-o. Seu nome? Jerry Adriani. Em seguida, não sei bem por que, encontrava-se ao nosso lado Baby Santiago, que fiquei conhecendo naquele momento, uma figura. Cantarolou para mim um rock de sua autoria intitulado “Rock do Saci”, dizendo que o iria mostrar – ou já o havia mostrado – ao “Demétrius”, para que gravasse. Justamente nesse momento, José Rosa apontou-me uma garota que também queria participar. A ela não havia nada que desabonasse. Cantava bem, era muito bonita e até aquele exato momento era a única menina que tinha aparecido para participar. A única coisa que faltou para ela foi cantar músicas mais pauleiras, porque nossa proposta para aquele dia era de não deixar cair o ritmo. Mesmo assim, nós a escalamos. Cidinha Santos. Chegada a hora tão esperada, auditório superlotado. Aquela platéia gritava e pulava tanto que não conseguíamos sequer ouvir o que Aguilar falava. Somente ouvi-lo dizer “juventude feliz e sadia”. Só conseguimos nos entender porque começamos a nos comunicar por meio de sinais. E tome pauleira. Mais ou menos na metade do horário para o término do programa, não sei até hoje de onde veio tanta gente, superlotando o auditório, subindo no palco, dançando perto do Aguilar, enquanto cantávamos. Foi quando chegou a vez de se apresentar o rapaz autocognominado Jet Black. Ele cantava, dançava, pulava e instigava o público, gritava e corria no palco – tudo isso dentro da música – enfim, deixava o público louco com suas peripécias. Sucesso total. O Bobby De Carlo, além de estar tocando em nosso conjunto, teve de cantar mais de uma vez, porque o público pedia bis incessantemente, o mesmo acontecendo comigo, sem contar que nós tínhamos que ficar o tempo todo com os instrumentos na mão e sempre fazendo algum solo de improviso para não cair o ritmo de euforia. Quando terminou o programa tivemos que ficar mais de duas horas dentro dos estúdios da rádio até que o público dispersasse um pouco. É que também a rua em frente da Rádio Nacional estava totalmente tomada pelo público, que não conseguiu entrar no auditório, mesmo após muito tempo, ao sairmos, cansamos de tanto dar autógrafos. Quando estávamos sós, o Zé Paulo, com sua humildade, não cabia em si de contente. Disse: “Rapaz, eu nunca tinha dado autógrafo! E se ria. “Foi demais, que bacana”. Perguntou ao Jurandy: “E você? O que achou?”, ao que ele respondeu; “É, pra mim, tudo bem”, como se já estivesse acostumado. Nisso, o Carlão, todo estabanado, concluiu: “Tudo bem? Tudo ótimo, meu camarada. Nunca dei tanto autógrafo em toda minha vida!”
Na segunda-feira, após a estréia no palco e auditório da Rádio Nacional, antes que o Aguilar começasse seu programa de rádio costumeiro, eu e o Bobby De Carlo conversamos com ele para saber da repercussão do programa de sábado. O apresentador nos contou que todos da Rádio Nacional, sem exceção, adoraram, e seu diretor, senhor Abreu, havia-lhe concedido todo o horário da tarde de sábado para usar como quisesse. Eu e o Bobby ficamos contentes com a novidade. Só que pra preencher uma tarde de shows somente com “The Vampire´s” seria um pouco puxado, haveria a necessidade de arranjarmos outro conjunto de rock, o que não era fácil. Combinamos que o Aguilar faria uma chamada em seu programa; se houvesse algum conjunto de rock que quisesse participar de nosso programa no sábado à tarde, que procurasse o Joe Primo para fazer os testes preliminares. Durante a semana, no horário das 14 às 16 horas, eu passei a fazer ponto na Rádio Nacional à espera de um conjunto de rock que pudesse dividir com The Vampire’s os acompanhamentos de quem participasse cantando no programa. Apareceu um indivíduo magrelo, com um chapeuzinho daqueles que somente os jóqueis costumavam usar. Muito educadamente, chegou-se a mim dizendo que tinha um conjunto de rock e gostaria de participar, fazendo um número no programa. Indaguei qual era a formação do conjunto, quantos elementos o compunham e como eu poderia vê-los tocarem. Eufórico, disse-me que, se eu quisesse, sábado de manhã traria os músicos, bem como seus instrumentos, para fazer um teste. Concordei e não me arrependi. Eles tocavam direitinho, e eu lhes propus que, a partir daquele instante, iriam dividir a responsabilidade dos acompanhamentos com The Vampire´s. O nome do rapazinho magrelo era Aladim. O conjunto? The Jordans. Outro fato pitoresco que merece ser contado é que havia um colega nosso, que nos acompanhava ajudando a carregar instrumentos, que, sempre que podia, sentava-se na bateria do Jurandy. Mal sabia pegar nas baquetas, mas eu tinha quase certeza de que, no fundo, no fundo, torcia para o Jurandy faltar um dia, para ele poder se sentar em seu lugar. Nunca houve essa oportunidade. Mas, passado algum tempo, ele conseguiu uma oportunidade que agarrou com unhas e dentes. Nós do The Vampire´s ficamos até surpresos. Foguinho – apelido que nós lhe demos – passou a tocar bateria no conjunto The Jordans e nunca mais saiu. Toda vez que nos cruzávamos, fazíamos a maior gozação com ele, perguntando se ele já sabia rufar na caixa da bateria, bater com a baqueta no xinbau e outras brincadeiras próprias de quem estima alguém. A verdade é que Foguinho passou a ser respeitado pelas suas qualidades de ótimo baterista e companheiro.
Após alguns sábados de sucesso total do programa “Ritmos para a Juventude”, diretamente do auditório e palco da Rádio Nacional de São Paulo, durante os ensaios, antes de entrarmos no palco, havia um rapaz, que, sentado ao piano, de vez em quando, dava uns toques discretos para não atrapalhar nosso ensaio. Veio-me à cabeça: “Como o Bobby De Carlo volta e meia falta aos sábados, seria uma boa eu tentar falar com esse cara. Se ele topar tocar piano em nosso conjunto, vou matar dois coelhos com uma cajadada. Na maioria dos arranjos de rock, o piano é usado. E ele vai cobrir a falta do De Carlo.” Perguntei se ele tocava piano há muito tempo. Respondeu-me que somente arranhava um pouco. Convidei-o para tocar conosco, ele aceitou e me disse que tinha uma guitarra. Perguntei-lhe se também sabia tocá-la. Respondeu-me que sabia arranhar um pouco. Disse-lhe que, após o programa, entraríamos em mais detalhes. Por enquanto, se ele quisesse atacar de piano compondo o conjunto The Vampire’s, tinha meu consentimento. Perguntei-lhe o nome e o informei a Aguilar, para que anunciasse sua entrada como participante do conjunto. O apresentador se enrolou todo ao anunciar. Não sabia se era José Provetti ou se era Gato. Mas, usando seu jogo de cintura de disc-jóquei, consertou: “É lógico que eu estou falando do nome artístico de José Provetti, ou seja, Gato, esse novo integrante que entra para valorizar ainda mais The Vampire´s, conjunto famoso que essa juventude feliz e sadia já elegeu como o melhor grupo de rock!” Casualmente, sem saber que estava praticamente profetizando, Aguilar anunciou o cantor que já havia virado o eleito dos novatos que se apresentavam aos sábados, Jet Black, que iria cantar acompanhado por The Vampire´s, com Joe Primo na guitarra, José Paulo na guitarra base, Jurandy na bateria, Carlão no baixo e, agora, Gato no piano. Terminado o programa, novamente um sucesso crescente, nós nos dirigimos à oficina de tapeçaria de carro, situada na Rua Hanneman, ao lado da Igreja Santo Antonio do Pari, de um amigo nosso, Jhony, e seu irmão Benê, que gentilmente nos cediam o local para os ensaios. Nesse ensaio, fizemos em comum acordo uma nova ordem de entrada com referência aos instrumentos que seriam tocados, ou seja, tendo em vista a desenvoltura apresentada por Gato nas preliminares de suas exposições, dado o modo como pegava na palheta para fazer algum improviso em uma guitarra amarela dourada, extraindo um som próximo ao de uma guitarra com alavanca, que a dele não tinha, resolvi indicá-lo como guitarra solo. Todos concordaram. Fiquei com a guitarra base, o José Paulo, com o baixo, e o Jurandy continuou sendo baterista. Tudo foi feito de modo democrático, com a concordância dos integrantes. As modificações eram necessárias por conta da falta de assiduidade de Bobby de Carlo nos ensaios e apresentações do programa, devida ao diversos shows que ele tinha de cumprir, graças ao sucesso de sua gravação “Oh, Eliana”, na Odeon. Bobby me havia dito que não poderia arcar com os compromissos do conjunto, pelo menos temporariamente, dizendo-me que segurasse as pontas, provisoriamente. Em vista disso, fizemos as alterações. Mas faltava o contrabaixo. Usamos a criatividade e improvisamos: colocamos cordas de contrabaixo na guitarra do José Paulo, e pronto. Agora, dá-lhe ensaiar músicas instrumentais para deixar o prestígio adquirido com o programa crescer ainda mais. Dito e feito. Logo na primeira apresentação que fizemos tendo o Gato como solista, foi um sucesso. Dentre todos os cantores que devíamos acompanhar se encontrava, como sempre, o novato Jet Black. Durante os ensaios, dada a intimidade que tínhamos, eu brinquei com ele, dizendo: “Jet Black, você, por ser pequeno, deveria se chamar “Little Black” e deixar que nós nos chamássemos Jet Black´s”, ao que ele imediatamente respondeu: “Positivo, eu gostei, eu topo.” Eu não havia falado sério, fiquei surpreso e, como não simpatizava muito com o nome The Vampire’s, consultei Gato, Zé Paulo e Jurandy sobre o assunto. The Vampire’s passou a ser nome do passado e passamos a usar The Jet Black´s.
Meu disco com as músicas “Ela me fez de Limão” e “Água de Cheiro” havia sido lançado pela gravadora Continental e, pelo meu contrato com a gravadora Todamérica, eu teria de gravar mais um 78 RPM. Compareci ao escritório da Continental com a finalidade de ver a possibilidade de gravar com The Jet Black’s. Mas houve uma confusão muito grande, talvez de minha parte, ou, quem sabe, da parte do diretor artístico da gravadora Continental daquela época – senhor Palmeira. Ele entendeu que eu estava procurando uma música para gravar e cumprir meu contrato, que ainda faltava quase um ano e meio para expirar. Assim, pediu-me para dar uma palhinha da música “Lana”, porque havia interesse da gravadora numa versão dessa canção comigo. Em vista disso, o diretor artístico deu-me um compacto da gravação original americana, juntamente com a letra em português. Saindo da Continental, fui direto para o Foto Estúdio Ritz, na Avenida São João, bem diante dos Correios, e trabalhei até as l9 horas. Em seguida, fui para a pensão decorar a letra de Lana para gravar pela Continental. Minha intenção realmente seria gravar com o Jet Black´s, mas o diretor entendeu outra coisa. Como ele não era de muito diálogo, deixava pouca alternativa para contradizê-lo, bem como questioná-lo. Nessa mesma semana, o Enzo de Almeida Passos disse-nos que tinha, aos domingos pela manhã, diretamente da Eletroradiobrás, na Avenida Celso Garcia, uma espécie de show promocional. Se quiséssemos participar, a apresentação serviria para nos divulgar ainda mais no meio artístico. Passamos desde então a participar quase todos os domingos do programa dominical de Enzo de Almeida Passos, tanto tocando como acompanhando algum artista que lá comparecesse. O nome do Jet Black’s se espalhou em São Paulo como um rastilho de pólvora. A gravadora Chantecler se interessou em gravar conosco. Eu definitivamente não poderia assinar contrato com a Chantecler, porque meu contrato com os Rozemblite tinha ainda que ser cumprido de ambas as partes. Aceitamos uma sugestão do Jurandy e autorizamos verbalmente ao Gato que assinasse o contrato com a gravadora Chantecler em nome dos The Jet Black´s. Sacramentado o compromisso, restava-nos escolher o repertório que mais se identificasse com o gosto popular. Isso vezes doze. Porque iríamos gravar um LP, do qual em 1962 estrategicamente foi extraído um 78 RPM para facilitar o trabalho de divulgação nas emissoras de rádio, bem como sentir a aceitação do público, ficando o LP. para ser lançado em 1963. Usando nosso círculo de amizades, que já era vasto nesse momento, conseguimos arranjar alguns compactos importados (na época supervalorizados), que fomos selecionando em conjunto, pelo gosto da maioria, as músicas que deveríamos gravar. Com esse compromisso inadiável, que consumia a maior parte do meu tempo, quase não me sobravam condições de trabalhar e defender meu sustento. Diferentemente do José Paulo, do Jurandy e do Ernestico (saxofonista recém-ingresso na banda), que viviam com pais, eu não tinha ninguém para me ajudar financeiramente. Portanto, a cada compromisso que surgia, mais me apertava, a ponto de eu ficar no olho da rua se não pagasse minha pensão. Por meio da amizade do Miguel Vacaro Neto (grande amigo e incentivador nosso) com o dono da Boate Lancaster da Rua Augusta, em São Paulo, surgiu um entendimento com o Gato para tocarmos todas as noites. Ganharíamos pouco, é verdade, mas para mim já era alguma coisa, levando-se em conta ser o primeiro dinheiro que ganharíamos depois de todo meu empenho. Receber para tocar, naquela altura dos acontecimentos, era a glória para mim. Sem contar que me sobraria um pouco de tempo para sair para as rádios na divulgação de nosso 78 RPM – Stick Shift, e posteriormente o LP, que logo seria lançado pela gravadora Chantecler.
CAPÍTULO VII
A luta e o punhal pelas costas
Pág.43
Nas gravações de nosso LP, o Jurandy tinha por habito abusar do direito de fazer improvisos com a bateria, fugindo totalmente do que havia-mos combinados nos ensaios. Como se não bastasse, pedia para aumentar o volume da bateria nas gravações, a ponto de encobrir o som dos outros instrumentos, prejudicando a qualidade auditiva necessária para reconhecimento in-loco das qualidades inerentes á cada participante nas gravações. Sempre que havia alguma irregularidade em estúdio de gravação, eu procurava corrigir dentro do possível, usando meu conhecimento adquirido anteriormente. Só o fazia, com a intenção de dar qualidade profissional aos nossos discos, evitando dissociar das qualidades instrumentais do original (compacto importado) que havíamos usado nos ensaios. Este detalhe, nunca era levado em consideração pelo Jurandy bém como o Zé Paulo, por se tratar de estarem entrando pela primeira vez em estúdio de gravações profissionais. Erros de principiantes que eu considerava até normal, devendo ser perdoados e consertados. Mas… Para tanto, teria de haver mais humildade e menos soberba; qualidades inexistentes nos mesmos, que se portavam como estrelas de primeira grandeza, um tendo o outro como escudo. Em verdade, para evitar chegar às vias de fato, eu os abandonava nos estúdios e me retirava, indo para minha pensão. Mesmo sem mim, gravaram muitas músicas. Quando não, apagaram faixas que já estavam gravadas comigo e regravaram minha parte, com playback ou com um americano – que não sei de onde tiraram – usufruindo do privilégio de usar sua guitarra. Era uma guitarra original americana com alavanca – distorcedor – cobiçadíssima na época, a qual usaram em algumas gravações. Passado algum tempo mesmo tendo gravado sem mim, eles caíam na realidade do que eu representava no conjunto The Jet Black´s e me chamavam para voltar a integrar o conjunto, desculpavan-se e pediam para esquecer aquele momento impensado. Mesmo magoado eu perdoava. Mas e as gravações que fizeram sem mim? Não poderia perdoá-los nunca, porque os LPs estavam sendo prensados, significando um caminho sem volta. Foi o mesmo que sujar no prato que comeram, alijaram-me da realização dos meus sonhos, aos quais ninguém mais do que eu tinha por direito e merecimento, considerando minha luta para elevar o conjunto The Jet Black´s ao estágio profissional. Esqueceram-se, agindo tal qual Judas, que eram dois ilustres desconhecidos quando eu os encontrei e, se não fosse por mim, estariam no anonimato quem sabe até hoje. Indiretamente, senão diretamente, impediram-me de ter o prazer de carregar o LP do The Jet Black´s embaixo do braço orgulhosamente e poder dizer que “eu havia gravado”. A bem da verdade; agiram de ato pensado. Na hipótese de um sucesso de vendagem do disco, como realmente aconteceu, eu nunca poderia questionar nada, porque eles teriam como alegar que eu não havia gravado o LP ou assinado o contrato de gravação ou qualquer coisa que justificasse meus direitos. Depois de tudo, ou quase tudo, feito, eles devem ter tido um minuto de raciocínio lógico, atinando para o detalhe de que, se eles não me procurassem para se desculparem, pedindo a minha volta ao The Jet Black’s, eu bem que poderia abrir a boca no mundo radiofônico – eles sabiam que eu tinha influência de sobra – e melar a trajetória do conjunto num piscar de olhos. Por outro lado, comigo a seu lado, os programadores, que alavancaram meu 78 RPM “Ela me fez de Limão e Água de Cheiro”; tornando-o um sucesso de execução em toda São Paulo, com certeza, sentindo-se co-partícipes de minha ascensão, executariam (como executaram) e programariam (como programaram) o 78 RPM e o LP que Joe Primo gravou com seu novo conjunto de rock. Caso contrário, sensibilizar-se-iam com aquele ato infame, dando um “chá de prateleira” nos discos de lançamento de “The Jet Black’s”, encerrando de vez a falcatrua arquitetada por Jurandy e José Paulo, com a conivência de José Provetti, o Gato. Após esse episódio, que considerei uma punhalada em minhas costas, por forças das circunstâncias, imaginei que com o tempo deveríamos fazer outras gravações, nas quais eu tomaria um pouco mais de precaução para não ser novamente passado para trás. Comecei a trabalhar incansavelmente para o sucesso do nosso 78 RPM e posteriormente o LP. Todo aquele trabalho que eu havia feito para execução de meu 78 RPM solo, se repetiu religiosamente. A execução do Stick shift e The Jet nosso primeiro 78 RPM pela Gravadora Chantecler pelos discotecários e programadores de discos das emissoras, bem como os disc-jóqueis em evidência da época, acontecia quase automaticamente. Bastava eu chegar a uma emissora de rádio, pedir para tocar nosso 78, e os discotecários e programadores imediatamente colocavam nossa bolacha preta para tocar. e já perguntavam qual faixa do LP queria que eles trabalhassem, não sem antes me abraçarem com um largo sorriso nos lábios, parabenizando-me pelo lançamento do meu conjunto. Mal sabiam eles que eu não tinha participado das gravações, bem como a razão disso ter acontecido. Após algum tempo de trabalho árduo, indo de rádio em rádio pedir para tocar nosso disco, por fim começamos a entrar nas paradas de sucesso.
Todo disco lançado no mercado tem que ser divulgado por meio das rádios para que o público ouça, goste e compre. As emissoras, por sua vez, recebem a relação das músicas mais vendidas, que passam a fazer parte quase obrigatória dos programas musicais diários. Mas sempre há canções privilegiadas pelos programadores, que favorecem alguns artistas seus preferidos, às vezes, por ver que trabalham para divulgar seus discos, independentemente de estarem nas paradas dos mais vendidos. Ciente disso, eu, que já havia aprendido com meu primeiro disco – “Ela me Fez de Limão” – e “Água de Cheiro”, gravado em 78 RPM, lancei-me de corpo e alma, indo a todo e qualquer lugar em que houvesse um meio de divulgação. A resposta ao meu trabalho – até a exaustão – foi o êxito. Sucesso total. Galgamos, com isso, os primeiros lugares nas paradas de sucesso de todo o Brasil. Antes mesmo de nosso disco entrar nas paradas de sucesso, os componentes Jurandy, Zé Paulo e Gato se recusavam a participar aos sábados do programa de Antônio Aguilar, esquecendo-se de que ali foi o berço do conjunto. Aguilar, percebendo que estava ficando cada vez mais difícil contar com The Jet Black´s, lançou no seu programa umas chamadas à procura de pessoas capazes de se unir e formar um conjunto musical de rock: jovens, de boa aparência, com capacidade musical e instrumental, para testes e, caso aprovados, serem músicos efetivos do programa “Ritmos para a Juventude”. Dessa iniciativa de Aguilar nasceu The Clever’s, sobre o qual o apresentador se debruçou, fazendo-o um sucesso, dando com isso uma tapa de luvas de pelica em The Jet Black’s. Esse tapa, levei por tabela sem merecer, porque, independentemente de não ter culpa na recusa do conjunto em se apresentar no programa, eu era parte integrante, idealizador e fundador do grupo. Quanto ao The Clever’s, num futuro não muito distante, passou a se chamar Os Incríveis, galgando os degraus da fama sob a batuta de Antônio Aguilar. Estava sacramentada sua vingança silenciosa, pois só não entendeu quem não quis ou fingiu não entender, enganando a si próprio. Coincidentemente, por tocarmos das 22 h às 4 horas da manhã, todos os dias, na Boate Lancaster da Rua Augusta, conhecemos uma trupe de artistas, dos quais nos tornamos amigos, que também se tornaram famosos no decorrer dos meses. Dentre eles, Júnior, que quase sempre aparecia para dar uma canja. As músicas que ele mais cantava com nosso acompanhamento eram “Twist Chount” e “La Bamba”. Ele arrasava. Lembro-me de que, em uma de nossas apresentações, no Méier, Rio de Janeiro, estávamos tocando em cima de um coreto, em praça pública, para um público de dois ou três colégios, que foram liberados da aula exclusivamente para nos assistir. Lembro-me também que esse show estava sendo transmitido, se não me falha a memória, pela Rádio Mairink Veiga. Em determinado momento, a gravadora Columbia, que também se fazia presente, levou um cantor para se apresentar, o que não foi possível, pois, como não tinha acompanhamento – apenas um violão – o barulho ensurdecedor o impedia de ser ouvido. O divulgador da gravadora, então, sussurrou algo em meu ouvido. Mesmo quase não entendendo, chamei o Gato e lhe pedi que descobrisse em que tom o rapaz iria cantar para acompanhá-lo. O apresentador, de cujo nome não me lembro, por termos ido muito pouco ao Rio de Janeiro, elogiou-nos perante o público. Éramos de uma gravadora concorrente e nos irmanamos num show, em plena praça pública, acompanhando um cantor de outro selo. O rapaz da Columbia, que se apresentava com seu violão, chamava-se Roberto Carlos.
Júnior fazia parte da maioria de nossos shows. Nessa temporada em que fomos ao Rio de Janeiro, ele cantou conosco na Rádio Mairink Veiga do Rio. Só sei dizer que nossa apresentação, diretamente do auditório da rádio, foi um tal de pedidos de bis que não acabavam mais. Marcos Roberto, Dori Edson e Júnior – futuramente Prini Lopes – volta e meia juntavam-se a Miguel Vacaro Neto e tocavam a relembrar episódios engraçados que haviam marcado sua trajetória num passado recente. Júnior e Marcos eram tão espalhafatosos para dar gargalhadas, que contaminavam até quem não tinha ouvido a narrativa. Mesmo que ouvissem, porém, não entenderiam o motivo de tanta graça. Para eles, bastava um começar a contar o que um deles tinha aprontado para que todos caíssem na risada. Uma vez, em um dos intervalos, surpreendi o Fauze, dono da Boate Lancaster, rindo ao lado deles. Eu tinha quase certeza de que também ele ria sem entender. A primeira vez que fomos à TV Record para defender uma das nossas músicas – que estava entre os cinco compactos duplos mais vendidos – atrás dos bastidores, antes de entrarmos no ar, o apresentador do programa “Astros do Disco”, Randal Juliano, olhou pra mim e disse: “Não acredito. The Jet Black’s é seu conjunto”? Respondi afirmativamente, e ele: “Parabéns, sem luta não há vitória!” Nunca mais esqueci aquelas palavras. Quando terminou o programa, mais ou menos às 21 horas e trinta minutos, já estava praticamente estourando o horário de começarmos a tocar na Boate Lancaster. Toca a carregar aquela aparelhagem pesada, juntamente com as guitarras, contrabaixo e bateria, em tempo recorde para honrar nosso compromisso. Ao chegarmos, a boate já estava completamente lotada, aguardando-nos para começar a tocar twist, que mal havíamos acabado de lançar na Rádio América, por intermédio de Miguel Vacaro Neto. Para ensinar essa dança, Neto trouxe dois casais de americanos para uma demonstração diretamente da Rádio América de São Paulo. Bebeto e o Tatá, dois jovens amigos, aprenderam o ritmo e passaram a ensiná-lo a quem quisesse aprender. Não havia quem não quisesse, então, virou a coqueluche da Boate Lancaster, que chegou a receber os Globe Trother´s (os malabaristas do basquete), dizendo-se maravilhados com nosso desempenho, elogiando demais nosso saxofonista, o Ernestico, como ele gostava de ser chamado. Eu estava, com isso, praticamente recebendo do público que nos via e ouvia o reconhecimento pelo qual eu tanto lutei, mas que ainda não havia se revertido em lucro financeiro. Um ou outro lucro advindo da gravadora, editora, etc. nunca passou para as minhas mãos. O pouco que entrou – se é que deva ser considerado pouco – o Jurandy dizia que deixava para Gato, porque ele estava com algum atraso no pagamento de sua pensão, como se eu também não padecesse do mesmo mal. Esse episódio repetiu-se por mais vezes. O dinheiro que vinha as minhas mãos era mesmo somente quando acabávamos de tocar na Boate Lancaster, quase clareando o dia, que era entregue ao Gato, que ao mesmo tempo nos repassava a quantia devida a cada um. Dois erros meus foram fatais. O primeiro, ter agido democraticamente, permitindo que a maioria decidisse pelo conjunto. E o segundo, permitir que outro,que não eu, assinasse nossos contratos e compromissos, se bem que nunca o fiz por escrito, dando procuração a ninguém. Mas, como eu mesmo quis dar autoridade a todos indistintamente, pensando que todos fossem como eu e nunca pensariam em prejudicar alguém, errei. Nunca fui afeito a ver e querer dinheiro antes de tudo, obstinadamente. Sempre pautei pelo de direito e necessário e me ferrei. A luta empreendida por mim, ininterruptamente, desde o começo, referente à divulgação do primeiro LP do The Jet Black´s, foi praticamente solitária. Quando muito, duas ou três vezes, os outros componentes do conjunto dispuseram-se a sair comigo pelas rádios para fazer uma média com programadores e discotecários, “abnegados coniventes gratuitos,” na execução e divulgação de nosso disco. Fugiam, inclusive, a me acompanhar nas visitas às lojas de discos espalhadas pela Avenida São João, para, demonstrando humildade, solicitar ajuda aos lojistas, no sentido de incrementar a divulgação de nosso LP e fazê-lo chegar às paradas de sucesso. Graças a meu esforço, chegou, a despeito de meu trabalho nunca ter sido reconhecido.
Depois da guerra, aparecem os “valentes”. Posaram de donos da verdade, sem um pingo de reconhecimento pelo trabalho que tive durante a fase de lançamento do LP. Usufruíram à exaustão das regalias do sucesso e fizeram vistas grossas ao meu empenho junto aos meus amigos, os quais, visitei, com a cara e a coragem, somente com isso, sem ajuda financeira de quem quer que seja. Como eu não tinha carro e dependia de transporte coletivo para poder fazer uma visita aos discotecários de qualquer emissora de rádio mais próxima, eu levava de uma hora e 30 minutos a duas horas, no mínimo, para chegar meu destino. Eu encarava numa boa, apesar de até passar fome em silêncio. Sempre tive em mente que, em relações públicas, se precisarmos de ajuda, ao procurarmos alguém para solicitar um favor, devemos nos empenhar de corpo e alma. Temos de usar toda nossa criatividade e mise-en-scène no intuito de ser simpático às pessoas que procuramos para nos auxiliar. Somente depois de comprovada espontaneamente a receptividade que nos propusemos a alcançar, aí, sim, solicitamos com humildade a ajuda, como eu fazia. Esse trabalho exigiu de mim todo empenho, tempo e dedicação. Devido ao tempo despendido, ficava praticamente impossibilitado de executar meu trabalho, do qual eu dependia para, pelo menos, alimentar-me, nem que fosse mal e porcamente. Meu trabalho só não surtia o efeito desejado quando um ou outro apresentador ou programador pedia para a gente fazer uma pequena apresentação promocional sem cachê. A maioria do grupo recusava, ficando o ônus da desculpa esfarrapada sobre minhas costas. Em represália, melava a colaboração na divulgação do LP em programas de audiência comprovada. Nesse rol, entre outros, incluía-se o programa “Ritmos para a Juventude” de Antônio Aguilar. Quando começamos a ser requisitados para shows e os intercalávamos com nosso compromisso na Boate Lancaster, meu estado físico estava em frangalhos. Com freqüência eu deixava de almoçar ou jantar. Vivia de um sanduíche, quando tinha algum dinheiro. Vez ou outra, comia um homus tahine quando saíamos da Boate Lancaster, às quatro ou cinco horas da manhã, na Casa Kibe da Avenida São João. Chegava à pensão lá pelas seis horas. Subia as escadas no maior silêncio para não acordar ninguém. De tão cansado, caía na cama praticamente desmaiando. Passadas duas horas, mais ou menos, começava a ladainha da mulher da pensão, queixando-se às filhas – mas em voz bem alto para me acordar – de que tinha de arrumar a casa, eu estava dormindo, hora de dormir é de noite, blá, blá, blá… Mesmo caindo de cansado, mas não agüentando tanta lamúria, levantava-me. Tonto de sono e fome, metia um baita copo de água goela abaixo. E lá ia eu a algum programa matinal para tocar nosso disco, agora também sem ter dormido. Não era fácil. Para os amigos e todo mundo, eu nunca demonstrava que estivesse passando necessidade, porque na certa fugiriam de mim – nessa escola da vida eu era catedrático. Minha esperança era pegar um bom dinheiro de uma hora para outra nos shows que já começavam a aparecer e, de uma vez por todas, ter condições para coroar de êxito todo meu sacrifício. Eu acreditava que faltava bem pouco para isso acontecer. Era questão de tempo. Na volta de um desses shows, eu e Ernestico vimos que o ônibus que nos levaria de retorno a São Paulo estava começando a sair sem nós. Corremos em disparada para alcançá-lo, uma distância de uma quadra e meia. Nessa corrida, o esforço que empreguei para alcançar o ônibus foi tanto, que, dado o grau de fraqueza em que me encontrava, acometeu-me uma crise de tosse seca muito violenta. Ao cuspir, aquilo que julguei ser expectoração era nada menos que quase sangue puro. Contei o ocorrido para o pessoal do conjunto. Gato disse que podia ter sido alguma veiazinha do nariz, e isso quase sempre acontecia com ele, eu que não esquentasse a cabeça, não.
CAPÍTULO VIII
No hospital – o começo do fim
Pág.48
No dia seguinte, nos escritórios da Gravadora Chantecler, o senhor Jairo, diretor artístico na época, Oswaldo Rodrigues, cantor de músicas populares, campeão de shows, juntamente com Gato, fizeram uma reunião comigo. O senhor Jairo e Gato apresentaram-me a Oswaldo Rodrigues, que, segundo eles, queria me ajudar, em razão dele já ter passado por essa enfermidade. Rodrigues me disse não passar de uma gripezinha um pouco mais forte, cuja cura somente se obtém por meio de uma boa alimentação, uma injeção de streptomicina, diariamente, repouso absoluto e nenhuma preocupação com nada que exista na face da terra. Sentindo-me no fundo do poço, mal conseguindo me expressar, questionei o senhor Jairo. “De que maneira, se é agora que vamos poder usufruir de todo esse trabalho que tive para o sucesso do Jet Black’s?” Ele, Gato e Oswaldo me fizeram sentar. O senhor Jairo disse: “Joe Primo, nós estamos aqui para ajudá-lo. Oswaldo disse-nos, a mim e ao Gato, que ele tem muita influência com o prefeito Cintra, de Campos de Jordão, e você, por intermédio dele, vai receber o melhor tratamento do mundo num sanatório particular, de nome Nossa Senhora das Mercês. De quatro a seis meses de tratamento, com repouso absoluto, você poderá voltar. Quanto a mim e ao Gato, aqui do meu lado, você pode confiar. Tudo que for vendido em discos dos Jet Black’s pela gravadora Chantecler, na sua ausência, sua parte e tudo que lhe pertencer de direito estará à sua disposição. Você agora vai tirar umas férias, sem a preocupação de ter que fazer shows. Seus companheiros do conjunto farão a sua parte, provisoriamente, e a sua parte dos cachês ficará guardada até quando você bem entender. Você não confia em mim? O importante no momento é sua saúde.” Ouvi atentamente a tudo sem questionar, nem podia fazê-lo, dada a gentileza da parte dos três, que se propuseram a me ajudar. Passou repentinamente pela minha cabeça – creio que por conta da fragilidade causada pela doença – que se eu viesse a falecer nunca ninguém iria ver nem um centavo daquilo pelo qual eu lutei até a exaustão. Pensei em redigir um documento e fazer constar tudo aquilo que me foi dito! Mas, se o fizesse, seria o mesmo que desacreditar em quem havia solucionado o maior problema que eu tinha naquele momento, meu tratamento.
Como nunca fui registrado em meus empregos, não tinha direito de me tratar em hospital nenhum. Teria que ser internado como indigente e ainda levantar as mãos para o céu. Mas, graças a Deus, aquela figura abençoada do Waldemar Roberto e o prefeito Cintra, de Campos de Jordão, juntamente com o senhor Jairo e Gato intercederam em meu favor. Exigir um documento comprobatório deles? Eu poderia pôr tudo a perder. Foi então que pedi ao senhor Jairo para me deixar gravar uma música cantando, que eu ainda iria compor e somente seria lançada se eu morresse. Todos estranharam meu pedido. Expliquei: como somos mortais, ninguém sabe o que nos reserva o dia de amanhã. Caso aconteça o pior, o lançamento do disco será um sucesso de vendas, pois significaria uma pré-despedida minha. O lucro, na possibilidade de vir a ser realmente sucesso, bem como os lucros advindos do The Jet Black’s, serão entregues a um irmão meu, o que deixarei explícito na composição que gravarei. O senhor Jairo deu-me sinal verde para gravar. Fiz a composição, tanto letra como a música, uma guarânia e a gravei. Confesso que fiz uma letra bem “mundo cão”. Mas, no mesmo período, um cantor havia feito sucesso enfocando a desgraça de sua mãe, que havia morrido queimada. Minha letra em comparação a essa acabou sendo água com açúcar. Waldemar Roberto encaminhou-me para Campos de Jordão. A assessoria do prefeito Cintra prontamente se incumbiu do restante, ou seja, apresentou-me para a madre superiora, que dirigia o sanatório, especializado em tratamento do pulmão. Também fui apresentado a outras irmãs de caridade subordinadas a ela e a um médico alemão, especialista em doenças do pulmão, de nome doutor Shuts. Após assinar alguns papéis, coisa de uns dois minutos, as irmãs de caridade pegaram uma pequena mochila que eu havia levado, com muito pouca coisa, conforme orientação que me foi passada por Waldemar Roberto. O tratamento que recebi logo na entrada do Hospital Nossa Senhora das Mercês suplantou todas as minhas expectativas. Eu me sentia sendo encaminhado para os aposentos de um hotel cinco estrelas. Havia imaginado que seria uma espécie de pavilhão com várias divisões internas para comportar os pacientes, mas me enganei redondamente. A começar pela enfermaria, com apenas duas camas de ferro pintadas de branco, onde as freiras me acomodaram, sempre com um sorriso nos lábios, detalhe importante em se tratando de trato com pacientes. A limpeza e a ordem imperavam. O local no qual o sanatório foi construído, de tão alto, às vezes era envolvido por nuvens, de tal maneira que da porta pra fora não se reconhecia uma pessoa a quatro ou cinco metros de distância. Quem não conhecesse o hospital e por ali passasse pensaria que a mansão de dois andares, com aqueles exageros de varandas em volta – tanto da parte térrea como da parte aérea – seria obra de algum ricaço que a tivesse construído para seu deleite e ostentação. Nas varandas que circundavam a mansão recém-construída havia uma infinidade daquelas cadeiras-cama de madeira pintadas de branco, dessas que normalmente se usam na beira das piscinas, próprias para tomar banho de sol. Ao me referir dessa forma a um sanatório, principalmente no qual eu estava sendo internado, hão de pensar que eu estava feliz da vida, adorando os mínimos detalhes. Ledo engano. Enquanto meus olhos vislumbravam a beleza a minha volta, meu coração se despedaçava a cada lembrança do mal que me havia acometido, principalmente, pela dúvida que eu tinha quanto a sair dali com saúde. Tudo à minha volta parecia pertencer a um sonho ou pesadelo, do qual eu acordaria de uma hora para outra. Pelo menos, era o que eu desejava.
Após a internação e um bom banho, uma das irmãs acompanhou-me até o andar superior para exames mais minuciosos. Doutor Shuts, depois de me examinar, disse que meu estado não era grave – por estar praticamente no começo – e entre quatro e seis meses de tratamento, boa alimentação, repouso e uma injeção diária de estreptomicina, juntamente com uma drágea de hidrazida, seriam o suficiente pra me curar definitivamente. Desci à enfermaria que iria me hospedar até meu restabelecimento. A freira acomodou-me na cama e me disse para permanecer deitado o mais tempo que pudesse, com o objetivo de acelerar o tratamento. Se eu ficasse me movimentando muito, haveria a contração de todos os nervos existentes em meu corpo e, ao contrário de fechar o machucado, ele iria se expandir. Em seguida, apontou-me, afixada a uma parede, uma relação de regras do hospital, tais como horários de café, almoço, sesta, lanche, circulação, repouso, jantar, pequena circulação e hora do silêncio. Toda a alimentação seria servida no refeitório, obedecendo-se aos horários constantes daquela lista. Não era permitido a ninguém circular pelos corredores nem se deitar nas varandas fora de horários pré-estabelecidos. O silêncio reinante naquele recinto me remetia a uma reflexão sobre tudo de bom e ruim que eu já havia vivido até aqueles dias. Deitado, eu admirava as araucárias, imponentes, com aquelas folhas verdes em formato de um buquê em cada um dos galhos, eretos para o céu, parecendo querer mostrar que todo o rigor do frio não impediria, vez ou outra, entre uma ou outra brecha do nevoeiro, que alguém pudesse vê-la, admirá-la e enaltecê-la, como eu silenciosamente o fazia, em meu leito hospitalar. Os dias iam passando muito lentamente. Não havia sequer um rádio, e eu estava acostumado com o rock a todo volume. Era difícil me acostumar com aquele silêncio total. Meus pensamentos concentravam-se quase totalmente no que poderiam estar fazendo The Jet Black´s sem mim. Será que estão pintando mais shows? Será que irão guardar minha parte como foi combinado? E a venda dos discos? Será que não foi prejudicada com a notícia do meu estado de saúde? E o serviço de divulgação, quem irá fazer? Será que meus amigos discotecários e programadores vão se esquecer de mim e deixar de tocar nossos discos? De tanto pensar, tive a feliz idéia de escrever uma carta para cada um, dizendo que não tinha me esquecido de nenhum deles, mandando um grande abraço, só sentindo não poder estar lá pessoalmente para fazê-lo. Dizia também que não via a hora de voltar, rever os amigos e fazer aquelas gozações que estávamos acostumados a fazer. Mas, como não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe (imitando bêbado), “oh, oh, toca nosso disco, aí, pombas, hic, não vai dar pra trás, hein!” Encerrando, eu pedia que procurasse, como meu amigo que era, fugir de qualquer notícia a meu respeito que pudesse parecer sensacionalismo barato e mantivesse segredo absoluto sobre aquelas mal-traçadas linhas. “Do amigo para sempre, Joe Primo, Jet Black´s”. Não sei dizer quem não respeitou esse nosso pacto, melhor dizendo, meu pedido de segredo. Mas não restam dúvidas de que houve algum “traíra”, que acabou por furar o bloqueio de guardar sigilo absoluto da carta, como eu havia solicitado. Quando dei por mim, recebia mais de 50 cartas por mês, enviadas por fãs, o que me dava muita alegria, fazia-me muito bem. Quando na ativa, não imaginava fosse tão querido. Somente sentia não poder retribuir enviando respostas, por ter de obedecer ao regulamento interno do estabelecimento, que me tinha como paciente, não como artista. Certa vez, junto às cartas, recebi, entre emocionado e indignado, a relação de uma cotização que meus amigos fizeram e me enviaram. Indignado, porque fãs me escreviam, mas eu não recebia sequer uma mísera linha de um irmão. Emocionado, porque receber aquela “vaquinha” fez-me sentir que não estava só e tinha muitos amigos de verdade, que provaram gostar de mim.
CAPÍTULO IX
Preparando a volta
Pág.52
Em menos de três meses, eu já estava curado. Dois dias antes de obter minha alta do sanatório Nossa Senhora das Mercês, de Campos de Jordão, eis que surge minha primeira e única visita durante todo o tempo de internação: minha irmã Mariínha, num carro preto e motorista particular. Quase não acreditei. Fazia anos que não a via nem tinha notícias, não apenas dela, mas de todos os outros sete irmãos. Ao conversar com a madre superiora, Mariínha soube que eu já estava para obter alta, mas, para consolidar mesmo a cura, deveria me precaver de esforços. Quanto ao resto, estava liberado. Minha irmã disse que iria me levar para passar uns tempos com ela, evitando assim que eu abusasse e voltasse à ativa com tudo. Perguntei a ela se não iria acarretar nenhum problema com seu marido. A resposta foi que não me preocupasse com nada. “Daqui para frente faça de contas que tirou férias. Você vai ver que cidade bonita onde estou morando. E vai conhecer os sobrinhos e sobrinhas lindas que já tem.” Viajamos de Campos de Jordão até Bauru. Adorei conhecer a “sobrinhada” mais bagunceira que vi em minha vida. Um mais carinhoso que o outro, sem distinção, além da beleza física, que acredito ter advindo, na maior parte, de minha irmã, que sempre foi muito bonita. Passados dois ou três dias, Mariínha comprou-me três camisas. Foi quando o motorista particular de meu cunhado, após mais de uma hora de viagem, me levou para um sanatório, cuja aparência externa e interna dava a impressão de que faltou material para o término de mais de 50% da obra, sem um mínimo de criatividade, a qual alguém se atreveu denominar sanatório. Poderiam ter dado o nome de rodoviária, albergue noturno ou correlato, mas nunca de hospital, em respeito aos seres humanos que por infelicidade tivessem de passar por ali. O motorista dirigiu-se até a secretária e lhe entregou uma carta. Imediatamente depois de ler a missiva, duas pessoas me conduziram por um verdadeiro labirinto de corredores, com tantas curvas e descidas que não acabavam mais. Nos dois lados dos corredores havia muitas divisões, com enfermarias de mais de quatro pessoas internadas, sem um mínimo de higiene aparente, com camas todas desarrumadas. Os internos, alguns de calção sem camisa, circulando a seu bel-prazer de uma enfermaria para a outra, só eram proibidos de se dirigir aos escritórios na gerência. Quem me informou foi o senhor que me conduzia. Por fim, ele me entregou um pacote, que reconheci ser o mesmo das três camisas compradas por minha irmã. Numa repartição com seis camas espalhadas pelo meio e cantos, apontou-me uma delas, dizendo que era minha, sobre a qual dois pacientes estavam sentados. Quase não acreditando que aquele quadro fosse realidade, perguntei por que ele me apontou aquela cama como se fosse minha, ao que ele me disse com ar de pouco caso: “Essa é a cama que você vai ficar ocupando enquanto estiver internado aqui.” Olhei a minha volta e, só pela maneira humilde e maltrapilha que meus companheiros de enfermaria e de infortúnio me olhavam, uns de chinelo de dedo, outros sem o chinelo, pisando aquele chão de cimento liso, deduzi, sem sombra de dúvida, que se tratava de indigentes que haviam sido jogados ali, ao deus-dará, cuja cura – se acontecesse – não seria mérito de ninguém. O desmando, a indisciplina, o descaso, a desordem existentes ali não beneficiariam ninguém. Informei ainda para a pessoa que havia me levado até ali que eu precisava dar um telefonema para minha irmã, porque devia estar acontecendo algum engano. Ele me disse que a incumbência que lhe foi dada seria de apenas me encaminhar e me mostrar minha cama. Daí pra frente, somente com ordens da secretaria. Tendo em vista a má vontade de ajudar daquele senhor, procurei me informar com os outros pacientes. Meu espanto foi total quando me informaram que uma vez estando ali eu podia dar adeus ao mundo lá fora. Pedir para telefonar? Totalmente fora de cogitação, porque eles não permitiam que os enfermos usassem o aparelho telefônico, muito menos que entrassem na secretaria. “Daqui, onde nós estamos, torcemos para não ser um daqueles que quase todo dia de madrugadinha a gente vê saindo lá pelos fundos, carregados pelos funcionários, direto para o cemitério. Fora isso, aqui, um tem de ajudar o outro da maneira que puder.” Ouvindo tais palavras, peguei as três camisas ainda embrulhadas e, buscando os três com menos roupas, presenteei-os. Eu nunca teria coragem de vestir uma camisa nova no meio de quatro pessoas sem camisa nenhuma.
Depois de lhes dar as camisas, sentei-me na cama e discretamente fui olhando ao meu redor, imaginando até que ponto um ser humano pode ser deixado de lado, sem um mínimo de atenção e respeito, praticamente esperando chegar sua hora de sair pelos fundos, de madrugada, para sua última morada. Nesse instante não consegui impedir que as lágrimas escorressem pelas minhas faces. Por mais que eu fingisse que tinha algum cisco em meus olhos, aqueles internos perceberam meu desespero silencioso. O único que não havia recebido uma camisa chamou um deles de lado e sussurrou ao seu ouvido, ao mesmo tempo em que olhava pra mim. A conclusão a que cheguei foi a seguinte: pelo fato de eu ter dado as camisas a eles, bateu-lhes um sentimento de gratidão. De alguma maneira, quiseram retribuir. Conseguiram que alguém contatasse com minha irmã, que imediatamente foi me buscar. Um médico de Bauru, especialista em pneumologia, doutor Berriel, examinou-me e disse que alguém erroneamente enviou-me para aquele sanatório. Meu estado de saúde era bom, eu podia levar uma vida normal, sem nenhum risco. Após esse triste episódio, que infelizmente veio a se somar a tantos outros, que como ferro em brasa queimam meu peito ao leve lampejo de lembrança, permaneci algum tempo, pintando telas em Bauru, talvez mais do que cinco telas a óleo. Durante esse tempo, não sei explicar como, conseguiram descobrir meu endereço. Volta e meia alguém me escrevia de São Paulo – da pensão onde anteriormente eu morava – pedindo-me para voltar a morar lá porque o filho mais novo da dona da pensão tinha caído no vício e já o haviam até internado para tratamento, sem nenhum resultado satisfatório. Eles acreditavam que, por ter morado muito tempo com eles, o rapaz obedeceria mais a mim do que eles. Por essa razão, achavam que com minha volta tudo, ou quase tudo, poderia voltar ao normal, como era antes.
Minha volta para São Paulo já estava nos meus planos há algum tempo. Modéstia à parte, tenho um sexto sentido infalível. Muitas vezes, percebo determinada coisa ou situação e, se não tomo a iniciativa de esclarecer o que está ocorrendo, é porque, por uma ou outra razão, não posso falar ou porque considero não ter o direito de meter o bedelho onde não sou chamado. Caso contrário, eu teria interferido não sei quantas vezes em auxílio de minha irmã para evitar as “buchas” que ela agüentou calada por minha causa, tentando disfarçar para que eu não percebesse. Quando sutilmente eu fingia não perceber e indagava se estava com algum problema, a resposta era sempre a mesma. “Está tudo bem, está tudo bem, não se preocupe comigo”, como coisa que eu não soubesse que ela estava ouvindo cobras e lagartos por minha causa. Por essa razão, minha volta já tinha até passado da hora. Estava cada dia mais difícil ver e ouvir calado aquela situação se repetir. Foi aproveitando o ensejo de uma das cartas pedindo minha volta, aliado ao fato de meu conjunto The Jet Black’s estar praticamente com o terceiro sucesso nas paradas, garantindo com isso meu quinhão, conforme havíamos acertado antes de minha internação, que dei ciência para minha irmã de que voltaria e continuaria seguindo o caminho do qual as circunstâncias adversas da vida, momentaneamente, haviam me desviado. Houve por parte de Mariínha uma ligeira curiosidade quanto aos verdadeiros motivos que abreviavam minha estada em Bauru e adiantavam o retorno a São Paulo. Perguntou-me se havia acontecido algo alheio ao seu conhecimento que justificasse minha repentina decisão. Disse-lhe que não. Procurei agradecer da melhor maneira possível tudo que ela havia feito por mim, mas no fundo aquele agradecimento era uma forma de lhe pedir perdão por tê-la feito sofrer calada as conseqüências de ter-me acolhido.
CAPÍTULO X
Retorno à batalha
Pág.54
Voltei para a pensão. Quando cheguei, no comitê de recepção para me dar as boas-vindas, não faltava nem mesmo a cachorrinha. Beijaram-me tanto que fiquei com cheiro de saliva – lógico que lavei o rosto rapidinho. Sem mais delongas, desfilaram um rosário de peripécias cabeludas que o rapaz já havia aprontado após minha ausência, comparando-as a seu comportamento dos tempos bons, anteriores à minha viagem. Nessa mesma tarde, arrumado para sair, eu descia as escadas que davam acesso à rua, junto à porta de saída, quando encontrei o rapaz, que estava acendendo um cigarro. Imaginei que fosse tabaco. Continuei descendo e, quando me encontrava no meio da escada, ele me ofereceu uma tragada, dizendo: “Quer dar um puxo”? Somente pelo jeito como falou, percebi tratar-se de maconha. Dei-lhe tanta porrada, que ele ficou até com vergonha de se queixar à sua mãe, como sempre fazia quando eu lhe batia por estar usando minhas camisas. Fiz-lhe uma sessão de esculhambação, inferiorizando-o ao máximo, comparando-o a vagabundos e marginais. Nunca mais ele se atreveu, pelo menos na minha frente, a fazer graça com maconha. Daí pra frente, pelo menos a casa ele respeitava, porque sabia que eu reconheceria o cheiro daquela droga de longe. Ciente de que eu tinha “carta branca” para agir, intimidou-se. Depois desse acontecimento, todos na pensão passaram a me tratar com mais respeito e consideração. Curioso para saber onde internaram o rapaz para se curar das drogas, como me haviam escrito nas cartas, após ter “baixado a poeira” da minha briga com o rapaz, perguntei-lhe o local da internação. A resposta me fez quase morrer de tanto dar risada. Para explicar, ele gesticulava tanto, que quem nos visse pensaria se tratar de uma discussão. Primeiro, ele se mostrou amedrontado, como diante de um perigo iminente: “O de voltar a morar ali naquela casa de loucos.” No seu entender, todos naquele local onde estivera internado tinham um parafuso a menos na cabeça. Continuou: “Você acredita que minha família me internou em um hospício?” Admirei-me: “Em um hospício?” Ele concluiu: “Você já se imaginou sendo tratado como louco? Pois foi exatamente isso que minha família fez comigo. Os enfermeiros puseram-me imobilizado sobre uma mesa – dessas que parecem maca, estreitas, feitas de aço inoxidável – deixaram-me sem roupa totalmente, com os pés e mãos amarrados, em um quarto à prova de ruído para que, se gritasse, não se ouvisse. O enfermeiro me falou que, mesmo que alguém me escutasse, ninguém se importaria, porque louco gritar naquele lugar era muito natural. Primão, meu velho” – pondo a mão em meu ombro – “o enfermeiro ficou sozinho comigo naquele quarto indevassável, eu todo amarrado, de barriga pra cima, sem poder me mexer para lugar nenhum, somente tendo a boca para gritar, pedir socorro, xingar, mandar o nego para a p q p…” Perguntei, curioso: “O que tinha o enfermeiro, afinal?” Resposta seca: “Era bicha. O f.d.p. me beijava, passava a mão nas minhas partes íntimas, me abraçava, me mordia e ainda pedia para eu xingar ainda mais ele, porque era isso que ele gamava. Depois de fazer o que bem quis comigo, eu praticamente sem voz, de tanto que gritei para alguém me ajudar, o f.d.p. me aplicou uma injeção que eles chamam de ‘amansa cavalo’, e eu apaguei. No dia seguinte, desamarraram-me, eu ainda sonolento quis saber do enfermeiro do dia anterior, recebendo como resposta que o dito dava plantão 24 horas e descansava 48 horas (ou vice-versa), sendo quase impossível entrar em contato com ele. Acrescentaram que eu pensasse bem sobre o que iria fazer, pois, a um sinal do enfermeiro, poderiam me imobilizar como louco novamente, e as conseqüências seriam imprevisíveis.” A maneira como ocorreu esse fato, relatado por esse jovem, fez aflorar em meu consciente algo que pensei já não mais existir dentro de mim: o humor, a vontade de rir de graça, rir espalhafatosamente quase a ponto de me sentar no chão de tanto rir. Não pensei que ainda pudesse um dia chegar a rir com tanta vontade. Graças a Deus eu estava errado e o meu humor estava ali, exuberante, fazendo-me ver que o mundo é um misto de alegrias e de tristezas, e a assertiva de que não há bem que sempre dure nem mal que não se acabe é mais do que verdadeira.
Ansioso por rever todos os meus amigos, saí pelas redondezas dos bairros Brás, Pari e Canindé. Aos poucos, fui encontrando esse ou aquele, vem pergunta, vai resposta, logo, logo as fofocas eram postas em dia, terminando com as tradicionais perguntas: “E o Jet Black’s, como vai?” “Vocês ganharam muita grana com esses sucessos todos?” “ Que carro você tem?” “Quando vocês vão gravar outro disco?” “Por que vocês deixaram de ensaiar na oficina do Benê e do Johny? Vocês brigaram com eles?” etc. Eu tinha a impressão de que, todos sem exceção, haviam combinado repetir as mesmas perguntas. Uma vez ou outra, uma menina quebrava a barreira da timidez e me perguntava se eu não era o Joe Primo do Jet Black’s. Com a afirmativa, vinha um pedido de autógrafo, às vezes, um pedido de autógrafo para levar para uma irmã que também era minha fã, etc. Pelo que pude perceber, em minhas andanças pelos lugares anteriormente costumeiros, tudo estava como era antes no quartel de Abrantes. Ao cair da noite, encontrei-me com o Bobby de Carlo, que estava sentado com o Serginho de Freitas, ouvindo um radinho “Spyk”, daqueles a pilha. Depois de colocar nossos assuntos em dia, perguntei ao Bobby se o Jet Black’s continuava tocando na Boate Lancaster, recebendo como resposta que estavam tocando em outra boate, cujo nome não memorizei. Fui até esse local um pouco antes do horário costumeiro de funcionamento. Quando cheguei, a recepção que tive de Jurandy e José Paulo – os únicos que se encontravam naquele momento preparando os instrumentos para a noitada de logo mais – foi de um verdadeiro balde de água fria. Eles me preteriram em favor de um tal de Orestes – amigo de infância de José Paulo. Disseram não ter condição de afastar o tal rapaz para eu retornar ao conjunto, dizendo a frase negativa tantas vezes que perdi a conta. Como dignidade, honradez, vergonha na cara e amor próprio são hereditários, coisas que herdei de meus pais, com quem muito pouco ou quase nada convivi, ainda arrisquei perguntar de minha parte nos lucros. Recebi de José Paulo e Jurandy, a resposta, com uma risadinha sarcástica em tom de nova pergunta: “Que lucro”? Diante disso, passou ligeiramente por minha mente as palavras que o senhor Jairo pronunciou, com o aval, de Gato e de Osvaldo Rodrigues, quando de minha partida. “Fique tranqüilo que sua parte estará à sua disposição quando você voltar ou assim que você quiser. Você confia em mim?” Como me arrependi de, por ser educado, não exigir que fossem documentadas aquelas palavras. Eu teria assegurado o meu quinhão financeiro e artístico, que com muita luta e sacrifício havia conquistado, até com arriscando minha própria vida. Não seria obrigado a ouvir frases me colocando como um ilustre desconhecido querendo usufruir as benesses financeiras e artísticas que nada havia feito por merecer. Muito menos seria olhado de cima a baixo por aquele olhar de quem quer dizer “você não se enxerga”? Não me restou alternativa. Apenas respondi: “Tudo bem, tudo bem, se isso é tudo que vocês têm pra dizer, aguardem-me, porque não estou morto.” Saí dali, os dois se sentindo cobertos de vitória sobre mim; suas expressões faciais revelavam seu pensamento: “Como é trouxa!”
O primeiro pensamento que tive depois desse frustrado encontro com o conjunto The Jet Black’s, que eu tinha como a menina de meus olhos e minha principal criação, foi o de sair dizendo em todo meio artístico radiofônico que as criaturas se voltaram contra seu criador, não sendo merecedoras, portanto, do carinho e dedicação da maioria dos meus amigos disc-jóqueis e discotecários, que a bem da verdade tanto fizeram – nunca é demais dizer – dedicando-se a eles, a meu pedido, durante esse tempo que estive fora. E, é bom que se diga, despojados de quaisquer interesses escusos. Agindo assim, eu estaria vingado. Mas, após refletir com mais calma, cheguei à conclusão de que eu iria criar uma verdadeira polêmica em torno do caso. No frigir dos ovos, o nome do conjunto seria o mais beneficiado, conseqüentemente, seus componentes, que mais uma vez seriam ajudadas por mim, dessa vez por tabela. Como ao longo de minha vida engolir sapos sempre foi uma constante, pensei: “O que é um sapinho a mais ou um sapinho a menos?” Mas daquela feita eu me sentia no dever moral de provar que se eles eram alguma coisa deviam-no única e exclusivamente a mim, que dei até minha saúde em prol do sucesso do conjunto. Para fazer isso, eu teria de estar atuando no meio radiofônico e televisivo, assim, eles sentiriam na pele que ter amigos como eu tinha no setor artístico significava a razão de tudo ter acontecido para o sucesso do The Jet Black’s. Aqueles amigos eram uma dádiva de Deus – pela qual sempre agradeci aos céus – que devia ser cultivada e respeitada, porque, na queda, são eles que nos estendem as mãos. Decidi, portanto, formar outro conjunto e fazê-lo chegar ao sucesso como havia feito com The Jet Black’s. Essa seria a única maneira de mostrar a eles que, mesmo estando distante, minhas amizades foram fundamentais para não deixar o nome de conjunto cair no esquecimento. Não perdi tempo: entrei em contato primeiramente com o discotecário e disc-jóquei da Rádio Bandeirantes e Rádio América de São Paulo, que acumulava as funções de divulgador da gravadora de discos “Odeon”. Sérgio de Freitas, simplesmente, um nome muito forte no meio, pelo qual já se pode perceber o quanto minhas amizades influenciaram para o sucesso do meu conjunto.
Contei a novidade ao Serginho, por ocasião de uma costumeira reunião para jogar cartas na casa de um grande amigo, doutor Nelson, dentista. Nós três, mais Roberto, o Rola, formávamos um quarteto imbatível quase todos os sábados à tarde e início da noite. Disse ao discotecário que iria formar outro conjunto de rock e queria contar novamente com sua ajuda. Ele me olhou espantado, pediu-me para repetir o que havia dito. “Eu vou formar outro conjunto de rock”, repeti, pronunciando cada sílaba separadamente, brincando, mas de maneira bem acentuada. “Mas por quê?”, perguntou-me, “já não chega o Jet Black’s?”. Respondi. “Daqui para frente, você pode dissociar o nome Joe Primo do The Jet Black’s”, pois fizeram comigo isso que estou fazendo agora”, disse-lhe, teatralmente descartando uma carta do baralho com um sorriso amarelo. Serginho largou o jogo de cartas sobre a mesa, olhou para o doutor Nelson, depois para o Rola e agora também para o Bobby di Carlo, que acabava de chegar. Baixinho, pronunciou: “Não acredito!” Nesse instante, procurei disfarçar um pouco o embaraço que minha declaração havia provocado, juntando todo o baralho em cima da mesa e dizendo: “Ei, que clima de enterro é esse?” Embaralhando as cartas, afirmei: “Eu estou vivo, só levei um chute no saco e nada mais. Agora, vou partir pra outra, outra e outra, pois para isso amigos não me faltam. E digo mais: vou atuar limpo, nunca ferindo a imagem deles, para não parecer mais tarde que joguei sujo como eles jogaram. Por isso mesmo, eu quero pedir, principalmente a você, Serginho, que me ajude mais uma vez, porque vou precisar muito. Mas peço-lhe que não comente com ninguém o que eu acabei de dizer aqui, para não soar como chantagem emocional.”
No dia seguinte, uma segunda feira, saí com Serginho, acompanhando-o em suas distribuições dos lançamentos da gravadora Odeon para as emissoras de rádios de São Paulo, e aproveitei para fazer relações públicas, agradecendo aos discotecários – os quais eu contatava por meio de cartas – por suas colaborações quanto à execução dos discos do The Jet Black’s. Ao me verem, muitos chegaram a se emocionar, deixando os olhos lacrimejarem, o mesmo acontecendo comigo. Um pouco de conversa fora, algumas gozações costumeiras. Serginho aproveitava para jogar no ar um pequeno suspense com relação a outro conjunto de rock que eu iria lançar brevemente. Assim sucessivamente, visitamos outras emissoras de rádio com o mesmo propósito, ou seja, matar a saudade dos amigos, agradecer o apoio e preparar caminho para o meu novo grupo. À tardinha, passamos na gravadora Phillips, comandada por outro grande amigo nosso, de nome Adair Lessa. Conversamos à exaustão. Em determinado momento, adentrou os escritórios da gravadora Phillips nada menos que Alfredo Borba. Quem não o conhecesse como nós conhecíamos pensava que fosse anti-social e arrogante, por seu jeito de ser crítico e verdadeiro, não compactuando com meios termos quando se tratava de musicalidade, de que ele entendia muito. Não havia quem pudesse questioná-lo sem ouvir dele uma aula de conhecimento musical. Isso o fazia respeitado. Quando me viu, Borba já foi fazendo gozação, perguntando para Serginho se eu não tinha morrido. O discotecário, caindo na risada, respondeu, com ar de dúvida: “Não sei, não, Borba, estou chegando agora, não vi a briga, não é mesmo, Lessa?” Alfredo Borba continuou: “Ainda bem que ainda não paguei a coroa de flores que eu encomendei para você!”. Virou-se para mim, enfático: “É verdade! Você pensa que eu estou brincando? Vou lhe mostrar o recibo da encomenda”, fingindo procurar algo, “não é que perdi o f.d.p? Ah, deixa pra lá.” Com essa brincadeira toda, partindo de quem partiu, eu estava que não me cabia em mim. Nesse instante ele me abraçou perguntou a Serginho: “O que vocês vieram fazer a uma hora destas aqui na gravadora Phillips? Será que é meu aniversário e eu não sei? Cadê os presentes?” Em resposta, Serginho disse que o presente seria um novo conjunto de rock que eu iria lançar. Borba, que tinha verdadeiro repúdio por conjuntos de rock, virou-se para mim e disse: “Você está louco? Se vocês pensam que vão me fazer ficar dentro de um estúdio gravando essas barulheiras de vocês, podem tirar o cavalo da chuva!” Com essa frase, Alfredo Borba – respeitadíssimo diretor artístico da gravadora Phillips, lançador de inúmeros artistas de renome mundial – havia dado seu convite indireto para que eu gravasse com meu novo conjunto. Com uma ressalva: Serginho de Freitas teria de ficar no estúdio de gravação como produtor. Condição sine qua non imposta pelo Borba para se livrar de ter que ouvir aquilo que ele convencionou chamar de barulheira. Saímos da gravadora Phillips como artistas contratados e sendo pagos para gravar um LP de 12 músicas instrumentais, coisa praticamente inédita no mundo fonográfico da época. Isso tudo, diga-se de passagem, sem ao menos ter o conjunto. Eu ainda teria de formá-lo, comprar instrumentos musicais, escolher um repertório de 12 músicas, arrumar um local para ensaios, etc. Mesmo assim, já tinha tudo garantido com a gravadora.
CAPÍTULO XI
Tons e Megaton´s – conhecendo o sucesso
Pág.59
No dia seguinte, resolvi visitar o comendador Morgado, dono da maior empresa de transportes rodoviários do Brasil, Empresa de Transportes Rodoviários Estrela do Norte, com sede na Rua Canindé, no bairro de mesmo nome. Quando cheguei aos escritórios da empresa, seu relações públicas, Alfredinho, também outro amigão, aprontou outro carnaval comigo, apresentando-me a todo mundo, até chegarmos ao escritório de José Morgado, que se levantou de sua mesa com o maior sorriso nos lábios, abrindo os braços para mim e dizendo: “O bom filho a casa torna”, ao que respondi; “E torno para não mais sair.” “Meu filho”, disse-me o comendador, “mas que prazer poder abraçá-lo novamente! Sente-se aqui ao meu lado, o que você quer tomar?” “Aquele seu cafezinho amigo”, respondi. Tomamos o café, conversamos muito. Ele me convidou para uma viagem de caminhonete de São Paulo a Porto Velho, depois seguindo de barco até Manaus, porque gostaria que eu fosse filmando as picadas existentes e descobrindo outras, com o intuito de enviar o material coletado ao Ministro dos Transportes, na época Mário Andreazza. A intenção era sondar a viabilidade de uma estrada, dando condições de tráfego aos caminhões e ao transporte de carga, cuja urgência e necessidade eram grandes, dada a precariedade da via existente. Topei e, depois de combinarmos que eu ficaria aguardando um comunicado dele para iniciarmos a viagem, disse-lhe de meus novos planos relativos ao conjunto que pretendia lançar. Comentei que estava com dificuldade de encontrar um local para ensaios, que não poderiam ser feitos em residências, por utilizarmos instrumentos elétricos potentes. Fatalmente, os vizinhos reclamariam do barulho, seria inevitável, principalmente quando se está ensaiando, quando há necessidade de repetir até não haver mais erros. O comendador Morgado virou-se pra mim e disse: “Eu tenho um salão, que no momento uso para guardar pneus e umas cadeiras de alumínio. Se servir a você, use até quando você quiser.” “Não podia ter vindo em melhor hora”, agradeci. Eufórico, saí da Transportadora Estrela do Norte mandando beijinhos para uma legião de funcionários, que trabalhavam nos escritórios.
Segui em direção ao meu irmão Luizinho, que morava na Vila Nossa Senhora das Mercês – nome de feliz coincidência com o momento que eu vivia – e o convidei para ser integrante do novo conjunto de rock, na guitarra. Sempre considerei Luizinho um dos melhores, senão o melhor guitarrista daquela época.- Talvez, alguma corujice minha -. Perguntei para o Luizinho se ele tinha mantido contato com o Renato, também guitarrista de mão cheia, a quem gostaria de convidar para fazer uma dupla de guitarras com o Luizinho. Foi fácil entrar em contato com ele, por telefone mesmo pudemos contatá-lo e convidá-lo. Ele aceitou, com uma ressalva: trabalhava há muitos anos numa firma, que não queria abandonar. Dependendo do compromisso que fizéssemos, por conta dos horários de trabalho, poderia não estar disponível. Fora isso, podíamos contar com ele. Faltava somente o baterista. Renato lembrou-se de um amigo que morava na Mooca, de nome Edgard. Convidado, também aceitou, mas fez um pouco de charme, dizendo não saber se estava à altura de tocar só com “cobras” do naipe dos guitarristas que já compunham o conjunto. Disse que só havia tocado em locais dissociados do meio radiofônico ou televisivo, mas aceitava com muito prazer o convite.
Preliminarmente, reunimo-nos na pensão onde eu morava. Renato tinha uma guitarra, uma tenor elétrica de cinco cordas, que, no frigir dos ovos, acabou virando contrabaixo. Bastou apenas trocar as cinco cordas de guitarra tenor por cordas de contrabaixo para aflorar um som com características totalmente dissonantes, vindo ao encontro do que idealizei. Nossos instrumentos, de uma forma geral, primaram pelo improviso. O que interessava naquele momento era aprimorar o desempenho das guitarras para que, quando estivessem executando uma peça juntas, dessem ao ouvido a impressão de ser somente uma guitarra. Com essa inovação, nosso som seria um misto de The Byrds com Beatles, estilizado, procurando explorar ao máximo a agilidade manual invejável dos nossos guitarristas. Em comum acordo, escolhemos o nome do conjunto de rock: Os Megaton’s. Durante esses ensaios, por se tratar de duas guitarras que, na maioria das vezes, faziam o papel de uma, havia a necessidade de uma guitarra base para fazer os acompanhamentos. O neto da dona da pensão, um rapaz de 16 anos, mais ou menos, brincalhão e companheirão nosso, vivia mexendo com os instrumentos, propondo-se até ser nosso carregador de instrumentos para poder freqüentar o meio artístico. Entreguei o contrabaixo em sua mão e passei a tocar provisoriamente a guitarra base. Agora, o som estava começando a atingir o que almejávamos. Passamos, então, a utilizar para nossos ensaios o salão da Empresa de Transportes Estrela do Norte, gentilmente cedido pelo meu grande amigo comendador José Morgado. E muitos ensaios.
Dentre as músicas que mais ensaiávamos, destacava-se o “Vôo da abelha”, por se tratar de ser uma peça cuja execução requer muita agilidade nos dedos, o que muito credencia e qualifica o artista que a alcança. Eu a escolhi dentre as demais porque, quando de nossa aparição de estréia em público, com certeza iríamos ser questionados quanto à capacidade técnica e artística dos integrantes. Eu acreditava que a qualidade de sons diferenciados dos demais conjuntos de rock existentes na época nos dissociaria das mesmices, o que realmente aconteceu, e o público nos elegeria – como nos elegeu, um grupo sui generis. Pensando em todos esses detalhes, que pesquisamos exaustivamente, ensaiamos as 12 músicas escolhidas, aceitando sempre que possível a opinião de Serginho de Freitas e Bobby de Carlo, nossos maiores incentivadores, que, volta e meia, estavam nos vendo ensaiar e nos dando seus abalizados conselhos. Levamos praticamente 30 dias para preparar os arranjos. Feito isso, disse para Serginho que estávamos prontos para entrar em estúdio e gravar. Passamos nos escritórios da gravadora Phillips e conversamos com Lessa. Ele entrou em contato com o diretor artístico Alfredo Borba, que autorizou Serginho de Freitas ser o produtor do nosso disco. O estúdio de gravação que usamos, por coincidência, foi o mesmo em que eu gravei com o Jet Black’s no início. Quando estávamos iniciando as gravações, Alfredo Borba entrou no estúdio, deu uma olhada geral e passou o bastão para Serginho continuar com as gravações. Quem estava na técnica de som, manipulando aquela infinidade de controles operacionais top de linha daquela época, era Ghaus, profissional respeitadíssimo por artistas e gravadoras. Com a colaboração de Ghaus, só não fazíamos chover, mas sons diferentes extraíamos a nosso bel prazer – isso com apenas dois canais –, coisa que o público jovem sabia reconhecer e à qual dava valor. Tudo foi gravado na maior tranqüilidade, sem necessidade de playback. Terminadas as gravações, fomos diretos para a sessão de fotos que comporiam a capa do LP dos Megaton´s. Várias fotos foram tiradas, em diversos lugares, tanto para o disco como para fins promocionais.
Passados alguns dias, soube por meio de Edgar, nosso baterista, que alguém de sua amizade disse-lhe ter ouvido uma emissora de rádio tocar o “Vôo da Abelha”, com o conjunto de rock Os Megaton’s. Quase não acreditei. Imediatamente, fui até a casa de Serginho de Freitas, pois ele morava a três quadras de minha pensão, procurar saber se ele tinha conhecimento daquela notícia. Com a maior naturalidade, Serginho mostrou-me uma relação enorme de emissoras de rádio, inclusive com os horários em que seus programas de rádio iriam executar o “Vôo da Abelha” com Os Megaton´s. Com um radinho portátil em sua mão, sintonizou a Rádio Bandeirantes, que transmitia naquele momento o programa de Luís Aguiar denominado “Os Brotos Comandam”. Ele estava acabando de anunciar Os Megaton’s tocando o “Vôo da Abelha”. Ao fim da execução, o apresentador deu um “alô” para mim, mais ou menos nesses termos: “Ôôôô, Joe Primo, parabéns pela excelente gravação! Isso vem demonstrar que quem foi rei nunca perde a majestade. Nós estamos com saudades de você e de nossas brincadeiras. Traga Os Megaton’s para batermos aquele papo. Alôooo, Nassura! Como vai a gordura?” Essa é tanto para o Luís quanto para o Nassura – empresário de shows de Mato Grosso, sempre tratado com carinho por Aguiar –sentirem saudades. Serginho me disse que a Gravadora Phillips não brincava em serviço. Quando de um lançamento, como no caso d’Os Megaton’s, o novo conjunto de rock do Joe Primo, que o meio radiofônico estava ansioso por conhecer, nada melhor que distribuir a todas as emissoras de São Paulo a “bolacha” do grupo, porque o trabalho de divulgação havia sido feito antecipadamente por nós.
À medida que “O Vôo da Abelha” ia sendo executada, os elogios à técnica e agilidade empregadas por Luizinho se tornaram comuns entre guitarristas de conjuntos de rock. Alguns chegaram a pensar que fosse montagem de gravação. Quando nos apresentávamos em programas de televisão, eram raras as vezes que alguém não questionasse se aquela agilidade de nosso guitarrista era real. Certa vez, ainda na TV Excelsior, fomos convidados a participar de um dos programas do Chacrinha, no qual também se apresentou Roberto Carlos, entre tantos outros artistas da época. Estávamos atrás da coxia aguardando o apresentador dar a deixa para entrarmos no palco para tocar, quando um ajudante de cenografia forçou uma passagem em cima de Renato, que praticamente estava se equilibrando tal qual malabarista, devido à falta de espaço, derrubando-o. Sua guitarra bateu a parte das cravilhas na madeira lateral de um tapume, e ele bateu com a boca na quina do instrumento. Até aquele exato momento, tinha pra mim que Renato fosse uma pessoa calma e pacata, mas eu estava tremendamente enganado. Ao perceber que sua guitarra desafinou e havia se machucado, nosso guitarrista partiu para cima do ajudante de cenografia dando-lhe bofetões. Outros funcionários da emissora intervieram em defesa do cenógrafo, obrigando-nos a também entrar em defesa do Renato, criando com isso o maior tumulto atrás dos cenários, sobrando sopapos até para o lado do auditório. Devido à maneira de Chacrinha apresentar seu programa, praticamente no improviso, o público pensou que fazia parte do show costumeiro. Mesmo assim, nós nos apresentamos, sendo chamados pelo apresentador como “o maior conjunto de rock do Brasil” e recebendo o maior carinho da platéia ali presente. Pensei que fôssemos ter algum revide na saída da televisão, mas errei, não ouve nada. Essas cenas estar nos arquivos dos programas do Chacrinha.
No sábado seguinte, fomos convidados a participar do programa de Ayrton e Lolita Rodrigues, “Almoço com as Estrelas”. Comparecemos trajando smoking, gravatinha borboleta e tudo mais que tínhamos por direito e obrigação, por conta do prestígio e liderança de audiência que o programa do Ayrton e da Lolita desfrutava no horário, com transmissão todas as tardes de sábado pela P.R.F.3, TV Tupi, canal 3. Tocamos nossa música de trabalho, “O Vôo da Abelha” e recebemos muitos elogios por parte de Ayrton Rodrigues, que valorizou demais a agilidade de nossos guitarristas. Os elogios tornaram-se uma constante em nossas apresentações, enchendo-nos de orgulho e satisfação por termos cumprido nosso “dever de casa”. Dentre as pessoas (fãs) que gentilmente acercavam-se de nós para pedirem autógrafos, um senhor, dono de um boliche, atividade que estava muito em moda em São Paulo, convidou-nos para tocar em seu estabelecimento. Achei um tanto esquisito tocarmos num boliche. Mas, como a proposta de pagamento por nossos serviços era relativamente boa, aceitamos. Assim, iniciamos outra modalidade de atração, ou seja, boliche com música ao vivo. Quando começamos a tocar no local, ficamos até meio receosos, devido a não haver praticamente ninguém. Qual não foi meu espanto, porém, quando, no começo da segunda música, olhei a nossa volta e notei que não parava de chegar cliente, aumentando a platéia a ponto de atrapalhar o trânsito na rua, para nos ver tocar! E o público participava, cantando conosco. Foi uma consagração. Desse dia em diante, a moda pegou. Todo boliche passou a ter um conjunto de rock.
Havia vários cantores que queriam gravar com acompanhamento d’Os Megaton’s. Só não nos dispúnhamos a gravar com a maioria porque Renato somente tocava conosco se respeitado o quesito de não interferir em seu emprego, que ele priorizava. Não dependíamos da música para viver, ou seja, tínhamos o conjunto praticamente como um hobby – cada músico tinha outro meio de sobrevivência – e procurávamos não ser antipáticos com quem quisesse gravar com Os Megaton’s. Na medida do possível, nós o fazíamos com o maior prazer. Em certo dia de ensaio, passando diante da casa de Serginho de Freitas, ele me disse que estávamos agradando com essa inovação de tocar e cantar. Disse-me também que havia uma pessoa que eu iria gostar de conhecer. Foi assim que me apresentou uma figura, com quem, de cara, simpatizei. Falava mais do que a boca. Tão magro, que, de frente, parecia estar de lado; de lado, parecia ter ido embora. Serginho cochichou ao meu ouvido, usando aqueles seus trejeitos característicos de falar com as pessoas: “Conhecias o bom Bitão?” Estranhando o nome, mas concordando, estendi a mão. Ele disse se chamar Wagner Tadeu Benatti, vulgo Bitão. Serginho, com a mão em volta de meu pescoço, perguntou-me: “Deixa o amiguinho assistir aos ensaios dos Megaton’s?” Respondi: “Oh, Serginho! Você manda, não pede, vamos lá!” No caminho, o amigo me informou que Bitão cantava, tocava e compunha. Quase chegando ao local de ensaio, encontramos Bobby de Carlo e seguimos todos juntos.
Depois das apresentações, começou um festival de gozações costumeiras que os integrantes dos Megaton’s, normalmente, costumavam fazer, imitando bêbado. Bitão também pegou a mania e, daí pra frente, se algum estranho nos visse, pensaria que estávamos todos embriagados. Após nos divertirmos pra valer, o novo amigo mostrou algumas de suas composições, ao mesmo tempo acompanhando-as, demonstrando muita versatilidade e desenvoltura. Cativou todos os componentes dos Megaton’s. Convidei-o para participar do conjunto. Serginho de Freitas perguntou para Bobby di Carlo se ele gostaria de gravar uma das músicas de Bitão. Bobby logo disse que sim. A música de que Sérgio mais gostou, tendo-a sugerido a Bobby que a ensaiasse para gravar, comigo na segunda voz, chamava-se “Tijolinho.” Naquele dia mesmo, começamos a fazer os arranjos. Ensaiamos até a exaustão, procurando criar um som nas guitarras que nos diferenciasse de todos os conjuntos existentes na época. Conseguimos um som que lembrava em muito o The Byrds. Tendo encontrado o que procurávamos para nos distinguir, restava-nos testá-lo em gravações e em público, o que não demorou a acontecer. Em contato com a gravadora Odeon, Serginho de Freitas, recebeu de Tony Campello, em meados de agosto ou setembro de l966, a informação de que queria gravar com Os Megaton’s cantando duas composições de Bitão. Ficamos muito contentes, principalmente, por termos sido lembrados e convidados a gravar por Tony Campello, produtor da gravadora.
Ao chegar à pensão, quando comecei subir as escadas, percebi que estava havendo outra daquelas reuniões de família. Parei no meio da escada para não ser intruso. Novamente a história de muito tempo atrás, que se repetia como um replay: tinham de sair da casa, porque o senhorio a pedia para reforma, e decidiram que iriam para Santo André. Novamente, a casa só comportava a família; novamente disseram que eu que me virasse, uma vez que não era filho deles. Esqueceram totalmente que foram praticamente me buscar para ajudar na recuperação do filho e agora me excluíam sem nenhuma consideração ou reconhecimento. Terminei de subir a escada como se não houvesse acontecido nada, dirigindo-me ao banheiro. Todos perceberam que eu ouvi a conversa. Quebrando o silêncio, de dentro do banheiro, que eu fingia utilizar, ouvi a frase, dita pela filha caçula, a essa altura, já maior de idade: “E daí que ele ouviu? É bom mesmo que tenha ouvido, assim evita de termos de lhe dizer que não há lugar para ele na outra casa. Que se vire”. Saí do banheiro e me dirigi ao filho mais velho, casado, que ouvia tudo calado, e lhe perguntei se poderia ficar com um quarto daquela casa, alugando-o, temporariamente, quando a família saísse, até arrumar um apartamento. Recebi, na frente de todos, a seguinte resposta: “Primo, você pode ficar aqui até quando quiser. Se for preciso, eu o levo para morar na minha casa.” Aquelas palavras, vindo da boca do filho mais velho, portanto, a pessoa de maior credibilidade e respeito da casa, lavaram minha alma. Diferentemente de sua família, com esse ato ele reconhecia o favor que lhes prestei em retornar de Bauru para atender a uma carta pedindo minha ajuda. Dei esse assunto como encerrado definitivamente. Apenas não quis nunca mais ter nenhum contato com quem quer que fosse daquela família, exceto o filho mais velho, é claro, bem como sua mulher e filhas. Virada a página da pensão, prossegui com o meu objetivo: fazer Os Megaton’s serem conhecidos e respeitados por suas qualidades no meio artístico, como anteriormente havia feito com The Jet Black’s, e provar para Jurandy, Zé Paulo e Gato que quem fez, nomeou, consagrou e elevou o conjunto aos píncaros da glória, dando até a própria saúde para consegui-lo, fui eu. E depois de todo meu sacrifício fui jogado as baratas, sem um pingo de consideração, sem receber nem um centavo dos lucros auferidos.
Em meados de setembro de l966, entramos em estúdio e gravamos “Tarzan” e “Viajando”, pela Odeon, com produção de Tony Campello. Quatro meses antes, ou seja, em maio de l966, a gravadora Polidor havia lançado uma coletânea com Os Megaton’s, The Fevers, Os Vickings, Os Inocentes, Os Santos, Roberta, Roberto Rei, Os Golden Boys, etc. Como não sabíamos desse lançamento, deixamos de trabalhar esse LP; não fomos avisados em tempo hábil. Acabamos gravando outro compacto pela gravadora Odeon quase simultaneamente ao lançamento do disco coletivo da Polidor. Se tivessem me avisado, eu adiaria a gravação do compacto para me debruçar sobre a divulgação primeiramente do LP “O Fino para a Juventude”. Ter amigos no meio artístico era comigo mesmo. Sem querer me gabar, artistas renomados praticamente imploravam para gravar um disco, ao passo que eu recebia convites e mais convites para gravar, que tanto vinham das gravadoras como também dos cantores que queriam o acompanhamento d’Os Megaton’s.
Mal tínhamos gravado nosso compacto pela Odeon e já estávamos fazendo os arranjos musicais com Bobby de Carlo para gravar “O Tijolinho”, de Wagner Tadeu Benatti, no qual eu faria a segunda voz. Em alguns dias, estávamos com os arranjos prontos. Serginho de Freitas foi o produtor. Entramos em estúdio e regulamos, como de costume, o volume das guitarras para conseguir o som que durante nossos ensaios elegemos como o melhor. Logo na primeira, para teste, todos acharam que já era a boa, – fala de técnico de gravação. Todos os presentes eram só elogios à qualidade de arranjo, bem como ao som que conseguimos extrair das guitarras. Os elogios se estenderam por todo o meio artístico. Quase todos os cantores diziam que queriam gravar com Os Megaton’s. Dentre eles, Marcos Roberto, que chegou a compor uma música exclusivamente para nós gravarmos, intitulada “Cuidado”. Essa canção foi registrada num disco em cujo verso gravamos “Só penso em meu bem”, de um compositor amigo, do bairro do Canindé, gente da nossa patota, que apelidamos Lhe, por ele ser filho de libanês. Também gravamos o – acompanhamos – quando gravou seu compacto de estréia. Antes, gravamos “Meu machucadinho” e “Nelma”, composições de Bitão.
Certo dia, apresentando-nos no programa do Luiz Aguiar na Rádio Bandeirantes, “Os Brotos Comandam” nosso baterista, Edgar, começou com aquela brincadeira de imitar bêbado, caindo nas graças do apresentador, que deu corda e também acabou, sem querer, fazendo a entrevista como se também estivesse embriagado. A alegria tomou conta de todos, tanto dentro dos estúdios, quanto entre a assistência. Dos que estavam do lado de fora do estúdio, davam boas risadas Odair Batista, Umberto Marçal, José Paulo de Andrade e outros integrantes do elenco milionário que fazia parte da Rádio Bandeirantes, naquela época começando também como emissoras de TV. Nos corredores que levavam aos departamentos recém construídos, cruzávamos com todos que trabalhavam lá e recebíamos um carinho fora do comum dos que se dirigiam a nós, o que retribuíamos. Por ocasião de nos apresentarmos nos vários programas da época, Luizinho já ficava sentado ao lado do José Paulo de Andrade, dentro do estúdio. Nos intervalos que normalmente o apresentador tem, entre uma e outra gravação, conversavam e contavam causos, esquecendo que estávamos ali para entrarmos no ar de uma hora para outra. Isso nos obrigava, ás vezes, a sair correndo pelos corredores, dando trombada com todo mundo. Tudo isso era encarado pela “família Bandeirantes de Rádio e TV” com uma alegria e efusividade, que, desde o porteiro até João Sahad, só faltavam estender um tapete vermelho para que passássemos. Tempos que trazem muita saudade.
Como Serginho de Freitas também era disc-jóquei da Rádio América, que nessa época funcionava ao lado do estúdio da Rádio Bandeirantes, no mesmo prédio recém-construído, nosso contato era freqüente, facilitando nossa agenda de compromissos de gravações ou de apresentações, que recebíamos por seu intermédio. Certo dia, Serginho me avisou que tínhamos um convite para o programa “Pequeno Mundo de Ronnie Von”, junto com Bobby di Carlo. Foi a primeira vez que Os Megaton’s se apresentaram na televisão acompanhando Di Carlo tocando “O Tijolinho”, de Bitão, com o autor acompanhando o criador do arranjo e eu fazendo a segunda voz, conforme a gravação original. Nem Ronnie Von sabia disso. O produtor do programa era o Randal Juliano, apresentador do “Astros do Disco”, que tempos atrás me apresentou, defendendo o compacto mais vendido do The Jet Black’s, quando eu ainda fazia parte do conjunto. Por coincidência, ele apresentou em seu programa os verdadeiros organizadores e lançadores do The Jet Black’s, que o fizeram por força de um compromisso moral com o radialista Antônio Aguilar. Agora unidos em um novo grupo, com sucesso crescente nas paradas de sucesso, recebíamos o reconhecimento dos fãs das inovações de sons extraídos das guitarras e dos arranjos d’Os Megaton’s. Vez em quando, convidavam-nos a nos apresentarmos no “Pequeno Mundo de Ronnie Von”, que comumente cantava ao som do conjunto Baobás. Lá tivemos o prazer de conhecer também uma cantora de nome Decalaf, que tinha tudo para ser um grande sucesso, mas, de quem, sem explicação, nunca mais tivemos notícia no meio artístico.
Durante uma das apresentações no programa do Ronnie Von, fomos convidados a participar do programa da Hebe Camargo. Para a costumeira entrevista que a apresentadora fazia com seus convidados, ela chamou a mim e ao Bitão, que, muito novo, com apenas 15 anos, tornava-se um prato cheio, uma grande atração. Inteligentíssima, Hebe tirava o máximo proveito dos ímpetos e trejeitos de Bitão, transformando cada pergunta em um festival de gargalhadas. Depois de explorar ao máximo aquela entrevista, ela nos disse: “Como vocês dois fazem também composições às vezes em parceria, hoje, vocês terão que demonstrar isso. Entrem lá numa sala especial, totalmente indevassável, na qual vocês irão compor uma letra e música, para, em seguida, cantá-la aqui em público. Ah, vocês concorrerão com outro compositor, que ficará em outra sala. Lá fomos nós para aquela “boca torta”. Digo isso porque nem de leve poderíamos imaginar que seríamos expostos daquela maneira, sem ninguém ter nos avisado antes. Compor e cantar em dueto sem tempo de decorar um mínimo da melodia recém-criada? É um verdadeiro furo n’água, que só não recusei movido pela euforia daquele momento mágico. Só o fato de estarmos nos apresentando no programa da Hebe Camargo já provava aos meus desafetos que, como fiz com o Jet Black’s em tempos idos, estava novamente fazendo, agora com Os Magaton’s, sendo visto e entrevistado no programa de maior audiência da TV brasileira. Era uma vitória em nossa carreira, com a qual todo artista daquela época sonhava. Quanto ao concurso, perdemos.
Devido ao sucesso de “O Tijolinho”, entramos novamente em estúdio para gravar agora mais 12 faixas com Bobby De Carlo, dessas 12, duas comigo fazendo a segunda voz, “A Boneca que diz não” e “Teimosa”. Enquanto gravávamos o LP de Bobby, aproveitamos para gravar outro compacto contendo uma composição de Marcos Roberto, intitulada “Cuidado”, e, na outra face, “Só penso em meu bem”, de autoria de Lhe, inclusive um acompanhamento musical de Marcos Roberto cantando “Vai Embora Daqui”, composição sua que se tornou praticamente seu carro-chefe, devido ao sucesso. Toda vez que Marcos Roberto se apresentava em uma rádio com esse disco, nunca se esquecia de dizer que Os Megaton’s tinham feito tanto os arranjos quanto o acompanhamento. Sempre que podia, ele procurava nos enaltecer, dando-nos qualidades até além do que merecíamos. Marcão, aceita um abração do amigão? Então, sinta-se abraçado. Uuupa!
No segundo semestre de 1967, urante uma apresentação dos Megaton’s cantando “Meu machucadinho” na TV Bandeirantes, Sérgio Galvão e Débora Duarte convidaram-nos para fazer laboratório, nome usado pelos artistas, principalmente atores e comediantes, quando querem testar algo antes de ser exposto ao público. Elaboramos pequenas aparições com a intenção de fazer graça no meio das músicas que tocaríamos durante um programa com direção do renomado Caetano Zama. Até hoje, quando me lembro, quase não acredito que tivemos como diretor, colaborador, incentivador e orientador, para que pudéssemos lançar um programa com tantos altos e baixos; esse monstro sagrado respeitado e cultuado pelos seus dotes artísticos e culturais invejáveis. Só para se ter uma idéia do espírito criativo dessa fera, naquela época ele pesquisou a área e idealizou Os Megaton’s fazendo aparições, tocando e cantando, em diversos lugares sui generis, tais como, em cima de um ônibus andando, em cima do prédio da TV Bandeirantes, sobre postes de transmissão de energia elétrica da empresa Light, mil e um lugares quase impossíveis de enumerar. Isso tudo era feito por um cinegrafista que passava os dias inteiros filmando em table tops, modalidade de filmagem na qual o cinegrafista filma takes de dois segundos em dois segundos, com pausas para mudar de local, numa seqüência sincronizada. Ao ser exibida a gravação junto à música, vê-se uma movimentação numa rapidez extraordinária; não se consegue acompanhar e imaginar como pode alguém cantar a mesma melodia em lugares tão diferentes ao mesmo tempo. Na época, essa inovação de Caetano Zama nos colocou como o centro das atenções do programa “Quadrado e Redondo”, o que nos mantinha ocupados de quatro a cinco dias da semana com filmagens, boa parte dentro da própria TV Bandeirantes, nos altos do bairro do Morumbi, em São Paulo, outras em externas em algum lugar pitoresco sugerido por nós ou a mando de Zama. Quando terminávamos de gravar o que seria exibido aos sábados à tarde pela TV Bandeirantes, mal tínhamos tempo de jantar e já estava na hora dos ensaios, na Transportadora Estrela do Norte.
Os ensaios não se resumiam a nosso próprio repertório. Zama dava-nos compactos importados dos Monkey´s (Bus Stop), Rollyng Stones, Beatlles, etc., para que tocássemos suas músicas. Bitão e Sodinha (Antônio Carlos) tiravam praticamente de letra quase todas, porque almoçavam, jantavam e dormiam ao som desses discos. As gravações das músicas no estúdio da TV Bandeirantes tinham no som o técnico Índio, que sabia tudo de recursos de gravações e conseguia realizar o que idealizávamos. Deve-se também a sua colaboração técnica o sucesso que alcançávamos nas gravações iam ao ar nas tardes de sábado, conseguindo um ibope que a emissora jamais havia pensado que conseguiria alcançar. Quando circulávamos pelos corredores da TV Bandeirantes em dias que não estivéssemos gravando, maquiladores, maquinistas e operadores de boom (corpo técnico que cuidava do programa “Quadrado e Redondo”), sem exceção, davam aqueles tapinhas de satisfação em nossas costas, dando-nos parabéns pela audiência alcançada. Recebíamos aqueles elogios com muita humildade, mas, no fundo, sabíamos que havíamos feito por merecer, portanto, nada mais justo do que, pelo menos, o reconhecimento do público, para confirmar que estávamos no caminho certo. Só faltou mesmo uma compensação financeira.
De repente, surge Serginho de Freitas com um monte de compactos importados em baixo do braço em direção ao seu programa pela Rádio América. Chamou-me de lado e, em tom de voz bem baixo, disse-me que tinha um carinha que queria aparecer nos nossos ensaios no Canindé. Perguntei quem era, mas ele fez questão de não dizer. No dia seguinte, no momento em que ensaiávamos uma das músicas que gravaríamos para o “Quadrado e Redondo”, eis que aparece Serginho, com dois rapazes. Nas apresentações, um disse se chamar Antônio Marcos, e o outro, Mário Marcos. Serginho me falou que ele queria gravar um disco com arranjo e acompanhamento dos Megaton’s. Respondi que sim e perguntei qual seria a música. Antônio e Mário, então, cantarolaram um pouco da canção “Um amor melhor que o seu”. Passamos aquela noite inteira de ensaios procurando criar um arranjo que tivesse algo de diferente, como era nossa marca registrada. Naquele momento, ainda não estava bem ao meu gosto. Disse ao Serginho que precisávamos de mais alguns ensaios com o Antônio Marcos para encontrarmos um som e balanço que ficassem a contento tanto do conjunto, quanto do compositor. Como o estúdio que usaríamos para gravar – RGE, na Rua Paula Souza – estava com a agenda lotada, aproveitamos para ensaiar de dois em dois dias, determinados a lapidar seu arranjo tal qual uma jóia. Quando terminavam os nossos ensaios, acompanhávamos Antônio Marcos até o ponto de ônibus. Nessa época, ele morava na vila Matilde, tinha de tomar duas conduções para chegar a sua casa. Nas brincadeiras que surgiam enquanto esperávamos o ônibus, certa vez, Serginho pegou no pé dele, fazendo-o mostrar um dos sapatos que estava usando, com um pequeno furo na sola. Serginho, segurando o pé de rapaz, dizia pra mim: “Primão, o Marquitcho está desviando de ponta de cigarros, meu! Nós precisamos gravar esse disco dele de-pres-si-nha, senão o amiguinho vai vir ensaiar de chinela!” Antônio Marcos pegava-o pelo pescoço, fingindo enforcá-lo, chacoalhava-o, rindo e dizendo: “Ô, rapaaaz! Você está me es-cu-la-chan-do?” E continuava a brincadeira dando uma gravata com o braço em volta do pescoço de Serginho, até que ele pedisse desculpas. Os dois depois se abraçavam, e a turma d’Os Megaton’s quase morria de tanto rir. Assim, nesse clima de amizade e alegria, criamos um arranjo para acompanhar Antonio Marcos em seu primeiro disco solo e, ao mesmo tempo, marcar época, tanto no jeito de bater com a palheta nas cordas das guitarras, como na maneira diferente de tocar o contrabaixo. A exemplo de “O Tijolinho”, com essa gravação fizemos escola, que foi seguida por outros conjuntos.
Gravamos nos estúdios da gravadora RGE, naquela época situada na Rua Paula Souza. Quem estava na técnica de som, por coincidência, era o Ghaus, que tempos atrás foi técnico no estúdio da Gravodisc, onde gravei com o The Jet Black’s. Depois, eles apagaram a gravação e a refizeram, com outro em meu lugar, demonstrando cabalmente o quanto eram frios e calculistas, minando sob todos os aspectos a hipótese de que qualquer benefício pudesse me advir. Como meus princípios sempre foram de trabalhar com honestidade e responsabilidade, nunca enganando ou me aproveitando de ninguém, sempre acreditando e confiando nas pessoas, fui vergonhosamente passado para trás. Vi todo um projeto de vida que batalhei para conseguir ser usufruído por outros. Os louros e lucros que seriam meus por direito foram consumidos pelas cobras criadas por mim. Acho que só criei cobras para me picar.
No caso da música de Antônio Marcos, entramos em estúdio, gravamos algumas vezes até ficar sem defeito nenhum e, em cima dessa gravação, eu ainda pus um playback tocando órgão, ou seja, toquei contrabaixo e órgão no acompanhamento. Nós, d’Os Megaton’s, não ganhamos nem um centavo para fazer o arranjo nem para acompanhar a canção “Um amor melhor que o seu”, que acabou se tornando o primeiro sucesso que Antônio Marcos obteve em sua carreira de cantor, abrindo-lhe todas as portas para sua ascensão meteórica no estrelato. Infelizmente, Antônio Marcos nem ao menos uma vez, dentre tantas e tantas entrevistas, citou meu nome ou o d’Os Megaton’s, o que nos daria o prazer de ver e ouvir, pelo menos uma vez, o reconhecimento de nosso desempenho como arranjadores e conjunto instrumental que gravou seu primeiro sucesso.
Durante as gravações diárias do programa “Quadrado e Redondo” pela TV Bandeirantes, num dos poucos momentos em que parávamos de gravar os table tops que seriam exibidos no sábado, como era de costume, Sérgio Galvão e Débora Duarte, também partes integrantes do programa, ficaram eufóricos porque recebemos a notícia de que a atração ganhara mais tempo de duração, devido à audiência alcançada. Bitão virou-se pra mim e disse: “Joe Primo, se o Serginho ainda tivesse o conjunto dele, Os Mutantes, nós poderíamos chamá-los para participar de nosso programa.” Resolvemos ir até a casa de Sérgio, que gostou do convite e ficou muito satisfeito. Disse que fazia algum tempo que estava sem se apresentar em TV e costumava assistir ao “Quadrado e Redondo”, considerando-o “super pra frente”. Desse dia em diante, Os Mutantes passaram também a participar do programa, que também já contava com Tim Maia, naquela época ainda batalhando por um lugar ao sol.
Num dos programas, com Tim Maia já diante das câmeras para começar a cantar, Luizinho viu-se em palpos de aranha para conseguir acalmar os ânimos de uma senhora que se dizia ser dona da pensão que o cantor morava. Ela queria a todo custo invadir o programa justamente quando estivesse se apresentando, para lhe cobrar um aluguel. Luizinho conseguiu segurá-la. Imaginem o estrago ele conseguiu impedir. Ao término da apresentação, Tim não tinha palavras para agradecer o favor recebido. Como a amizade reinava entre todos os integrantes do programa, esse foi mais um dos casos corriqueiros que se passaram entre nós.
Havia um rapaz, de nome Natan, que se uniu a nós como fã e amigo, ajudando a carregar instrumentos e entrando em estúdio de gravação conosco. Às vezes, acabava até gravando uma pequena participação nos programas, chegando a dar a impressão de que fazia parte do conjunto. Ele tinha um DKW, que se prestava a nos transportar para quase todos os lugares onde tivéssemos compromissos artísticos; nós colaborávamos com o combustível. O carro muitas vezes tinha de transportar até sete pessoas, porque Antônio Carlos, o Sodinha, integrante dos Megaton’s, namorava a Débora Duarte. Como a única condução que tínhamos era o DKW, não havia outro jeito, enfrentávamos essa verdadeira “boca torta” do bairro do Morumbi até o bairro do Pari. Somente quem conhece São Paulo pode avaliar a duração do aperto. Outra pessoa que convivia muito conosco era Alberto Luiz, um menino magrinho, com idade entre l8 e 20 anos, que tinha uma voz muito parecida com a do Roberto Carlos. Várias vezes eu o aconselhei a imitá-lo. Naquela época, ainda não havia aparecido essa legião de imitadores, portanto, quem o fizesse seria sucesso. Alberto Luiz também compunha, mas, devido a seu pouco conhecimento no meio artístico, encontrava muita dificuldade de mostrar suas composições. O que mais impedia que isso se realizasse era sua timidez e o receio de receber uma desfeita por parte de algum artista. Às vezes, cantarolávamos nossas composições um para o outro, durante os intervalos das gravações do nosso programa Quadrado e Redondo. Na sua humildade, ele demonstrava esse lado tímido, que aos poucos foi diminuindo, graças ao jeito brincalhão de todos os integrantes d’Os Megaton’s. Aquela nossa maneira de brincar com as pessoas, fingindo falar como quem estivesse bêbado, contagiava a quase todos da Rádio e TV Bandeirantes. Nos corredores da emissora, bastava qualquer um dos membros do conjunto cruzar com quem quer que fosse que já começava, tanto um como o outro, a falar como embriagado, praticamente como se fosse uma saudação.
Certa vez, Luiz Aguiar nos apresentou a Nalva Aguiar, dizendo-nos de seus dotes vocais. Naquela época, ela nem ao menos sonhava que iria gravar um disco, o que, aliás, não tardou a acontecer, e a cantora transformou-se num dos grandes sucessos fonográficos da época. Nesse dia, estávamos parados diante de um vidro que dividia o corredor dos estúdios da Rádio Bandeirantes, que naquele momento tocava a música “Coração de papel”. Eu disse para Luiz Aguiar que quem havia feito essa produção foi o mesmo produtor do nosso disco pela Gravadora Odeon, ou seja, Tonny Campello, que produziu nosso compacto simples “Tarzan”. Mal acabei de falar, Aguiar respondeu: “E quem canta está vindo ali”, apontando para Sérgio Reis, que parecia um bezerro desmamado, de tanto que chorava. Serginho de Freitas, brincando, pôs a mão no ombro de Sérgio Reis e, dirigindo-se a mim e a Luiz Aguiar, disse em tom de gozação: “Vocês sabem por que o amiguinho está chorando? É porque ele não encontrou a Lanna!” Nesse instante todos caíram na gargalhada, contagiando também Sérgio Reis, que ria e chorava ao mesmo tempo. O motivo da piada era que, tempos atrás, eu devia gravar mais um disco para cumprir meu contrato com a Gravadora Continental, cujo diretor artístico, Palmeira, sugeriu que eu gravasse a versão de uma música de nome “Lanna”. Passado algum tempo, essa mesma música foi lançada com gravação de Sérgio Reis, que a trabalhou muito, cantando e pedindo para tocá-la. Bem no começo da letra, diz-se: “Procuro por Lanna, que é meu amor, que se foi, sem adeus.” Já o motivo do choro de Sérgio Reis era porque sua mais recente gravação, “Coração de papel”, tinha entrado nas paradas de sucesso, consolidando com isso seu nome em letras maiúsculas (à altura de seu tamanho) no cenário nacional, abrindo-lhe todas as portas para o estrelato. Choro de alegria, de quem conseguiu se realizar naquilo que se propôs a fazer, diga-se de passagem, com louvor. Depois de todas as brincadeiras, todos começaram a dar os parabéns para Sérgio Reis, enaltecendo seu trabalho incansável, com Luiz Aguiar levando para o ar, em “Os Brotos Comandam”, toda aquela rasgação de seda.
Jorge Helau – disc-jóquei da Rádio América – gostava muito de jogar conversa fora com os integrantes de Os Megaton’s. Chegava, às vezes, com cara de poucos amigos para o nosso lado, e começávamos a indagar qual foi o bicho que o havia mordido. Depois de muita insistência de nossa parte, acabava dizendo que não estava legal porque havia se desentendido com a namorada. Nesse ponto, entrava Luizinho, dando uma de consultor para assuntos amorosos, e dizia: “Mas, Jorge, isso é um fato comum entre duas pessoas que se amam. Sabe como você deve fazer? Peça desculpas a ela e etc., etc., etc., entendeu?” Responde o Jorge: “Rapaz, não é que você está certo?” E lá iam os dois discutindo o sexo dos anjos pelos corredores afora. A moral que tínhamos por causa do programa “Quadrado e Redondo” colocava-nos num pedestal tão alto, que eu próprio não acreditava. Mesmo tendo sido meu objetivo, vendo-o se realizar, sentia não ser merecedor de tantos privilégios, bem como tudo o que estava se passando comigo. Achava ter ainda muita coisa para explorar, oferecer e levar ao encontro de todos que confiaram em mim e acreditaram em minhas idéias, quer como colaborador ou espectador. Ainda nesse clima de euforia, Sérgio Reis, chamando-me de lado, convidou a mim e aos Megaton’s para acompanhá-lo em shows. Era um convite irrecusável se não tivéssemos o compromisso do programa “Quadrado e Redondo”, que absorvia quase todo nosso tempo, principalmente aos sábados, quando se realizam 90% dos espetáculos nos quais teríamos de acompanhá-lo. Expliquei a ele e lamentei não poder aceitar. “Que pena, Serjão, fica para outra, tá?” Nessa, deixamos passar o cavalo encilhado.
Aproveitando o ensejo de fazer uma apresentação no nosso programa, eis que ao meu lado, pondo a mão em meu ombro, surge Jerry Adriani, com uma carinha de quem quer “tirar uma casquinha”, e me diz, sarcástico: “Oh, Joe Primo, você se lembra de quando me rejeitou nos testes que você fazia para o programa ‘Ritmos para a Juventude’, do Antônio Aguilar? Olha eu aqui. O que você tem a me dizer?” Respondi: “Tenho a dizer que você continua cantando pelo nariz e, mesmo depois de ter gravado um disco, não sei como, está dependendo de se apresentar em meu programa, como no início, para se alavancar artisticamente, ao passo que eu fiz o The Jet Black’s e agora também Os Megaton’s, estamos estourando com o programa “Quadrado e Redondo”, e o nosso sucesso você comprova pela audiência que a emissora recebe nas tardes de sábado, quer mais?” – “hoje… (desculpando-me) reconheço ter ido longe demais nos meus conceitos sobre o Jerry, deixando passar despercebido suas múltiplas qualidades”. – Exatamente nesse instante, chamaram-me, porque entraríamos no ar naquele momento para aguardar em cena a exibição do table top que havíamos gravado durante a semana. Em seguida, ao vivo, acompanharíamos Biquinho (Ed Carlos) cantando a música “Estou feliz”, que também estava nas paradas de sucesso. O apelido de Ed Carlos foi dado por Edgar, nosso baterista. A referência era a “bicão”, pessoa que entra sem ser chamada num ambiente, festa ou conversa, mas Carlos era um menino de aproximadamente 13 ou 14 anos, por isso, Biquinho.
De vez em quando, enquanto Sérgio Galvão, Débora Duarte e Caetano Zama finalizavam os preparativos para que o programa entrasse no ar, nós do conjunto sentávamos nas poltronas do auditório, aguardando a deixa de entrada e, ao mesmo tempo, curtindo umas gozações costumeiras com os artistas que ficavam ao nosso lado. Quase sempre, Serginho, dos Mutantes, que já faziam parte do programa, vinha se juntar a nós nas poltronas, pondo mais lenha na fogueira da bagunça que normalmente fazíamos. Rita Lee, depois que se entrosou conosco, fingia ser uma dessas menininhas sem educação e simulava cuspir em Luizinho, fazendo as birras que normalmente uma garotinha mal-criada costuma fazer na frente de uma visita.
No meio de uma dessas brincadeiras, Caetano Zama me chamou para subir até o 1º andar da TV Bandeirantes. Chegando lá, o maestro Potcho, juntamente com sua orquestra, estava gravando uns jingles. Caetano Zama me pediu para ouvir atentamente a orquestra tocar. Havia um instante em que ela dava uma ligeira parada e continuava a tocar a música; lembrava um pouco aquele fundo musical que se ouve na apresentação dos desenhos animados do Pica-pau. Após ouvir atentamente, Zama me disse que, como eu fazia isso e os sons diferentes nas gravações d’Os Megaton’s, ele se lembrou de mim para extrair um som que lembrasse uma mola sendo esticada e depois solta, para entrar exatamente naquele intervalo no qual a orquestra do Potcho dava a parada. Imediatamente fui buscar uma das nossas guitarras, no térreo, e pedi para o técnico de som Índio que a ligasse. Potcho começou tocando aquele jingle e, em dado momento, parou e apontou a batuta em minha direção. Nesse exato momento, afrouxei, através da alavanca da guitarra, as duas últimas cordas (si e mi), dei um toque forte de palheta nas duas ao mesmo tempo e soltei a alavanca, tremendo com a mão na mesma. O efeito que extraí agradou em cheio a Caetano Zama, bem como a todos os músicos da orquestra de Potcho. Esse jingle passou a ser usado em quase todas as transmissões de jogos de futebol da TV Bandeirantes. Com o passar do tempo, ouvi esse mesmo som, que criei e gravei, ser usado e copiado em várias propagandas comerciais e situações engraçadas, como, por exemplo, uma pancada na cabeça ou um tombo em programas de “vídeo-cacetadas”, cujo desfecho requer som de mola tremulando. Isso, no entanto, não era nenhuma novidade para mim. Quando nós d’Os Megaton’s nos debruçávamos sobre a tarefa de um arranjo para gravar um disco, pensávamos exatamente nesse detalhe: fazer escola, o que conseguimos, pois nossas inovações foram seguidas por vários conjuntos. Na gravação de “O Tijolinho”, com Bobby de Carlo, o som das guitarras, bem como o efeito que uma delas executa logo no início, foram copiados por vários músicos, inclusive duplas sertanejas. Já na gravação que fizemos acompanhando Antônio Marcos no sucesso “Um amor melhor que o seu”, composição de Roberto Carlos, a seqüência de palhetadas dada nas cordas das guitarras – tal qual fossem baquetas sendo batidas numa caixa de fanfarra ou caixa de escola de samba – e o balanço que o contrabaixo e a bateria executam, passaram a ser imitados por quase todas as bandas de rock. Em agosto de 2005, na novela “Se a Lua Falasse”, exibida pela TV Globo, ouve-se claramente no início e nos intervalos, a introdução melódica que Os Megaton’s criaram para os acompanhamentos da música “O Tijolinho”. Isso tudo se deveu às pesquisas que, incansavelmente, fazíamos durante os ensaios para extrairmos um som diferente, que acabou sendo reconhecido e imitado, numa prova evidente de que todo o trabalho que tivemos não foi em vão, servindo, portanto, de contribuição à música, ainda que discreta, levando-se em consideração um universo de sons exóticos e arranjos que podem e devem ser criados para o deleite dos aficionados e amantes dos sons. Basta nos atermos a criar, não a copiar – fica aqui o recado.
O que prevalecia entre todos os artistas, pelo menos os de convívio quase diário conosco, era um espírito de colaboração mútua, destituído de estrelismo. Quando um ou outro se fazia de estrela recebia muita gozação de nossa parte, principalmente de Edgar ou do Bitão, também guitarrista, dos bons e humildes, mas um tremendo gozador, que depressinha o colocava em seu verdadeiro lugar, obrigando-o a reconhecer que teria de também ser humilde para ter nosso respeito e consideração, caso contrário, não encontraria ambiente para um convívio salutar com a maioria dos artistas, que graças ao “Quadrado e Redondo”, tornaram-se queridos, aplaudidos e respeitados. Esses artistas nunca deixaram o sucesso subir à cabeça, tratando a todos em pé de igualdade, semeando, com esse exemplo, o convívio harmônico no ambiente artístico e, por que não dizer?… Entre os seres humanos em geral, para que germinasse e trouxesse em sua florada o pouco que todo ser humano de bem almeja receber ao manter o primeiro contato com terceiros de qualquer natureza: o respeito, a consideração, a igualdade, a honestidade e o carinho, despidos de todo e qualquer preconceito de raça, cor e nível social. Seria pedir muito?
CAPÍTULO XII
Provando now-how e se retirando.
Pág.74
A grande audiência conquistada por nós despertou nos artistas o desejo de se apresentar no “Quadrado e Redondo”. Certo dia, cruzei com nosso cinegrafista no corredor da TV Bandeirantes, dizendo que The Jet Black’s havia conversado com nosso produtor Caetano Zama para fazer uma participação no programa. Perguntou-me o que eu achava de fazer uma filmagem deles, ao estilo das nossas. Respondi que seria uma boa idéia, mas que encontrasse um ambiente onde ainda não houvéssemos filmado para dar mais originalidade. Sugeri que os filmasse no hipódromo, simulando que eles cavalos fossem. Assim foi feito. O cinegrafista filmou os integrantes do The Jet Black’s, correndo na pista de corridas de cavalos. Na volta das filmagens, Jurandy, baterista e cabeça do Jet Black’s (como ele próprio se intitulava), com ar de cansado, chegou-se a mim com uma naturalidade própria de um cara-de-pau nato, com duas baquetas na mão, e me disse que tinham acabado de filmar no hipódromo e iriam participar de nosso programa. Respondi: “É isso aí meu camarada. Nada como um dia atrás do outro. Em minha volta, após me curar; vocês me refugaram, como se eu tivesse sido apenas um componente ultrapassado, cuja volta iria prejudicá-los. Esqueceram que fui o idealizador e principal fundador do The Jet Black’s. Alegaram que outro melhor que eu, Orestes, já me substituía com vantagem, lembra-se? Pois montei outro conjunto, Os Megaton’s, como fiz anteriormente The Jet Black’s, e alcancei novamente o meu lugar ao sol no estrelato, como você está tendo a oportunidade de comprovar. Hoje estou tendo o prazer de ver minha primeira criação, “The Jet Black’s”, ter de participar de nosso programa para tentar se reerguer, confirmando, com isso, ser minha ajuda um mal necessário. Deus escreve direito por linhas tortas. Com isso acontecendo, provei para você que o The Jet Black’s não teria existido sem mim. E, a partir deste momento, considero-me realizado, pois cumpri aquilo a que me propus: mostrar a você, Zé Paulo, Gato e Cia., que sem mim vocês e o Jet Black’s não existiriam. Principalmente, você e o Zé Paulo. Tchau.” A partir desse dia, nunca mais retornei ao meio artístico, chegando simbolicamente a deixar a batuta e instrumentos nas mãos dos companheiros da banda “Os Megaton’s” para que dessem prosseguimento ao conjunto, usando o mesmo nome ou mudando-o, mas sempre com o compromisso de engrandecer a música jovem. E eles cumpriram o combinado. Assim foi que, por intermédio de Bitão, nasceram Os Pholhas.
Acredito que muitas pessoas irão pensar ou dizer que meu procedimento foi fruto de um revanchismo doentio e que essa minha atitude fere os princípios normais de um ser humano. Como resposta só tenho a dizer que: “pimenta nos olhos dos outros, é refresco”. Somente quem sentir, na moral e no bolso, a injustiça que sofri, poderá me julgar. Muitas pessoas, por não terem acesso a um meio de comunicação, acabam sem a oportunidade que eu tenho para extravasar alguma mágoa incrustada dentro do peito! Vêem a desigualdade passar tal qual veículo sem freio, ferindo a todos que estiverem no seu caminho, esperançosos de que, quiçá, de uma hora para outra, alguém interceda em seu benefício para que a justiça seja feita – esse filme todos nós já assistimos. Aproveitando o ensejo: Todos, sem exceção, somos portadores de um desejo oculto em nossa mente e não confessado, de receber de uma hora para outra algo, que de alguma maneira aconteça inesperadamente para nos beneficiar. Todos nós sonhamos em ser privilegiados com algo bom duradouro e definitivo, que acabe com essa expectativa enigmática de vida que todo ser humano tem, sem uma explicação plausível que justifique. Essa ansiedade, mesclada e confundida com esperança, existe calada dentro de nosso peito. Confessá-la a terceiros? Impossível. “Nem sempre as palavras definem um sentimento.” Seria o mesmo que passar atestado de burrice ou de loucura. Por quê? Não tenham duvida que apareceria algum(a) psicólogo(a), descobridor do sexo dos anjos, dando um amaranhado de diagnósticos enigmáticos, os quais, nem mesmo eles tem convicção do que dizem, crentes que com isso podem justificar à que vieram. Tenho em mim, que, a julgar pela maneira soberba camuflada deles tratarem seus pacientes, se baseiam (com certeza), em comparações com exemplos diversos, que “julgam” ter solucionado com seus pacientes anteriores, e por tanto, abusam de nomes técnicos enigmáticos inaudíveis e indecifráveis, com frases super decoradas, mas totalmente desprovidas do lenitivo da cura. Quando isso acontece? Fingimos acreditar quase sem questionar, com medo de sermos julgados como um caso de psiquiatria. Quanto ao problema existente? Acaba sendo taxado como corriqueiro e relegado a segundo plano, por terceiros; que em silêncio, compartilham do mesmo sintoma. – a esperança.
Esse sentimento, com certeza, existe nas pessoas. Mas, por razões que a própria razão desconhece, se negam a confessar, temendo serem consideradas portadoras de algum desvio em seu discernimento mental, e rotuladas como anormais. Enigmas e dúvidas internas, a meu ver, devem ser expostos e extravasados ao bel prazer, e respeitadas por quem as ouve, para que possam através de pessoas de bem, ser compreendidas, e esclarecidas. A solidariedade humana intervindo, – desarmada do interesse financeiro, convicta da necessidade de ajudar ao próximo: ampliaria o leque de possibilidades de acertos, dando mais esperança e credibilidade ao leigo, (comumente pobre) amenizando desfechos traumáticos em sua maioria advindos das dúvidas existentes. “Digo isso por experiência própria”. Tivesse eu, tido anteriormente uma orientação amiga, no sentido de nunca tratar nada com quem quer que seja sem comprovação por escrito, com duas testemunhas, registrada e autenticada em cartório?…Eu não teria as desilusões que tive. Pelo contrario, teria argumentos convincentes para responder a altura, ao amaranhado de perguntas frases e comentários diversos, que na época tive de ouvir calado, tais como: “Viu no que dá confiar nos outros?”, “Ah, eu? no seu lugar, não deixava barato”. “Você devia ter se documentado”, “Vá às rádios e acabe com eles!”, “Vá à gravadora…”, “Vá à editora…”, “Reclame seus direitos…”, “Mova uma ação de perdas e danos”, etc., etc., etc. – não é fácil.
CAPÍTULO XIII
Fotografia, espiritualidade e amor
Pág.77
Anteriormente, como que instintivamente precavido contra o inusitado, resolvi lançar mão de meus conhecimentos de pintura artística, e, administrando as idas e vindas das gravações do programa “Quadrado e Redondo”, encontrava sempre uma brecha no horário para pintar. Com muito sacrifício, consegui terminar uma tela “A grande valsa”, minha obra-prima. – ou obra Primo!… O local que usei para pintá-la foi o ateliê fotográfico onde trabalhei muitos anos, o Foto Schimidt, de Eduardo Nagliatti, que me deixava usá-lo em troca de ajuda em retoques de negativos de fotografias que ele tirasse. Essa tela retrata, em síntese, um grande salão de baile, muito sofisticado, tendo no teto enormes lustres com uma infinidade de pingentes de cristais cintilantes. Em volta do salão, em sua parte superior, algumas frisas, iguais àquelas existentes em grandes teatros onde são encenadas óperas famosas. Ocupando um espaço relativamente grande ao lado dessas frisas, (camarotes), avista-se uma orquestra ricamente paramentada, lembrando noites de gala onde o smoking, o fraque e a cartola eram a tônica. Como instrumentos: violinos, violoncelo, oboé, flauta doce, clarinete, enfim, uma orquestra de câmara, com tudo que inspire finesse e elegância. Dançando no salão, prevalecendo a aristocracia dos tempos palacianos de outrora, generais e coronéis em fardas de gala, ostentam orgulhosos, no peito, além das patentes que os identificam, várias medalhas. Ao seu lado, damas da sociedade ricamente trajadas e ornamentadas, rodopiando com seus vestidos longos, envoltos em uma riqueza de detalhes e cores, refletidas no chão do salão tal qual espelho. Levei aproximadamente cinco ou seis meses para terminar de pintar essa tela. Antes mesmo de terminá-la, já existiam várias pessoas interessadas na compra. Acabei por vendê-la para outro estado por um preço bom, se não o melhor preço que já consegui numa tela pintada por mim.
Com essa venda, mais um complemento de meu irmão Luizinho, montamos um ateliê fotográfico. Pedi ao Eduardo, do Foto Studio Schmidt, que me emprestasse uma objetiva e uma máquina de tripé, que ele tinha guardadas. Estabelecemo-nos na Rua Barão de Ladário, distante da Rua Oriente uns 500 metros, no bairro do Brás. Nesse local, existia anteriormente uma transportadora e, por isso, piso, paredes e teto encontravam-se tão esburacados que, para consertá-los, somente derrubando o que restava e construindo novamente. Conversamos com o proprietário, pai de dois rapazes amigos de infância, residentes em nosso bairro, que tinham em cima do prédio – um sobrado – uma pequena confecção de roupas íntimas. Ele nos disse que não faria nenhuma melhoria, por mínima que fosse, que fizéssemos por conta exclusivamente nossa. Sugerimos que ao menos diminuísse um pouco o valor do aluguel e recebemos como resposta que havia outro pretendente, que alugaria o imóvel no estado em que estava, sem pestanejar. Se quiséssemos, seria desse jeito. Caso contrário, alugaria para o outro. Resolvemos encarar. Usando nossa criatividade, aliada ao conhecimento de desenho e pintura, decidimos arrancar algumas placas de cimento que ainda restavam em volta das verdadeiras crateras existentes, nivelamos o piso com contrapiso e, em seguida, aplicarmos um piso top de linha, recém-lançado no mercado naquela época, denominado piso vitrificado, num tom verde bem claro. As paredes estavam tão esburacadas que se tinha a impressão de que alguém a tivesse picotado com uma machadinha. Forramos as paredes com chapas de compensado de jacarandá da Bahia. No teto, colocamos forro acústico com luminárias de quatro lâmpadas fosforescentes embutidas. Na parede do fundo, após a aplicação do jacarandá da Bahia, colocamos uma cortina de veludo vermelho, com cinco metros de largura por dois metros e oitenta de altura, que servia de fundo para as fotografias a serem tiradas em grupos de corpo inteiro. Entre a parede e a cortina, colocamos um espelho belga de dois metros e 50 centímetros, por dois metros e 30 centímetros de altura, que serviria, além de decoração, para tirar fotografias de noivas refletidas de corpo inteiro, o que nessa época, por estar na moda, era muito procurado por casais. Confeccionamos também um balcão de atendimento e uma vitrine expositora para fotos, em madeira de jacarandá da Bahia. Toda essa reforma levou aproximadamente três meses.
Com as despesas advindas da instalação do ateliê fotográfico, ficamos praticamente a zero financeiramente. Mas não nos intimidamos. Começamos a trabalhar fazendo das tripas coração para pagar o restante que tivemos que parcelar para concluir a reforma. Gradativamente, fomos adquirindo uma clientela relativamente boa. A reforma que efetuamos, transformando aquele antigo depósito de empresa de transportes em um luxuoso estúdio fotográfico, atraiu tantos curiosos que chegava a ser cansativo ter que a todo instante de explicar que as mudanças foram feitas para a instalação de um estúdio fotográfico. A curiosidade se devia ao fato de aquela rua ser o caminho mais fácil, portanto, quase obrigatório, de quem trabalhasse nas fábricas ou lojas das ruas Oriente, Maria Marcolina e adjacências. A Estação do Norte, terminal ferroviário, situava-se praticamente no fim dessa rua. Por serem pessoas humildes advindas das mais distantes cidades interioranas, toda novidade era algo digno de ser admirado. Houve, inclusive, caso de pessoas que chegaram a ponto de se ajoelhar e se benzer diante de nosso estabelecimento fotográfico. Presenciei alguns transeuntes a fazer o sinal da cruz na maior seriedade, como se estivessem diante de uma igreja, altar ou coisa que o valesse.
Devido ao fato do ramo fotográfico ser muito concorrido, principalmente nos bairros do Brás, Pari e Canindé, os preços das fotografias caíram vertiginosamente, obrigando-nos a ser verdadeiros malabaristas nesse comércio para não sucumbir. Não podíamos nos dar ao luxo de contratar um empregado para nos ajudar, porque nosso faturamento não permitia. Então, eu e Luizinho nos revezávamos entre o laboratório e o estúdio, sem um pingo de preguiça. Nesse nosso corre corre do dia-a-dia fui, chamado em casa, onde antes existia a pensão, e na qual eu era o único morador, – apenas para dormir. Chamaram-me, porque o senhorio tinha pedido a casa para dar início a uma reforma geral. Não tive nenhum problema. Mudei-me numa boa para um apartamento na Rua Oriente. Para ser mais exato, aluguei um quarto em um apartamento que estava anunciado no Diário Popular de São Paulo. A proprietária, uma senhora de uns 45 anos, mais ou menos, tinha dois filhinhos, uma menina de sete ou oito anos e um menino, de 10 ou 11 anos aproximadamente. O quarto que me foi alugado tinha mais uma cama, mas não me lembro da justificativa que me foi dada para sua existência. Só sei que, de vez em quando, o irmão da mulher, um senhor de uns 55 ou 57 anos, vinha visitá-la e, com a maior cara de pau, acomodava-se em meu quarto, roncando tanto que dava vontade de jogar o travesseiro na cara dele, para não dizer coisa pior. Da primeira vez que ele apareceu, fui tirar satisfações com a dona do apartamento. Ele se antecipou e, com a maior desfaçatez, disse-me, diante dela, que o desculpasse por ter dormido em meu quarto. Alegou que sua irmã precisava de um dinheirinho extra para manter as despesas da casa e viu por bem me alugar o quarto, mas que, de vez em quando, ao fazer uma visitinha, ele tinha o hábito de passar a noite naquela cama. Como eu usava o aposento única e exclusivamente para dormir e tomar banho, arrumar-me, permiti, ciente de que não seria sempre que o irmão iria dormir lá, mas frisei que não gostei, deixando bem claro que não mais que uma vez por mês.
Ah, quase me esqueci de dizer: o irmão da dona do apartamento era homossexual. Mexia tanto com as mãos e o corpo para falar que, quando estava falando comigo, eu não sabia se olhava para a cara dele, para as mãos ou para o corpo. A maneira que ele usava para se comunicar chegava às vias do exagero – Costinha, imitando trejeitos de bicha perderia de 10 a zero pra ele. Mas, como eu havia consentido deixar uma cama extra em meu quarto antes, tive que segurar aquela barra. Toda vez que eu chegava a casa para dormir, entrava no meu quarto meio cabreiro, com receio de que ele estivesse lá. Certa vez, por força de um compromisso, tive de ir até o apartamento tomar um banho e me trocar. Ao entrar, deparei-me com uma cena que até hoje, fico imaginando se foi real. Para entrar em meu quarto, obrigatoriamente eu tinha de passar pela sala. O quarto pertencente à dona do apartamento ficava ao fundo, e o meu, na lateral direita de quem entrasse na sala, composta de uma mesa de jantar com seis cadeiras e um sofá de três lugares. Quando entrei, sentados naquela mesa, um ao lado do outro, debruçados com a cabeça em cima da mesa, estavam os dois filhos da dona do apartamento, quietinhos, sem dar um único pio. Muito estranho. Como eles estavam quietos para além da conta, perguntei baixinho para o menino se estava tudo bem. Ele, sério, apenas balançou lentamente a cabeça afirmativamente. Nesse momento, do quarto da mãe saíam alguns gemidos, acompanhados de gritinhos histéricos, que estranhei, porque eu sabia que ela não tinha marido. Os meninos começaram a rir com tanta vontade que tive a impressão de que o silêncio total inicial aguardava aquele desfecho e também indicava não ter sido a primeira nem a segunda vez que aquilo acontecia. Caindo na risada, as crianças levantaram-se da mesa e saíram correndo em direção à cozinha. Nisso, ouviu-se lá de dentro do quarto a mãe gritando, mandando que se calassem. Eles a obedeceram imediatamente, as suas mãozinhas tapando a boca, com uma carinha de marotos, própria de crianças peraltas. Como naquela época não existia um órgão ou departamento competente que eu pudesse acionar para que tomassem alguma providência e evitar que aquela cena se repetisse perante as crianças, restou-me somente ver, ouvir e calar, levando-se em conta que eu era um estranho no ninho. Desse dia em diante, procurei tomar mais cuidado ainda quando tivesse que ir até meu quarto. Mas a cena das crianças nunca mais esqueci.
Como a casa do filho da dona da pensão onde eu morava anteriormente se situava relativamente perto, tanto de minha nova residência, como de meu estabelecimento comercial, e eu tinha muita amizade e consideração por ele, volta e meia o visitava. Sempre que eu chegava a sua casa era recebido como se fizesse muito tempo que não nos víamos. Aquele tratamento me deixava envaidecido, principalmente, por se tratar de uma amizade desinteressada e desprovida de falsidade. Pelo menos era isso que eu sentia. Por me sentir bem, passei a visitá-lo esporadicamente. Ele tinha no andar superior de sua residência uma verdadeira oficina de “faz tudo”, dado o volume de ferramentas existentes. Era raro o dia que ele não estivesse consertando qualquer coisa de sua casa. Eu via aquilo como um exemplo de pai de família, que, além de trazer o sustento para seu lar, ainda cuidava dos afazeres domésticos, o que, pela lógica, todo marido tem a obrigação de fazer, ou seja, consertos em geral. Também o admirava porque, além de ser motorista profissional, com emprego fixo em um departamento hospitalar do Estado de São Paulo – dirigia uma ambulância –, exercia também a função de presidente de um centro espírita muito renomado em na capital. Durante muito tempo, presenciei seu trabalho na entidade religiosa, chegando a ponto de entender e reconhecer quase todos os trâmites concernentes ao desenvolvimento e prática dessa religião.
Sem querer entrar em seara alheia, ultimamente notei que existe uma religião, cujo nome não devo citar, que está utilizando a principal faculdade existente dentro da religião espírita no intuito de angariar seguidores. Qualquer seguidor da doutrina espírita tem conhecimento do que acabo de dizer. A faculdade a que me refiro era exercida toda segunda-feira e se chamava Dia do Sofredor, nome dado pelos espiritistas ao espírito sem a consciência de haver desencarnado. Segundo a doutrina espírita, quando uma pessoa morre, seu espírito não tem conhecimento desse fenômeno e fica vagando ao deus-dará, conversando com as pessoas como fazia antes de haver morrido, imaginando que está vivo. Como as pessoas com quem o espírito fala não lhe respondem, porque obviamente não o enxergam, ele chega ao ponto de se tornar rebelde e revoltado. Sem saber o caminho a seguir, torna-se presa fácil de outra faixa do espiritismo, que utiliza sua fragilidade, oferecendo-lhes os mais macabros banquetes para atraí-los e encaminhá-los a finalidades escusas diversas. Os casos mais comuns de espíritos errantes se referem às mortes por atropelamentos e mortes súbitas. O espírito fica como que perdido no espaço. Às vezes, posta-se ao lado de alguém de seu convívio terreno, ocasionando-lhe mal-estar. É o chamado encosto, de cujos males somente uma pessoa se livrará freqüentando um centro espírita, denominado de “Mesa Branca”. Nesse local, o principal objetivo é o encaminhamento desses espíritos errantes à conscientização de seu estado real de desencarnado. Ele, portanto, deve sair do lado do “aparelho”, que é a pessoa perto da qual ele se encontra no momento, porque está fazendo-a sentir todos os males que ele próprio sentia em vida, gerando, assim, doenças inexistentes para essa pessoa, que, sem ter doença alguma, sente todos os sintomas de quem estivesse enfermo. Quando alguém sofre a influência de um encosto, deve ser encaminhado para quem saiba todos os caminhos que devem ser seguidos. E o centro espírita de mesa branca, se for presidido por uma pessoa sensitiva ou vidente, é o lugar certo para encontrar isso. Sensitivo é quem desenvolve a faculdade de reconhecer quando está diante de um caso típico de encosto. Vidente é o que tem o dom de ver espíritos desencarnados como nós vemos normalmente nossos semelhantes. Um vidente pode desenvolver a faculdade de médium – capacidade de fazer com que um espírito desencarnado o incorpore, temporariamente, para que possa receber a conscientização de que aconteceu sua passagem (morte), por meio de rezas e da ajuda de outros médiuns. A partir daí, o espírito passa a se sentir melhor no plano ao qual passou a pertencer, revertendo, para o bem, o mal que estivesse fazendo à pessoa à qual estivesse “encostado”, dando proteção a ela e evitando que outro encosto possa prejudicá-la, como ele inconscientemente o fazia. Um presidente de centro, sendo médium-vidente, tem todas as condições necessárias para o exercício dessa função extremamente delicada, reconhecendo de pronto quando uma pessoa está com encosto realmente, providenciando o ritual correto para livrar o paciente do mal de que foi acometido. Isso dá ao encosto, definitivamente, o verdadeiro encaminhamento, livrando-o inclusive de ser uma presa fácil dos macumbeiros de plantão.
Normalmente, acontece de alguém entre os assistentes em uma platéia de um centro espírita de mesa branca começar a se sentir possuído por algum encosto, sendo imediatamente atendido pelo presidente em exercício, que, por meio de seu conhecimento e habilidades, coloca a mão na cabeça da pessoa e transfere o espírito para um médium que esteja com assento na mesa branca (daí o nome de centro espírita de mesa branca), para que ocorra sua conscientização. Se o espírito incorporado no médium for o chamado “Exu” (sofredor de índole má), não terá tanto poder de fogo para maltratar o “aparelho” como poderia fazer se estivesse com alguém da platéia ou qualquer outro que não tenha o chamado desenvolvimento mediúnico, que só se consegue freqüentando sessões espíritas em um centro, com assiduidade nos dias específicos de atividades. Por intermédio do presidente da mesa, o iniciante receberá um tratamento compatível ao seu dom mediúnico, que aflorará independentemente de sua vontade. Deve-se deixar bem claro que nem todos conseguem desenvolver sua mediunidade. Mas sua freqüência nas sessões espíritas determina sua posição, deixando os mais assíduos como privilegiados, protegidos contra um encosto. Na hipótese disso ocorrer, os médiuns, com seus protetores presentes, imediatamente se incumbirão da conscientização do espírito errante. Isso, aliás, esclarece o fato de que, mesmo a pessoa não conseguindo se desenvolver para ser médium, fatalmente, dada sua assiduidade às sessões espíritas, dará oportunidade para que um provável encosto seja recebido por algum médium, podendo vir a ser seu protetor, mesmo sem ser necessário que o espírito nele incorpore.
Por tudo isso, vendo o silêncio com que as autoridades existentes dentro da doutrina espírita assistem a tudo sem se manifestar, a ponto de ver até pela televisão o uso do espiritismo rotulado com outro nome, quero alertar a quem de direito que, a maneira que está sendo realizado esse espetáculo público de mau gosto, simulando estar “tirando o diabo” do corpo dos assistentes em uma platéia, é uma mistificação desprovida de fundamentos advindos da doutrina espírita, que obedece aos ensinamentos de seu maior precursor, Alan Kardec. Retirar um encosto não tem nada a ver com diabo, mas é uma ação dupla de benefício. O primeiro é dar ao espírito desencarnado os ensinamentos preliminares, juntamente com as orações dos presentes – fator indispensável. Com o auxílio dos protetores de outros médiuns, que normalmente se unem em favor da ajuda da retirada de um encosto, impede-se que o espírito jogue a pessoa a qual se incorporou ao chão, com perigo de bater com a cabeça ou o corpo em algum lugar e risco até de morte. Valendo-se desses recursos, o doutrinador, que preferencialmente deve ser vidente, fornecerá a conscientização ao espírito sofredor de que ocorreu sua passagem, e ele está em outra dimensão. Assim, terá consciência de que a matéria – corpo – que no momento ele está encostando recebe sua influência e é prejudicada, portanto, é mister a compreensão de sua morte, deixando em paz aquele aparelho, que não lhe pertence. Com a ajuda dos protetores dos médiuns de apoio na mesa, o encosto será encaminhado à mesa de Santo Agostinho, que, juntamente com as orações dos presentes, o encaminhará para que não seja mais um sofredor errante e não volte a se manifestar em outra pessoa. As religiões lançadas ultimamente chamam o sofredor de “diabo”.
O segundo benefício se baseia, principalmente, em um conhecimento da doutrina espírita. O doutrinador, por sua vidência, percebe, dentre outras coisas, que o encosto, após ser doutrinado, poderá tornar-se ou não o protetor da pessoa a qual estava trazendo algum malefício involuntariamente. Esses são realmente os métodos que devem ser aplicados em relação a uma manifestação espiritual caracterizada como encosto. Caso contrário, se o espírito a ser doutrinado tiver sido enviado por algum trabalho de “macumba” para realmente fazer mal à pessoa portadora do encosto e o doutrinador não possuir todos os conhecimentos e dons preliminares necessários, pode até ser dominado pela força física que o “aparelho” adquire, inclusive com a possibilidade de ferir alguém próximo. Pode, na pior das hipóteses, maltratar muito a pessoa possuída, porque o doutrinador leigo não conta com a ajuda de nenhum protetor de algum médium, que dispõe de meios para impedir esse malefício por meio de uma falange de espíritos de luz – espíritos que já foram sofredores e, por graça orações que receberam e das caridades que prestaram após sua desencarnação, talvez até em uma reencarnação, evoluíram e chegaram a esse estágio. Resta dizer, finalizando, que a faculdade de um doutrinador ser vidente lhe permite saber, claramente, se a pessoa está ou não realmente possuída, portanto, não correrá o risco de ser ludibriado por falsos médiuns ou simuladores de estar com espírito.
Existe uma infinidade de falsos médiuns que fingem estar recebendo alguma entidade espiritual, pura e tão somente por vaidade pessoal, no intuito de ser o ponto de atenção dos presentes. Tanto esse tipo de médium, como também determinados espíritos que incorporam os médiuns, praticam a tão propalada mistificação. Quando um médium não consciente da nobre missão que todo médium responsável deve cumprir quando de seu desenvolvimento – afinal chegou a esse estágio evoluído –, na vaidade de mostrar que tem poderes diferenciados, ou seja, que espíritos de grandes vultos o escolheram para se incorporar, e se aproveita do fato de ter um presidente de mesa não-vidente, exerce essa mistificação, que macula a imagem e a credibilidade do espiritismo. Ao mesmo tempo, determinados espíritos, também chamados de mistificadores, aproveitam-se do mesmo expediente para simular, ao incorporar algum médium suspeito, ser o espírito de um vulto importante, enganando maldosamente as pessoas da assistência. Quero deixar bem claro que somente em casos que quem estiver presidindo os trabalhos espirituais não for vidente tais hipóteses podem ocorrer. Caso contrário, o presidente de mesa, imediatamente, desmistifica tanto o médium como a entidade espiritual mistificadora. Espero que minha despretensiosa dissertação seja interpretada por quem de direito e, se possível, analisada com o carinho e respeito que toda religião merece receber para que não se incorra em mistificações do nosso povo, já por demais sofrido e enganado na nossa sociedade.
Pois eu aprendi a respeitar as qualidades desse homem, filho do dono da pensão onde morei, por ter sido meu defensor e amigo. Por ocasião de uma das visitas que lhe fiz, chamou minha atenção uma garota fazendo as unhas juntamente com uma das filhas dele. Meu sexto sentido dizia que algo mais havia acontecido logo no primeiro aperto de mão. Ao me ser apresentada, a reação das pessoas que estavam a nossa volta era como se algo mais houvesse ocorrido entre nós que não só um simples aperto de mão. Procurei não ser afobado. Sabia que, na hora certa, quando realmente tivesse certeza de que não incorreria em um equívoco, eu a pediria em namoro. Passados alguns dias, apareceu a filha desse meu amigo, junto com a amiga, em meu ateliê fotográfico para que eu lhes tirasse umas fotografias 3×4 para documentos escolares. Aproveitei o ensejo de ter de arrumar a posição correta para tirar a fotografia e segurei seu rosto, simulando estar buscando a pose certa. Percebi que não desagradei. Assim, conforme os dias iam passando, eu freqüentava com mais assiduidade a casa desse meu amigo no intuito de vê-la com mais freqüência. Sem deixar transparecer curiosidade sutilmente, consegui saber que ela era natural de Lins e, provisoriamente, moraria ali para concluir seus estudos no “Liceu Acadêmico São Paulo”. A filha desse meu amigo tinha um namorado. De vez em quando, eles a levavam para algum lugar ao qual fossem, eventualmente, um cinema. Certa vez, reagindo a uma brincadeira que o namorado da filha de meu amigo fez comigo, ela agiu como se eu não pudesse sair com alguma menina. Definitivamente, concluí, por essa reação, parecida com a frase “com esse, não, que ele tem dono”, que podia concluir meu objetivo sem medo de errar. Mesmo sabendo que ela já tinha namorado, um filho de fazendeiro – que, aliás, apresentou-a a seus peões como sua futura patroinha, rapaz tido pelas filhas desse meu amigo, bem como por sua mulher, como um “partidão” de olhos azuis, fazendeirão imperdível – eu a pedi em namoro, convidando-a para irmos a um cinema. Ela aceitou. Fomos ao cine Rialto, o mesmo cinema que, nos meus tempos de criança, costumava freqüentar. Começamos a namorar meio a contragosto da esposa do meu amigo, talvez porque perderia o privilégio de ser convidada para passar um dia na fazenda do namorado anterior, o “partidão”.
Só sei dizer que, a partir da confirmação de nosso namoro, começaram a tratá-la mal sob todos os pontos de vista, chegando a privá-la de certas regalias alimentícias. Ao notar isso, volta e meia, aproveitando o oportunidade de lanchar à noite em uma lanchonete ao lado da “Igreja Santo Antônio do Pari”, mandava fazer quatro sanduíches de carne com queijo, tomate e cebola, que somente o João sabia fazer, e os levava para a casa deles, simulando ser um agrado para todos, quando na verdade era única e exclusivamente para complementar a alimentação da minha namorada, que era diferenciada praticamente em represália por estar me namorando. Com o passar do tempo, a despeito de tudo, acabei ficando noivo com toda aquela pompa usual da época, ou seja, mandei fazer as alianças, marcamos uma data na qual eu a pediria para seus pais, em uma reunião de família, permissão para ficar noivo, etc. A notícia de nosso noivado causou uma reação estranha tão grande no seio dessa família, que eu e minha namorada ficamos pasmados. Esperávamos, na pior das hipóteses, em resposta à novidade que pensávamos trazer, receber abraços, congratulações e parabéns. Mas, inexplicavelmente, viraram-nos a cara, como se nada tivessem ouvido. Depois dessa manifestação estranha, passei a não ir com tanta freqüência visitá-los.
Num determinado dia, apareceu em nosso ateliê fotográfico um advogado de nome Jacinto. Disse-nos que o dono do imóvel o queria de volta porque nosso pagamento do aluguel, às vezes, atrasava, e ele não admitia atrasos. Afirmou já ter outro pretendente ao inquilinato que pagaria três vezes mais do que estávamos pagando e nos deu um prazo mínimo para deixarmos o imóvel, sem nenhuma consideração por havermos feito uma reforma geral naquilo que era antes um “muquifo”, sem nenhuma condição de uso especifico, esculhambado, sem condição de ser alugado. O que aconteceu, realmente, foi o seguinte: depois que investimos na reforma, valorizamos demais o imóvel. Nós o fizemos porque somente assim poderíamos usá-lo, esperançosos de usufruir os investimentos feitos ao longo dos tempos. Mas, muito antes que isso se tornasse realidade, o senhorio, vendo seu imóvel supervalorizado e na iminência de poder triplicar o valor do aluguel, acionou seu advogado, que, sem a mínima consideração, pôs em marcha seu “rolo compressor”, jogando-nos para fora a toque de caixa. Ele não teve nenhuma complacência conosco, agiu com todo o rigor que a lei lhe facultava. Eu e meu irmão Luizinho não tivemos como nos defender porque não tínhamos um contrato de aluguel, rezando nossos deveres e obrigações, bem como nossos direitos. Mais uma vez, fui traído em meu conceito de achar que as pessoas com quem nos relacionamos, em sua maioria, são dignas de confiança como nós. Imaginei que, pelo fato de fazermos uma reforma monstro naquele depósito, o proprietário, em gratidão, deixar-nos-ia ficar alugando o imóvel pelo menos por dois anos. Enganei-me, porque não ficamos nem sete meses, incluídos os três meses de reforma e instalação.
CAPÍTULO XIV
A grande aventura na selva
Pág.85
Devolvi os petrechos que havia pedido emprestado ao Eduardo e continuei retocando algumas fotografias para ele, como anteriormente fazia. Só que com uma preocupação a mais em relação ao imóvel que havíamos acabado de devolver: e se, por uma infelicidade, acontecesse um sinistro? Fatalmente recairia sobre nossas costas as suspeitas – durma-se com um barulho desses. Tínhamos de torcer para que tudo corresse às mil maravilhas no imóvel do nosso inimigo. Em um encontro casual com o comendador Morgado, recebi a notícia de que já estava se preparando para fazermos a viagem para Manaus, conforme havia combinado. Perguntou-me se podia contar comigo para filmar os trechos principais que percorreríamos durante a viagem. Já tendo analisado minuciosamente a questão, eu havia chegado à conclusão de que aquela viagem de São Paulo até Manaus, em quatro rodas, não seria o mesmo que ir da capital a Santos para se banhar nas praias. Mesmo assim, confirmei que iria com o maior prazer do mundo. Bastava apenas arrumar minha mala, e pé na estrada. “Calma”, disse-me o doutor Morgado. “Estou fazendo uns reforços extras na veraneio para que ela consiga agüentar o baque da viagem que teremos de enfrentar.” Como eu conhecia a veraneio do comendador e sabia que havia sido comprada recentemente, praticamente zero quilômetro, estranhei, mas não questionei, pois quem estava falando comigo era o homem mais bem-sucedido no ramo de transportes rodoviários daquela época. A Empresa de Transportes Rodoviários Estrela do Norte, de sua propriedade, era tida como a mais conceituada e respeitada empresa do ramo do Brasil, e eu me orgulhava de ser amigo do maior empreendedor nessa área.
Após esse nosso encontro, passaram-se mais cinco dias. Conforme ajustado, fui avisado. Arrumei minha mala e rumei para a transportadora, local de partida para aquela que seria, a meu ver, uma aventura inusitada, cheia de surpresas e mistérios que ninguém poderia prever. Imaginem: uma pessoa que nunca havia ao menos feito um piquenique no campo encarar uma aventura de desbravamento em plena região Amazônica, saindo de São Paulo passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Porto Velho, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Solimões e Rio Negro. Eu não perderia por nada essa experiência. A tripulação era composta de quatro pessoas. O comendador José Morgado escalou para nos acompanhar um secretário particular e um mecânico. Saímos bem cedo para aproveitar mais a luz do dia. Durante algumas horas de percurso, o assunto dentro da veraneio girou praticamente em torno de mim. Devido à minha atuação no meio artístico, a curiosidade tomou conta dos presentes, que viram a oportunidade de se inteirar, por meio de meus relatos, de algumas curiosidades, que o público em geral somente fica sabendo por programas de rádio ou TV. Procurei responder a todas as perguntas que me foram formuladas, tentando ser o mais objetivo possível. E, pasmem a moral de masculinidade dentre a maioria dos artistas estava bem em baixa. Nesse ponto, aproveito para dizer o seguinte: acredito que deva existir, entre a maioria do público, um conceito errado referente aos artistas em geral quanto à sua masculinidade ou feminilidade. Pelo simples fato de um determinado artista começar a fazer sucesso, tanto interpretando quanto cantando, taxam-no de homossexual. Nossos críticos de plantão poderiam, se quisessem, esclarecer a verdade quando o público questiona alguém sobre sua opção sexual. Houve casos em que tive de jurar por Deus para que as pessoas acreditassem no que eu estava falando em relação à opção sexual de algum artista, de tanto que o mesmo estava desacreditado.. Quando eu percebo que quem me faz determinada pergunta dá indícios de que vai polemizar, muito discretamente arrumo um jeito de sair pela tangente e, se possível, mudo de assunto. Explicar algo para alguém que não quer ouvir é o mesmo que dar murro em ponta de faca.
Prosseguindo com nossa viagem, nosso mecânico começou a dar sinais de cansaço. Quem pulou para o volante foi Milton, o secretário, que, após dirigir umas três horas, também ficou cansado. Como ninguém havia comido nada até aquele momento, o comendador Morgado sugeriu que procurássemos algum lugar onde pudéssemos almoçar, na verdade, praticamente jantar, já era tarde. Depois de muito rodar naquela estrada de chão batido da qual nunca se via o final, avistamos um casebre de meia água em construção de madeira, onde, a pedido do comendador, paramos. Ele, com muito jeito, aproximou-se do barraco, bateu palmas. A porta se abriu, bem devagar; saiu um homem magro, trajando uma roupa própria de quem já agarrou uma enxada, de uns 35 anos, mais ou menos, que prontamente respondeu às batidas de palmas com um “Vamo chegá, a casa é pequena mais comporta todos”. Em vista disso, descemos do carro e nos direcionamos para aquela casinha humilde, que apareceu em ótima hora. Eu, por exemplo, estava tão cansado de ficar sentado e me virando ora de um lado, ora do outro, que não achava mais jeito de ficar dentro do veículo. Acredito que o mesmo estava acontecendo com todos. Somente o fato de poder esticar as pernas já aliviava muito. Após os cumprimentos de praxe, sentamos em um banco na frente do barraco e, nesse instante, já nos levantamos novamente, porque a mulher do homem resolveu sair de dentro da casa. Doutor Morgado, antes mesmo de o bom homem começar a puxar conversa, como é de costume, já foi perguntando, se havia como nos servir um almoço. A resposta veio de imediato, com a concordância da mulher, que já foi enxugando as mãos na saia, como um sinal de que estava se preparando para agir. Abriu uma lata de vinte litros que estava coberta com uma tampa de madeira envolta em um pano branco, pegou uma concha de madeira e tirou uns toletes de gordura com carne, que foi colocando em uma panela de ferro. Nunca vi tanta destreza, precisão e praticidade juntas em uma mulher, que, à primeira impressão, indicava ser uma pessoa sem iniciativa. Enganei-me.
Eu não sei dizer exatamente se eu estava com muita fome ou se a comida estava gostosa demais, só sei que eu comi tanto, que até hoje, só de lembrar, vem-me água à boca. A carne desse almoço tinha um sabor bem diferente das que normalmente costumamos comer em nossas casas. O jeito de fazê-la não tinha diferença alguma da usual. Refiro-me àquela carne refogada com batatas cortadas ao meio, bem sequinhas. Só que essa se parecia muito com filé de picanha, com uma diferença na cor da gordura, que pendia um pouco para o cinza, e sua firmeza ao impacto das mordidas. Assemelhava-se mais a uma carne macia, com ligeiro sabor de gordura, mas não enjoativa. Comi, pela primeira vez em minha vida, carne de paca. Rapaz! Um detalhe: o tempo utilizado para fazer para esse suculento almoço, composto de arroz, feijão, carne com batatas e suco de tamarindo, não passou de meia hora. Comemos até nos fartar. Passados alguns minutos, levantamos acampamento para prosseguir nossa viagem. Doutor Morgado deu uma gorda gratificação ao casal pela acolhida não esperada e pelo atendimento exemplar que nos deu. Eles não paravam mais de agradecer, revelando que a gratificação recebida – por sinal, merecida – foi polpuda.
Nosso mecânico, Alemão, disse para Nilton que iria dirigindo. Assim que ele se cansasse, trocariam de posições. Lá fomos nós, bem alimentados, continuar a inusitada viagem. Em todos os lugares pelos quais passávamos, tínhamos impressão de que já os havíamos percorrido várias vezes. Tanto a estrada de chão batido, com alguns pequenos trechos encascalhados, estreitos, mal comportando um veículo, como a mata ao redor tinham praticamente os mesmos formatos e contornos. Davam-nos a impressão de que estávamos sempre no mesmo lugar, quando na realidade era pura ilusão de ótica. Até aquele exato momento, já havíamos percorrido no mínimo 900 quilômetros. À medida que íamos adentrando a mata, a pequena estrada se afunilava, dando a impressão de que já fazia algum tempo que não passava carro algum por aquele caminho. A noite foi chegando, e o cansaço tomou conta. Pudera, só havíamos parado uma única vez, para almoçar (eu já estava com saudades da paca), e nada mais justo do que esticar as pernas um pouco. E agora? Para todos os lugares aonde olhássemos, enxergávamos vegetação em abundância. A solução foi procurar um local ao lado da estrada e acampar dentro do carro, talvez na capota. Não tínhamos ao menos colchonete ou saco de dormir; tínhamos de improvisar. A noite estava bem fresquinha – ainda bem –, com um luar de dar inveja, que ficamos admirando. Nosso dia-a-dia na cidade costuma ser tão corrido e concorrido que, sem que nos demos conta, acabamos por não notar essa maravilha que é o luar longe das luzes e painéis cintilantes. Alemão, o mecânico acomodou-se no próprio banco do motorista. Mal se encostou praticamente sentado, já começou a roncar, chamando minha atenção e de Nilton. Nós tentávamos encontrar um lugar mais ou menos aconchegante para poder dormir.
Começamos a debochar do mecânico, rindo que não parávamos mais, quando Doutor Morgado, com o dedo em riste em seu próprio nariz, pediu-nos para que deixássemos o coitado descansar, pois no outro dia a viagem iria ser puxada. Como ele já tinha se acomodado também, deitando o banco traseiro da Veraneio como uma cama, eu e Nilton buscávamos ao menos cochilar em cima do carro. Depois de muito labutar para me acomodar, porque o Nilton também já tinha se ajeitado para dormir, encostei-me sei lá de que jeito e já estava pegando no sono, quando Nilton cismou que tinha algum bicho em volta de nossa caminhonete. E toca a falar baixinho para não acordar o mecânico e o comendador. Eu não via bicho nenhum. Mas Nilton garantia que tinha ouvido um barulho próprio de animal. O único ruído que eu ouvia, por sinal em dose dupla, era o coaxar dos sapos numa sinfonia interminável de fazer inveja. Tentar convencê-lo de que não havia bicho algum seria perda de tempo. Ele já havia tirado meu sono, e, no intuito de acalmá-lo, sentei-me para conversar. Ficamos batendo um papo furado ecológico e científico, discutindo o sexo dos anjos, intercalando com a cadeia alimentar dos animais. As horas foram passando, e nada de Nilton se acomodar e dormir. Como eu não agüentava mais os olhos abertos, virei-me numa posição em que ele não pudesse enxergar meus olhos e dei uma de mal-educado. Dormi.
Mal comecei a pegar no sono, começou a aparecer pernilongo de tudo quanto foi parte. Meu Deus! O mecânico diz que tem um cigarrinho de palha e começa a fumá-lo, soltando baforadas para todos os lados. Doutor Morgado passa repelente, mas não adianta nada. Eu brinquei, dizendo que aqueles pernilongos eram viciados em repelente. Alemão e o comendador saíram do carro, mesmo no escuro, procurando estrume de vaca para queimar. Não sei quem falou que sua fumaça espantaria os pernilongos. Dentro da cabine da caminhonete, Nilton encontrou um charuto do Corinthians, enorme, e resolveu acendê-lo, dando baforadas, com a cabine fechada. Os pernilongos não estavam nem aí para o charuto do Corinthians. Com certeza, deviam ser palmeirenses ou flamenguistas. Não conseguimos acabar com os pernilongos, mas garanto que, se o mesmo enxame desses insetos nos reencontrarem, eles virão de máscara contra poluição, porque sabem que enfrentarão uma barra pesada aqui, com a gangue da poluição.
Como já estava clareando o dia, levantamos acampamento, e pneu na estrada, porque o carro em movimento era a única maneira de nos vermos livres dos pernilongos.
Outro inconveniente muito sério era a inexistência de postos de gasolina. Quanto mais nos aprofundávamos, mais difícil ficava para abastecer o veículo. Sempre que encontrávamos um posto de combustível, além de encher o tanque, enchíamos também um depósito reserva. Devido a usar constantemente a segunda e, às vezes, a primeira marcha para passar um barreiro ou outro, o consumo de mais combustível era exagerado. Chegamos à beira de um rio. Para atravessá-lo somente de balsa tocada a feijão: o único meio de movimentá-la era o esforço físico empregado por alguns homens. Como esse rio era relativamente estreito, nossa travessia não passou de 20 minutos, contando do embarque e desembarque da Veraneio. O que mais chamava nossa atenção era a maneira como estavam trajados aqueles homens. O calor que fazia naquele momento era de aproximadamente 40 graus, e, no entanto, eles estavam com calças e camisas de manga comprida e outra camisa ou blusa enrolada na cabeça, que deixava somente os olhos e o nariz do lado de fora. Quando descemos da caminhonete para que Alemão a desembarcasse, descobrimos a razão daquele exagero de roupas. Uma nuvem de mosquitos diminutos, que nós chamamos de “polvorazinha”, picava-nos com tanta voracidade, que até para conversar era difícil. Ao menor descuido, eles entravam pela boca. Naquela região, as pessoas chamavam esse mosquitinho de “pium”. Entramos imediatamente no carro, fechamos todos os vidros, e pé na estrada. Passados uns 30 minutos que havíamos descido da balsa, ainda havia pium dentro da caminhonete. Tivemos que abrir todos os vidros com o carro em movimento e bater com toalhas na parte interna do veículo para ver se conseguíamos expulsar os piuns ainda existentes. Estávamos a ponto de ficar loucos de tanta picada que recebíamos. Diziam os trabalhadores que, em tempos de chuvas, esses insetos atacam com mais intensidade. Era exatamente a época em que estávamos… salve-se quem puder.
Essa, aliás, foi a época escolhida pelo comendador Morgado para o desbravamento, porque sua intenção era mostrar com detalhes a necessidade de estradas de rodagem para facilitar o transporte rodoviário, importantíssimo ao desenvolvimento da região para o escoamento da safra, facilitando o intercâmbio mais amiúde entre os estados e cidades, gerando progresso e prosperidade, travados até então pela impossibilidade do trânsito de caminhões de transporte. Uma filmagem, como a que estávamos fazendo, poderia incentivar a construção de estradas, dependendo da vontade do ministro dos Transportes, na época, Mário Andreazza. Se recebesse o filme e visse as dificuldades por que passamos, talvez se sensibilizasse e implantasse vias à altura da necessidade da região naquele momento. Contornando todos os problemas, com ânimo e desenvoltura, prosseguimos em nossa nobre missão.
Dos atoleiros que enfrentávamos, somente um trator conseguia nos arrancar. Desse aspecto, porém, não podíamos reclamar. Toda vez que atolávamos, havia por perto um trator salvador de plantão. Não que isso fosse obra de alguma prefeitura, mas esperteza dos donos de tratores, que aproveitavam a deixa para ganhar alguns cobres extras, desatolando carros que se aventurassem, como nós, a se embrenhar naquele verdadeiro sumidouro barrento. Durante algum atolamento e os conseqüentes trabalho de desatolamento, no afã de ilustrar ainda mais as filmagens, eu gravava também imagens de algumas árvores que circundavam as imediações. Para filmar algumas delas inteiras, dependendo da distância que eu tomava para fazê-lo, era obrigado a erguer tanto a cabeça, que algumas vezes eu chegava a cair de costas, dada a altura espetacular da árvore. O pior de tudo isso é que, a essa altura dos acontecimentos, eu já estava também com os pés e, às vezes, também as coxas dentro do barro, ao lado do carro atolado, faltando apenas às costas para me afundar totalmente. Contando, ninguém acredita. Saindo do atoleiro, prosseguimos pela estrada barrenta, vermelha e pegajosa, mais andando de lado do que de frente, porque não existia uma estrada, mas um início de caminho que estávamos desbravando na raça, enfrentando chuva, barro, mosquito, pernilongo (naquela região, mais conhecido como carapanã) e bichos selvagens em geral, tendo como arma apenas uma espingarda chumbeira, parecida com um bacamarte daqueles que os historiadores costumam ilustrar nas mãos de Caramuru nos livros de história do Brasil. O que existia mesmo em todos nós, sem sombra de dúvida, era uma garra advinda do nada, que em nenhum momento deixava o desânimo tomar conta de nós.
Feche os olhos, imagine árvores à sua volta com a altura, no mínimo, duas ou três vezes superior à da árvore mais alta que houver em sua rua ou chácara. Imagine-se tentando enxergar alguma coisa ao seu redor ou uma brecha para visualizar algo, por mais insignificante que seja, mas em tudo e todos os lugares aos quais olhar, enxergar somente árvores descomunais em abundância, mais em baixo com três metros de altura mais ou menos, uma vegetação média diversa intercalada de cipós arranha-gato (vegetação silvestre alta, folhas pequenas e muitos espinhos em forma de anzóis em seus galhos). Imagine-se procurando olhar para o céu e só enxergar árvores frondosas escondendo praticamente quase todas as frestas que dariam uma visão minúscula do céu. Se quiser sair daquela pequena picada e ir para qualquer um dos lados, fatalmente se enroscará em alguns dos arranha-gatos à sua volta. Para se livrar dessa vegetação, somente com um facão bem afiado, é quase impossível sair desses arbustos ileso: seus espinhos, em formato de anzol, entram pelas vestes e pele, machucando demais. A única solução é cortar os galhos. Nesse ponto, abra os olhos e poderá ponderar a realidade que estávamos vivendo, sem ao menos uma faca. Nossa determinação era isenta de medo, mas cheia de renúncia e alicerçada na coragem de levar avante um trabalho pelo qual somente o futuro seria beneficiado, restando para nós o agradecimento de nós para nós mesmos, por termos sido acometidos daquele ímpeto de brasilidade espontâneo, arriscando nossas vidas, desprovidos de outras intenções, por exemplo, a de sermos gratificados, como não fomos, a não ser com o progresso que uma rodovia daquela envergadura nos traria! Somente o tempo iria dizer.
Com a caminhonete reforçada exclusivamente para agüentar aquele tranco, que até aquele momento não tinha deixado nada a desejar, quando acabamos de passar uns trechos terríveis de barro e atoleiros, avistamos outra casinha bem distante do caminho em que estávamos. Como já passava das 14 horas, e nosso estômago estava batendo palmas para que nos lembrássemos de sua existência, entramos no campo que dava acesso àquela casinha e perguntamos aos moradores se havia possibilidade de tomar água e, quem sabe?, almoçar. Foi como se tivéssemos batido na porta da parada anterior, um verdadeiro repeteco. Fomos recebidos com o maior carinho pelos moradores, que imediatamente reacenderam o fogão a lenha, dando a impressão de que nossa presença era uma dádiva de Deus. Pondo-me no lugar daqueles moradores, vivendo tão afastados da civilização, sem meios de comunicação imediata com quem quer que seja, desprovidos do mínimo de conforto necessário ao ser humano, com roupas tão surradas, com remendos muito bem-feitios, mas de tecidos logicamente de outra cor, eu, como não poderia ser diferente, também me sentiria contente ao receber uma visita como a nossa. Passávamos muita confiança e respeito, e o visitado com um mínimo de sapiência percebia que nossa visita, além de quebrar a monotonia, certamente deixaria algum dividendo, o que ninguém em sã consciência rejeita.
Tomamos duas ou três jarras de suco de carambola enquanto aguardávamos o almoço ficar pronto. Comemos dessa vez arroz com feijão acompanhado de uma farofa que os moradores insistiam em dizer que era paçoca. Eu estava com tanta fome, que concordava com tudo que era dito para evitar palavras, que me impediriam de colocar mais uma colherada de comida dentro da boca. Quando eu estava me preparando para servir meu segundo prato daquela delícia, eis que a mulher do dono da casa nos traz um caldeirãozinho cheio de macarronada e outra panela com uns pedaços de carne refogada, bem sequinha, com uma cor amarronzada, tal qual uma carne que está para começar a queimar, juntamente com umas pururucas de porco. Como eu já havia começado a me servir, achei que seria covardia de minha parte não provar aquelas maravilhas colocadas diante de meus olhos – oh, tentação danada. Parei de servir o arroz e coloquei em cima do feijão que eu já tinha em meu prato uma boa porção de macarronada, deixando um espaço extra para pôr alguns pedaços de porco com pururucas.
Para ficar completo o meu prato de morto de fome, pensei, bem que poderia ter um limãozinho para acompanhar essa carne de porco com pururuca. Mal acabei de pensar, eis que o filho do dono da casa entra com uma vasilha cheia de limão galego. Dá para imaginar o exagero do absurdo do despropósito que acabei de relatar? Nunca comi tanto e tão bem em toda minha vida. Quem estiver lendo esse meu relato gastronômico e não ficar com água na boca, das duas, uma: ou é insensível ou está de regime e quer se enganar. Após a comilança e o agradecimento de praxe, o dono disse que ainda era muito cedo para que nos fôssemos. Ansioso e curioso, perguntei se aquele porco era leitão ou porco criado. A resposta veio numa humildade própria de quem vive do que a terra lhe dá no momento. “O senhor comeu capivara em paçoca, cozida e pirurucada, moço. Tava boa, não?” Comi gato por lebre. Comi não, comemos, porque eu não estava sozinho. Se eu não tivesse perguntado, ninguém ficaria sabendo que havíamos comido carne de capivara. Ainda bem que entre nós não havia ninguém metido a enjoado. Caso contrário, nem quero imaginar quais seriam as conseqüências. Mais uma vez, fomos bem-atendidos, fartamo-nos de tanto comer, degustamos iguarias até então desconhecidas, que não faziam parte de nosso cardápio costumeiro, e até aprendemos que carne desfiada com um pouco de farinha de mandioca levada ao fogo em uma frigideira não é farofa, mas paçoca – e, ôoo, paçoca gostosa, sô.
Assim, prosseguimos desbravando, enfrentando atoleiros diversos e travessias de balsas em profusão, recheadas de adversidades. O que mais incomodava, realmente, sem sombra de dúvida, eram os piuns e borrachudos existentes em quase todos os lugares onde, por uma razão ou outra, tínhamos de parar. Enquanto estávamos em movimento relativamente rápido, conseguíamos driblar um pouco os piuns, mas com os borrachudos não havia acordo. Ao mesmo tempo em que acabávamos de espantá-los, imediatamente já haviam pousado em outra parte de nosso corpo. Quando, por alguns segundos, conseguíamos nos livrar dos piuns e borrachudos, éramos atacados até a exaustão pelos pernilongos. Isso tudo durante o dia. Quando chegava o fim da tarde, na boca da noite, aí sim, a nuvem de pernilongo não nos deixava nem mesmo falar, caso contrario ficaríamos com a boca cheia de insetos. Minhas mãos, braços e pescoço tinham tanto calombo de picadas desses insetos, que, quando eu me olhava no espelho, tinha a impressão de estar olhando para aqueles espelhos de parque de diversões que deformam as pessoas.
Como o caminho que estávamos percorrendo era tão estreito que mal comportava nossa caminhonete, tivemos, em determinado instante, de parar para não passarmos em cima de um tronco roliço e escuro. Ao chegarmos mais perto, verificamos se tratar de uma cobra sucuri enorme atravessada no caminho. Paramos e chegamos um pouco mais perto, com aquela curiosidade peculiar de todo paulista não acostumado a ver de perto animais de espécie alguma – caipira da cidade grande – e aquele espírito de porco de achar que todo bicho a gente tem de matar. Lá foi o comendador buscar seu bacamarte, a espingarda chumbeira de dois canos, para matar a sucuri. “Filma aí Primo.” Arrumei-me na pose de cinegrafista profissional e me coloquei atrás do comendador, começando a filmar. Após dois tiros a uma distância de mais ou menos sete metros da sucuri, que estava com a cabeça e parte do corpo praticamente dentro de um lago, iniciando sua entrada, ela continuou seu caminho, frustrando toda a expedição. É lógico que, talvez propositalmente, o comendador Morgado fingiu ter errado o tiro, porque àquela distância e levando-se em conta o comprimento e a largura da sucuri – duas mãos não conseguiam circundá-la –, qualquer atirador de parque de diversões teria acertado. É mister deixar patente que o comendador José Morgado, com esse feito, quis deixar uma lição de vida para quem quiser entender e, se possível, passar adiante seu ensinamento: preservar a vida dos animais; para usufruir das alegrias que sua contemplação nos trás.. Entramos novamente na caminhonete e prosseguimos a viagem. O comentário entre nós não podia ser outro senão a maravilha que foi nos confrontarmos com um animal tão grande, como jamais nenhum de nós tivera a oportunidade de confrontar. Em torno dessa conversa, uns achavam que tinha sido bom não haver matado aquela enorme cobra porque a caminhonete não agüentaria transportá-la, dado seu tamanho e peso. Outro já dizia que era só tirar o couro da bicha, enrolá-la em um pequeno pacote, e pronto.
Interrompendo o papo furado que nunca mais terminava, nosso mecânico alertou para o detalhe de estarmos com muito pouco combustível e, o que era pior, não era de nosso conhecimento a existência de posto de gasolina em nenhum lugar. Daí para frente, tudo era dúvida. Nossa última “tanqueada”, com nosso tanque reserva, já tinha ido para a cucuia. Em outra balsa, procuramos nos informar onde poderíamos abastecer novamente. Os trabalhadores nos disseram que não existia nenhum posto de gasolina naquela região e, se tivéssemos um pouco de sorte, havia o Exército, a uma distância de uns 20 quilômetros dali, mas não sabiam dizer se seríamos bem-recebidos. Como não restava alternativa, tivemos de arriscar chegar até lá, não sem antes analisar como iríamos percorrer toda essa distância se não tínhamos combustível suficiente. Alemão disse que iria tentar não usar muito primeira e segunda marchas para economizar. De comum acordo, resolvemos arriscar. Cada vez que o Alemão colocava a mão no câmbio da caminhonete para mudar de marcha era uma tortura. Quando tinha de pôr uma primeira marcha para sairmos de algum atoleiro, então, nosso coração vinha à boca. Porque é sabido que primeira e segunda marcha consomem combustível demais e, só para variar, naquele exato momento de extrema necessidade de economia de combustível, pegamos um trecho enlameado de perder de vista, um lamaçal. A essa altura do campeonato, eu já tinha dado por encerrada nossa viagem. De acordo com o marcador de combustível da caminhonete, mesmo que não houvesse aquele malfadado trecho lamacento, levando-se em consideração a distância que nos foi informada pelos trabalhadores da última balsa, nosso combustível não agüentaria nem mais 200 metros, quanto mais os quatro ou cinco quilômetros que ainda deveriam faltar.
Não sei quem sugeriu diminuir o peso da caminhonete para tentar chegar até o Exército de Goiás e depois voltarmos para resgatar o que porventura tivéssemos deixado. Mas nada na bagagem nos parecia descartável. Foi nesse ponto que o comendador Morgado disse: “Nós vamos prosseguir como viemos até aqui, sem descartar nenhuma bagagem, por mais insignificante que seja. Essa viagem foi planejada em seus mínimos detalhes, portanto, é inconcebível chegarmos até aqui e virar bagunça.” Olhando firme nos olhos do motorista, disse: “Siga em frente, Alemão.” Meio em dúvida, discordando, mas não querendo entrar em confronto com o comendador Morgado, Alemão decidiu obedecer e dar partida na caminhonete, saindo do atoleiro em que estávamos e engatando uma terceira marcha, para nosso alívio. O olhar de cada um de nós não saía do medidor de combustível. Por mais que torcêssemos, o malfadado marcador, sem dó nem piedade, abaixava como se fosse uma bexiga de ar desinflando. Para entornar mais ainda o nosso caldo, entardecia. E agora? Se tivéssemos que pernoitar naquelas redondezas, tenho certeza de que ninguém conseguiria agüentar. Era grande nosso desgaste físico e mental, resultante dos esforços que fizemos entre um atoleiro e outro. E havia a agravante de nossa preocupação de ficar sem pai nem mãe naquele verdadeiro fim de mundo, no meio do barro, cercados de árvores gigantescas e arranha-gatos, com piuns, mutucas e pernilongos por todos os lados, mais a eventualidade de trombar com algum animal feroz, que era o que mais devia haver naquela selva inexplorada. Passar uma noite ali seria suicídio. Se naquele instante houvesse um medidor de pressão conectado a nós, teria explodido. Com muita destreza, Alemão conseguiu vencer aqueles quase 100 metros de lamaçal, que consumiram grande parte de nosso líquido mais precioso naquele momento, a gasolina. Para saber exatamente o lugar em que estávamos naquele momento, paramos a caminhonete. Chovia muito, e, para nosso espanto, a menos de 50 metros à frente, estava a entrada de acesso ao batalhão do Exército de Goiás, tão decantado em verso e prosa. Ficamos mais contentes do que criança quando ganha doce. Só faltava não sermos recebidos por eles. A essa altura dos acontecimentos, nada que acontecesse seria novidade.
O comendador Morgado se apresentou para o soldado da guarita e foi encaminhado ao comandante do destacamento, que se inteirou do propósito daquela nossa expedição, considerando-a uma verdadeira aventura, mas louvável e digna de ser reverenciada pela grandeza de seu propósito. O comandante, após elogiar nossa coragem em fazer o desbravamento, disse ao comendador Morgado que sentia muito não poder nos auxiliar no tocante à gasolina, porque eles usavam óleo combustível ou querosene. Estava, portanto, descartada a possibilidade de prosseguirmos com nosso intento. E agora, José? Imediatamente, nosso mecânico cochichou no ouvido do comendador algo que o comandante ouviu e a que respondeu antes que Doutor José Morgado falasse. Alemão havia dito que a Veraneio estava também adaptada para uma eventualidade como essa: podia usar querosene como combustível. Sem pestanejar, o comandante deu ordens a um de seus comandados para que providenciasse o abastecimento do carro com querosene. O funcionamento do veículo foi perfeito. O que Alemão modificou para que não houvesse nenhuma diferença nessa troca de gasolina para querosene, eu nem posso imaginar. Só sei dizer uma coisa: naquele instante todos nós respiramos aliviados, por duas razões. A primeira pela solução do problema de combustível. E a segunda porque o comandante nos orientou exatamente quanto ao local onde encontraríamos outro posto de gasolina. Dessa vez, não havia como duvidar – tinha sido dito por alguém que inspirava confiança. Por diversas vezes, durante o trajeto, recebemos tantas informações desencontradas, desprovidas de coincidência com às distâncias fornecidas. Como dependíamos dessas diversas informações, – certas ou erradas – não havia por onde não aceitar o que nos era ensinado.
Abastecidos e com os ânimos também recarregados, lá fomos nós novamente, agora com destino a Mato Grosso. Os problemas, repetindo-se, assemelhavam-se a um filme sendo rodado de trás para frente. Em toda casa de camponês – se é que podemos chamá-los assim – na qual parávamos para pedir um almoço recebíamos tratamento digno de ser comentado e elogiado, cinco estrelas. O que variava de um lugar para outro era a qualidade de carne. Não houve um só lugar que nos serviram carne bovina. Toda carne que comíamos, sem exceção, era proveniente de caça. Só não comemos carne de onça, se bem que tenho minhas dúvidas. Quanto a outros animais, nós os comemos à exaustão: capivara, paca, veado, anta, tatu, cateto, queixada, mateiro, catingueiro, quati, jacaré, tiú e outros “bichitos más”. Outro detalhe importante: comemos muitas vezes carne de ave pensando que fosse galinha ou frango, mas, na verdade, quando não era garça, era socó, perdiz, jaó, aruanã, colhereiro, tuiuiú, enfim, o animal ou ave que desse “sopa” para o pessoal que vivia naquelas paragens, na certa, viraria almoço ou jantar.
Nós, moradores de cidades distantes das florestas e matas virgens, não chegamos nem perto dos sertanejos em matéria de alimentação. Na cidade, ao nos levantarmos, quase a maioria de nós toma, quando muito, uma xícara de café com leite, um pãozinho com manteiga e, uma vez ou outra, um mamãozinho papaia. E só. Já o sertanejo, ao se levantar, toma chimarrão, come um ou dois pratos de arroz carreteiro, um ou dois ovos fritos, feijão, carne de panela (refogada), macarrão, café com leite, pão com manteiga, queijo e, se sobrou alguma comida do jantar, também entrará no cardápio do desjejum, que, a essa altura do campeonato, mudou de nome: quebra-torto. Exatamente esse é o nome dado ao café do sertanejo e de todo povo que vive em fazenda. Simpático, não? Esse quebra-torto é comido praticamente quando mal está clareando o dia. Lá pelas 11 horas, repetem-se todas as iguarias. Às 14 horas, é servida a merenda. Tudo o já visto, mais bolo, chipa, café com leite, pão de queijo, requeijão, doce de leite e milho cozido. Às 17 ou 18 horas, come-se tudo o citado, encerrando com umas cuiadas de tereré ou chimarrão, se o tempo estiver meio frio. O tereré nada mais é do que uma cuia de chimarrão, com erva mate apenas triturada, que se deve tomar com água fria, através de uma espécie de canudinho cromado, tendo na sua ponta uma “peneirinha” em forma de escumadeira (dessas próprias para servir arroz), que serve para coar o pó da erva, evitando que ele suba para nossa boca. O certo é subir somente o líquido, ligeiramente amargo e refrescante. Para encerrar com chave de ouro minha explanação, tenho a dizer que, como nós da cidade oferecemos para alguém que nos visita um cafezinho, os sertanejos e a maioria das pessoas do campo, que vivem principalmente em fazendas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, oferecem um tereré. Mais um detalhe importantíssimo: se vierem três, quatro ou cinco visitantes, o tereré será servido com a mesma cuia e bomba (canudinho de inox). Quando um acaba de tomar, o dono da casa volta a encher de água a cuia, servindo-a para outra visita, que também tomará e passará para o próximo, até as visitas se fartarem de beber o tereré. Chique não? É a “roda de tereré”. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados lançadores e mantenedores desse costume, que se tornou tradição entre seu povo graças ao cultivo da erva mate, cultuado e divulgado pelos historiadores Eduardo Metello e Paulo Coelho Machado, por meio de suas histórias memoráveis, escritas e divulgadas em forma de folhetim em um dos jornais de maior circulação diária em Mato Grosso do Sul, – Correio do Estado – cujos proprietários e administradores, os Barbosa Rodrigues, sempre imputaram respeito e credibilidade, alicerçados no tino empresarial jornalístico e um passado ilibado, que foi herdado e seguido, passando de pai para filhos, inegavelmente reconhecidos pela população do Estado de Mato Grosso do Sul.
Quanto ao quebra-torto, há controvérsias. É voz comum entre os fazendeiros justificar o fato de ser tão reforçado pela necessidade de bem alimentar o peão, que em comitiva, irá conduzir a boiada em cima do dorso de um cavalo por tempo indeterminado, enfrentando todas as adversidades possíveis inerentes à condução do gado, cuidando para que chegue em perfeitas condições ao seu destino, faça chuva ou faça sol, sem hora definida para voltar a comer novamente. Mas, na minha modesta opinião, com a desculpa de ser a alimentação necessária para o peão agüentar a sua cavalgada conduzindo uma boiada, tem “nego” infringindo um dos dez mandamentos – a gula – e se empanturrando diariamente com tudo que tem e não tem direito, sem estar tendo que sair para cavalgada conduzindo boiada alguma. Daí, chega-se à conclusão de que há os que se aproveitam da deixa do peão para satisfazer sua gulodice. Não posso deixar de citar também minha indignação ao comprovar a quantidade de comida consumida por cada indivíduo. Há alguns que mais parecem um saco sem fundo! Quando se pensa que o elemento já saciou sua fome, ele torna a encher seu prato, duas, três, quatro ou até cinco vezes, ininterruptamente. E não pensem que sejam avantajados em suas estaturas, calculo que tenham em média de 1,67 a 1,70 m, pesando no máximo entre 60 e 65 quilos, mais ou menos. Daí, minha admiração em ver a quantidade de alimento que conseguem engolir. Mastiga-se muito pouco por aquelas paragens.
Voltando à vaca fria, continuemos a viagem. Após enfrentarmos muitas adversidades, tendo como combustível o querosene, chegamos a Cuiabá, capital de Mato Grosso, com o comendador Morgado se dirigindo direto para o Palácio do Governo, cujo ocupante naquela época era o engenheiro Pedro Pedrossian, respeitadíssimo pelo seu estilo empreendedor e arrojado no tocante a lançamentos de obras de grande relevância, entre elas universidades. Nessa data, ainda era o Mato Grosso uno, não havia sido feita a divisão que, mais tarde, criaria Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O comendador Morgado foi muito bem recebido pelo governador, que gentilmente o convidou para almoçar em sua residência, situada perto do Palácio do Governo. Durante o almoço, como não podia deixar de ser, foi aquela rasgação de seda tão peculiar nesse tipo de ocasião. Se um jogava confete, o outro atirava serpentina, com as duas partes em sintonia no mesmo propósito: fazer daquele almoço um lance de escada vencida, nas pretensões mútuas de bem servir ao próximo, respeitados seus devidos valores.
Deixamos Cuiabá com destino a Porto Velho. Quanto mais nos distanciávamos de Cuiabá, mais dificuldades encontrávamos. Nas poucas vezes em que tínhamos de descer da caminhonete para fazer alguma coisa, os mosquitos nos atacavam com uma voracidade inimaginável. Para fazer uma necessidade fisiológica, logicamente na moita mais próxima, nossas nádegas pagavam o pato. No instante em descíamos as calças viravam alvo de um verdadeiro enxame de pernilongos, fazendo-nos pagar por todos os pecados do mundo ou mais. Sinceramente, não gostaria de repetir essa façanha nem por todo o dinheiro do mundo – logicamente, isso é força de expressão.
Apenas a título de curiosidade, procure se colocar na posição de uma pessoa que precisa fazer necessidade fisiológica no meio do mato, por não haver alternativa. É exatamente nessa hora que passamos por tudo e por todos para saciar nossa necessidade o quanto antes possível. Imagine-se com as calças abaixadas… de cócoras…, concentrando-se em dar aquela tão pura defecada, e centenas de pernilongos sedentos de sangue o atacam pela retaguarda ao mesmo tempo! Logicamente, você vai se ver em uma situação extremamente delicada. Não existe esse ou aquele indivíduo que consiga resistir a tal ataque aéreo! O resultado disso tudo é até difícil de descrever. Se, por um esforço sobrenatural, a pessoa conseguir agüentar as picadas dos pernilongos, tenha certeza de que foi o tempo suficiente para, num esforço concentrado, conseguir, a duras penas, defecar mal e porcamente. Quanto a conseguir se limpar, prefiro deixar que sua imaginação conclua. Fica aí no ar para nossos inventores de plantão colocarem suas mentes a funcionar em prol de criar alguma engenhoca capaz de solucionar tamanho problema, “et pernilongos in defecoriuns”, supracitado.
Como não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe, por um lance do destino, conseguimos chegar a Porto Velho. Isso sem contar que passamos, uma infinidade de vezes, por tudo o que já foi contado. Ficamos hospedados em um hotel quase na frente do Palácio do Governo. Só que dessa vez não vimos nem a sombra do governador. Mal chegamos ao hotel, nosso caminho foi apenas um: ir ao banheiro tomar um senhor banho, há muito tempo e exigido por quem tem um mínimo de olfato e bons costumes. Se não ficamos pelo menos 30 minutos embaixo do chuveiro para amolecer nossa sujeira incrustada, foi pouco. Depois de vestidos com roupas limpas, honestamente falando, parecíamos outras pessoas. Só o barro que saiu de mim não dá para descrever. Quando me olhei no espelho para me pentear, levei o maior susto de minha vida. Eu, que fazia chacota dos meus companheiros de viagem, por conta da deformação de seus rostos pelas picadas de piuns, borrachudos, pernilongos, etc., imaginava que estivesse com minha cara praticamente intacta. Mas eu estava parecendo um verdadeiro monstro. Para ser mais exato, meu rosto parecia o de um boxeador que apanhou de seu adversário do começo ao fim de uma luta de 12 assaltos. Com minha fisionomia toda deformada, eu não via a hora de jantar e cair em uma cama para me refazer um pouco daquela cansativa viagem e dormir até as 11 horas do dia seguinte. Minha alegria durou pouco. O comendador Morgado já havia combinado de sairmos pela manhã bem cedinho. Como eu estava ali para o que desse e viesse não fiz nenhuma objeção. Pensava, porém, que fôssemos encarar o trajeto até Manaus de carro, quando na verdade nossa viagem estava programada para ser de barco.
Pela manhã do dia seguinte, encaminhamo-nos ao porto. A embarcação em que viajaríamos estava atracada. Subia tanta gente nesse barco, que eu estava ficando preocupado se sobraria lugar para nós todos, mas o secretário do comendador Morgado disse que havia dois camarotes reservados para nós – menos mal. Chegada nossa vez de embarcar, notei a falta de nosso mecânico. Como no dia anterior, cansado que eu estava, fui dormir mais cedo, perdi o bonde da história: Alemão não seguiria conosco. Seu estado de saúde inspirava cuidados, pois ele estava com sintomas de maleita ou coisa parecida. Já o haviam levado para fazer os exames necessários no hospital da cidade. Como se comprovou não ser nada sério, eles combinaram que o mecânico voltaria de Porto Velho para São Paulo, acompanhando a Veraneio, que retornaria em cima de um caminhão – ela bem que merecia dados os serviços prestados. No mesmo barco, também com o mesmo destino, viajava a filha do dono da embarcação. Pelo menos era o que eu pensava. Os embarcados, pessoas de ambos os sexos, alguns com crianças, distribuíam-se pelo meio da embarcação a seu bel prazer. A maioria, mal embarcava, já ia logo ajeitando um lugar para armar sua rede. Estranhei tudo aquilo. Mas só no começo da noite, fui tomar ciência do porquê daquela afobação toda. Quem conseguiu um armador ou improvisou para armar sua rede dormiu sossegado, ao passo que os outros tiveram de dormir no chão. O trânsito pela barcaça, de noite, era praticamente impedido, devido à quantidade de gente espalhada pelo chão, dormindo. Uma coisa me deixou muito admirado: o respeito que prevalecia na convivência de homens e mulheres, irmanados no propósito daquela viagem, que, diga-se de passagem, não era nada fácil de agüentar, por razões lógicas, próprias de todo ser humano. Imagine-se em cima de uma barcaça de mais ou menos 15 metros de comprimento por oito metros de largura, aproximadamente, com mais ou menos 80 passageiros, levando-se em conta serem todos estranhos. Muito difícil o convívio, durante cinco dias ininterruptos, nessas condições, sem ao menos enxergar as margens dos dois lados do rio, em razão da enorme distância de uma margem a outra. Para nos distrairmos um pouco, íamos até o comandante e timoneiro da embarcação, que, para variar, tinha isso e as histórias para nos contar, todas das diversas viagens feitas por aquele barco. Volta e meia, ele parava de conversar para poder dar mais atenção ao leme, que manejava com maestria. Essas paradas significavam que logo mais à frente havia uma enorme árvore sendo arrastada pela correnteza do Rio Madeira, no qual estávamos navegando.
Esse rio devia ser bem fundo, levando-se em consideração só enxergarmos o pião e as raízes das árvores que estavam sendo arrastadas. Uma vez ou outra, uma árvore deixava aparecerem os galhos. Isso tudo não era nada comparado ao perigo que a embarcação corria, tendo de se desviar também de uma infinidade de toras de mogno, cerejeira, cedro, etc., que rodavam pelo rio. Os madeireiros da região usavam indiscriminadamente esse recurso para o transporte das toras de madeira. Quanto ao risco que os barcos corriam, era um problema que passava despercebido pelos “preocupados” madeireiros, ávidos por faturar, doesse a quem doesse. Durante o dia, navegávamos com o perigo iminente batendo à nossa porta, mas, pelo fato de ser de dia, não atinávamos tanto para o perigo de virar nossa embarcação, porque era fácil de enxergar aquelas enormes toras de árvores, dando-nos tempo de desviar. Para tanto, contávamos com a destreza de nosso timoneiro, no qual já havíamos aprendido a confiar. Quando anoitecia, nossa preocupação era redobrada, porque, dependendo de haver luar, a atenção do comandante não podia de forma alguma ser desviada do rio. Um mínimo de descuido seria fatal. Devido à profundidade do rio, algumas vezes, as árvores – que, na maioria das vezes, eram arrastadas com a copa para baixo e as raízes na parte de cima, tal qual tentáculos de um polvo gigante – afundavam e voltavam à tona, como num movimento de ioiô, provocando em sua descida um redemoinho enorme. Dependendo da proximidade, uma embarcação poderia sucumbir naquele verdadeiro sumidouro. Em vista disso, nossa atenção ficou totalmente voltada para o rio, imbuídos da intenção de colaborar com o timoneiro, que não demonstrava o mínimo sinal de preocupação. O jeito de ele olhar para as águas do rio, por si só, trazia uma confiança confortante. Para embaçar mais nossa situação de marinheiro de primeira viagem, estávamos em uma noite sem luar.
Era uma escuridão total. Dentro da embarcação, havia uma iluminação tão fraca, que um ou outro passageiro mantinha ligado um lampião para poder enxergar o mínimo necessário. Transitar no meio daquelas redes espalhadas chegava a ser assustador, pelo barulho quase ensurdecedor do ronco coletivo ecoando pelo convés. Como não estávamos com sono, o timoneiro, não querendo ser indelicado conosco, mas na certa querendo se ver livre de nós, disse-nos que, se quiséssemos, poderíamos descer ao porão da embarcação, à sala de máquinas, onde ficavam os motores. Ali havia uma abertura estratégica, própria para pescar com o barco em movimento. Sempre fui amante da pescaria, adorei a idéia e, juntamente com o secretário do comendador, que a essa altura do campeonato devia estar ferrado no terceiro sono dentro de sua cabine, desci para o porão. O que tinha de gente dormindo em rede também lá embaixo não era brincadeira. Mas, como havia dois indivíduos jogando linhadas, juntamo-nos a eles. Toca pescar e contar lorotas. Um deles contou que, certa vez, pescando ali embaixo, fisgou um peixe tão grande, mas tão grande, que somente a fotografia do peixe pesou mais de 30 quilos. O segundo pescador não deixou por menos. Contou que, numa dessas viagens, deixou cair sua lanterna acesa dentro do rio. Após cinco dias, retornou sua viagem e, ao passar pelo mesmo lugar do rio, encontrou a lanterna, que ainda estava acesa. O primeiro pescador, não acreditando, já foi dizendo que não acreditava que a lanterna ainda continuava acesa depois de tanto tempo. Nisso, o segundo retrucou ao primeiro, dizendo que se ele diminuísse o tamanho e o peso do peixe que disse haver pescado, apagaria a lanterna.
Não demorou muito e nós já havíamos pescado até que uns bons peixinhos. O que mais pescávamos, conforme nos informou um dos colegas de pescaria, era piranha. Estranhei um pouco porque, pelo que eu conhecia daquele peixe, era um pouco mais claro e arredondado, muito diferente desses que estávamos pescando, que eram compridos e escuros, assemelhando-se mais a traíras, em todos os aspectos. Um dos companheiros deu uma ligeira espetada, com um canivete, num dos animais para me mostrar à diferença. Mal ele acabou de furar o peixe, chegou quase a espirrar sangue. Tendo em vista a demonstração, não questionei mais nada. E tome conversa fiada. Um dos pescadores, o mais falador, começou a dar uma urinada na água do rio e ficava interrompendo seguidamente seu jato de urina, enforcando o pênis e o soltando repetidamente. Sem ninguém perguntar nada, ele começou a dizer que estava fazendo aquilo para impedir que um peixinho muito pequenino, existente no Rio Madeira e Rio Amazonas, pudessem subir pelo jato da urina e entrar no seu membro, trazendo-lhe complicações das mais desastrosas para sua saúde. Procurei não polemizar, por se tratar de ser conversa de pescador, cuja credibilidade sempre está em xeque. Mas, como eu tinha também, volta e meia, de usar o mesmo recurso, não deixei de, sutilmente, perguntar para mais alguns passageiros se havia algum cunho de verdade naquilo tudo. A própria filha do comandante da embarcação me assegurou que aquela história era verdadeira. Afirmou também que muitas mulheres daquela região, quando se banhavam naqueles rios, nunca faziam pipi na água, porque fatalmente o tal peixinho adentrava seus órgãos genitais, pelo jato da urina, trazendo doenças que os médicos não conseguiam curar. Em outras palavras, era morte na certa. Bichinho danado!
Enquanto conversava comigo, ela lixava suas unhas com uma lixa esquisita, de cor acinzentada bem escura, em formato de uma colher grande, dessas que usamos para mexer comida na panela, três vezes maior que uma colher comum de tomar sopa. Curioso que sou, perguntei onde ela havia comprado e de que era feita aquela lixa. Pirarucu, respondeu ela. Mais encabulado ainda eu fiquei e retornei a fazer a mesma pergunta. Pirarucu, ela tornou a responder. Eu olhei bem para ela com olhar de indignação, disposto a não mais perguntar nada. Notando meu silêncio, ela me disse: “Você não conhece pirarucu?” Eu respondi que, se eu conhecesse, não estaria perguntando para ela. Percebendo que eu realmente estava dizendo a verdade, resolveu, enfim, explicar-me com mais detalhes. “Pirarucu é um peixe aqui da região do Amazonas, de um tamanho fora do normal. Uma escama dele é isso aqui com que estou lixando minhas unhas.” Confesso que fiquei matutando comigo mesmo quem era mais mentiroso: o pescador ou a filha do comandante. Para não perder a amizade da amiga de viagem, fingi que acreditei naquela história doida da escama de peixe que serve para lixar unhas e disfarcei, olhando para o meio do rio Amazonas, com aquela imensidão de águas a perder de vista por todos os lados a que se olhasse. Nesse instante, espantei-me com um enorme peixe de cor meio avermelhada, que estava seguindo nossa embarcação. Perguntei se não seria aquele o peixe que ela disse ter a escama tamanho família. Ela me olhou com ar de quem não gostou muito do jeito da pergunta e respondeu secamente que muito se admirava que eu não reconhecesse um boto cor-de-rosa. Como eu não conhecia mesmo aquele peixe, e percebendo que havia dado mancada, procurei me justificar, pedindo-lhe que me perdoasse se de alguma forma eu a tivesse ofendido. Frisei que se o fiz não foi intencionalmente, mas por desconhecer a região e sua fauna. Imediatamente, ela mudou a expressão de carranca de seu rosto e esboçou um sorriso, dizendo: “Já que é assim, considere-se perdoado. Como prova de que eu reconheço seu desconhecimento, digo-lhe mais quanto a esse peixe. Existem muitas histórias populares sobre o boto cor-de-rosa relacionadas ao encantamento que ele exerce sobre as moças que circundam as margens do rio Amazonas. Se tivesse de contar todas, passaríamos a noite inteira e não conseguiríamos narrar nem metade. Os pais de família em geral, que têm filhas na faixa de 13 a 21 anos, quando sabem que haverá luar e o boto cor-de-rosa estará rondando por essas paragens, prendem as meninas dentro de casa com medo de que suas filhas sejam encantadas por ele.”
Nesse instante, eu a interrompi, admirado: “Você está brincando, não está?” “Nunca falei tão sério em toda minha vida. Como eu havia dito, existem casos relacionados a esse peixe com as moças virgens de nossa região que são de arrepiar os cabelos de qualquer pai de família. Os mais antigos contam que, tempos atrás, havia um casal de noivos, já com data marcada para o casamento. Dois meses antes do enlace, a noiva, acostumada a, em noites de muito calor, aproveitar a claridade do luar para tomar banho no Rio Amazonas, assim o fez. Enquanto se banhava, viu, nadando a poucos metros de distância dela, um boto cor-de-rosa que era a coisa mais linda de se ver. Admirada com a beleza exuberante e as piruetas que ele fazia para ela, passou a pedir para que ele fizesse mais piruetas. O boto a obedeceu e atendeu seu pedido imediatamente. A moça quase não acreditava no que estava acontecendo. Tudo que ela pedia, o boto fazia. Foi então que ela passou a conversar com o peixe como se gente ele fosse, chegando a ponto de imaginar que estivesse conversando com seu próprio noivo. O boto, então, pegou-a pelas mãos e, quando ela menos esperava, estavam os dois passeando sobre as águas do Rio Amazonas sem afundar. Foi então que ela se virou para ele e perguntou se aquilo estava acontecendo realmente ou era um sonho, do qual ela acordaria a qualquer momento. Quando se virou para o outro lado e retornou seu olhar para o boto, não era mais ele quem segurava sua mão. Ao lado dela, estava nada mais nada menos que seu próprio noivo, todo paramentado, como se estivesse com ela dentro da igreja para dar início ao seu casamento. Nesse instante, ela disse que não era possível estar acontecendo tudo aquilo, sem contar que ela nem com seu vestido de noiva estava, como poderia estar se casando? Foi aí que ela, não sabe como nem por que, viu-se jogando seu buquê de noiva para trás, vestida com seu vestido de noiva! Depois, ela não soube precisar quanto tempo ficou sem ver nada. Quando deu por si, estava deitada em uma pequena praia – a mesma na qual costumava se banhar – totalmente nua. Por incrível que possa parecer, clareava o dia. Voltou para sua casa. Como era filha de pais muito sistemáticos, não teve coragem de dizer o que se passou realmente naquela noite de lua cheia, pois certamente seus pais não acreditariam. Para evitar problemas maiores, mentiu que foi dormir na casa de uma colega sua de nome Veridiana. Somente recebeu algumas repreensões de seus pais e foi obrigada a fazer uma promessa de que nunca mais repetiria isso sem antes avisá-los. Assim, o tempo seguia seu curso, bem como sua vidinha, mas nunca mais como anteriormente. Com exceção de sua amiga Veridiana, ela não encontrou coragem para contar para mais ninguém o episódio. Aquele acontecimento realmente acabou mudando o ânimo da moça, antes tão alegre e extrovertida, o que foi notado por todos que tinham alguma convivência com ela. Dois meses se passaram e eis que é chegada a semana decisiva, na qual se realizaria seu tão sonhado casamento. O noivo e a noiva, imbuídos de um só pensamento, o de agilizar os preparativos para a realização do matrimônio, convivendo praticamente juntos diuturnamente, começaram a se inteirar dos problemas comuns do dia-a-dia de cada um. A moça, tendo mais liberdade de contar para o noivo coisas que nem para sua mãe tinha coragem de dizer, começou inclusive a se queixar para seu noivo de enjôos, dizendo que na primeira oportunidade iria a um médico para ver se ele descobria o que lhe causava aquilo. Nisso, vira-se o noivo e lhe diz, com ar de deboche: “Ah, já sei: você está esperando bebê, só que eu não sou o pai! Ah, já sei, você está esperando um filho do boto cor-de-rosa.” E deu uma boa gargalhada, ao que ela retrucou: “Não brinque com essas coisas”. O rapaz então lhe perguntou se ela já não tinha ouvido as histórias que o povo contava das virgens que ficaram grávidas do boto cor-de-rosa. Ela, nervosa, pediu-lhe que não fizesse esse tipo de brincadeira, porque ela tinha uma passagem consigo que nem para sua mãe tivera coragem de contar. O noivo lhe disse: “Agora, sou eu que lhe peço para parar de brincadeira e dizer o que você está escondendo de mim”. Ela respondeu: “Não estou escondendo nada. Apenas aconteceu uma coisa estranha comigo, que eu não contei pra ninguém, porque imaginei que iriam me chamar de louca ou de mentirosa. Mas, como nós estamos para nos casar ainda esta semana? eu acho que posso confiar em você, que vai ser meu marido”. E ela então, começa a lhe contar a história. Ele retruca: “Você acha que eu vou acreditar nessa sua patacoada? Escute aqui – pegando-a pelo braço –, vamos ao médico ver esse enjôo seu agora”. “Agora?”, pergunta ela. E ele: “Exatamente. Agora eu quero saber qual a verdadeira razão desse seu enjôo.”
A filha do comandante continuou seu relato: “Após os exames, o médico lhes disse que ainda precisaria de uma análise da urina da noiva para dar seu verdadeiro diagnóstico. O casal de noivos quase não podia se tocar: que já saía uma discussão acalorada com xingamentos de ambas as partes. Pronto o exame de urina pedido pelo médico, lá foram os dois, emburrados, levá-lo para o diagnóstico. Ao simples passar de olhos pelo resultado, o médico virou-se para os dois e, com um sorriso, disse-lhes: Parabéns, a senhora vai ser mamãe e o senhor vai ser papai. Nesse exato momento, a noiva olhou para seu noivo indignada, balançando a cabeça como que querendo dizer que não acreditava. O noivo, dando uns passos para trás, pegou de um revólver e puxou o gatilho em direção de sua noiva, uma, duas e três vezes, mas as balas não saíram. Nisso, o médico tentou tirar o revólver da mão do noivo, que jogou o objeto em cima dela e saiu correndo feito um louco, gritando palavrões, não dando oportunidade ao médico de alcançá-lo. O médico, desistindo, retornou. Quando entrou na sala de espera, ouviu um tiro ecoar dentro do consultório. Imediatamente, abriu a porta e se deparou com a noiva estirada no chão, ela havia tirado sua própria vida, com o revólver que por três vezes havia falhado. Esse fato foi verídico. Quem duvidar, que pergunte a dona Veridiana – uma senhora de seus oitenta e poucos anos – que foi a única pessoa a ouvir essa história da própria noiva. Se você conversar com a maior parte dos passageiros desta embarcação, tenho certeza de que muitas histórias do boto cor-de-rosa hão de ser contadas. Agora, quanto a acreditar ou não, fica a critério de quem ouvir. Alguns dizem que nada mais são do que mentiras deslavadas, criadas por moças defloradas, que aproveitando-se da ingenuidade de seus pais, na maioria habituados a ouvir isso e outras casos do boto cor-de-rosa, sem mais nem menos inventam uma história mirabolante para justificar o fato de terem perdido a virgindade. Como conseqüência, acaba sobrando para os ingênuos pais, terem que criar um neto bastardo, e, ainda por cima, obrigados a esconder de todos a origem da criança, com receio de que acabe virando chacota na boca do povo.
Assim, a filha do comandante encerrou sua história, perguntando-me o que eu achava de tudo aquilo. Olhei para o Rio Amazonas em volta de nossa embarcação e contei três botos cor-de-rosa acompanhando nossa embarcação. Olhei de novo para a filha do comandante, que, ansiosa, aguardava minha definição, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Naquele instante, antes de responder o que eu pensava, matutei com meus botões. Se eu disser que não acredito nessa história, sem sombra de dúvida, vou entrar em choque de opinião com ela. Pelo ânimo com que me contou o caso – doido – eu não tinha a menor dúvida de que, das duas uma: ou ela estava me achando com cara de bobo ou tentando conseguir, por meio de uma resposta positiva, mais um adepto do culto a essa verdadeira patacoada, envolvendo o inofensivo animalzinho como o vilão dessas histórias tolas criadas pelas jovens dessas paragens. È evidente que, sem coragem de enfrentar as conseqüências de um ato mal-pensado, elas inventem histórias mirabolantes. Pelo fato de fluir falsas justificativas com a maior naturalidade em suas cabeças, demonstra claramente terem discernimento lógico de sobra para antever o que pode acontecer. Salutar seria portanto, evitar a exposição de seus pais ao ridículo, e não menosprezar a capacidade humana, pré-julgando quem as ouve. Atribuir culpa a um dos poucos seres aquáticos conhecidos e reconhecidos por feitos sui generis, tais como salvar vidas de pessoas que estavam se afogando, por exemplo, é demais pra minha cabeça. Enaltecê-lo, sim. Nunca: inventar histórias que possam ir contra a imagem desse animalzinho tão querido e admirado pelas crianças de todas as idades.
Dito isso com meus botões, vi-me em palpos de aranha para responder o óbvio. Mas, como eu não sou chegado a enganar quem quer que seja, procurei dissimular minha resposta – fiquei em cima do muro – para conservar nossa amizade. Afinal de contas, iríamos viajar mais três dias na mesma embarcação. Em vista disso, em vez de responder, disse-lhe que eu gostaria de saber primeiramente qual era a opinião dela. Imediatamente, respondeu-me que ela não poderia ser diferente de quase toda população da região, que acredita e respeita os ensinamentos advindos dos mais idosos, que foram os que mais vivenciaram as diversas histórias relacionadas ao boto cor-de-rosa. “Como se não bastasse”, ela frisou, “tem-se comentado que, em noites de lua cheia, ainda uma vez ou outra, uma moça mais afoita se atreve a banhar-se no rio e depois não sabe como encarar os seus familiares. Prova evidente de que, até hoje, o boto exerce seus poderes de sedução e encantamento sobre as jovens virgens. E tem mais”, continuou, “por mais que o povo tente esconder quem é o pai do filho de uma dessas virgens que sofreram o encantamento do peixe, quando a criança fica adulta, é reconhecida pela população, porque adquire dons que a diferenciam dos seres normais. Eu mesma já conheci uns quantos. A maioria possui poderes de antever a vida das pessoas. Como existem muitos curiosos em querer saber seu futuro, procuram um desses filhos do boto e lhe pagam algumas merrecas para satisfazer sua curiosidade. Se você acreditar, é só perguntar para alguma dessas pessoas embarcadas, e elas irão lhe dar o endereço de algum filho do boto, que poderá adivinhar seu futuro. Agora você me dá licença, que eu estou morrendo de sono e vou me recolher.”
Com a moça fechando a matraca, dando-me um tempo para lavar meus penicos – foi nisso que ela transformou meus pobres ouvidos, com tanta m. – honestamente eu me arrependi de ter dado tanta atenção àquele papo furado, sem pé nem cabeça, que desde o início eu havia pressentido que iria enfrentar, descascando um abacaxi tamanho família. Mas foi bem-feito pra mim. Quando criança, fazia cocô e xixi nas fraldas, dando trabalho para minha mãe, e agora eu estou pagando por essas maldades que praticava quando bebê. Que sirva de exemplo a todas as criancinhas mal-informadas a respeito das conseqüências de seus atos em sua vida futura. Analisando realmente o que foi contado, cheguei a ficar um bom tempo calado, após a moça dizer que iria dormir. Realmente fiquei cansado de ouvir aquela moça contar tanta besteira junta, sem ao menos ficar vermelha. O pior de tudo é que ela contava tão devagar, que eu praticamente já sabia o que iria falar, mas tinha de ter paciência e esperá-la concluir. Quando me disse que se recolheria, imediatamente, desejei-lhe boa noite, receoso de que continuasse matraqueando, e permaneci um bom tempo quieto, aguardando que entrasse em seu camarote, o mesmo do comandante. No entanto, tal não aconteceu. Para meu espanto, a moça foi se deitar em uma das redes que estavam espalhadas pelo meio da embarcação.
Achei a atitude um tanto sem cabimento e, como eu não estava com sono, dirigi-me até o comandante para jogar um pouco de conversa fora. Após as saudações costumeiras de quem está se vendo a todo instante, eu displicentemente perguntei quantas camas o camarote dele tinha. “Duas”, respondeu-me. “Por que você pergunta?” Respondi: Por nada não, apenas por curiosidade. Posso fazer mais uma pergunta ao senhor? “Sim.” Por que sua filha prefere dormir no meio do barco e não em seu camarote? O comandante retrucou: “Antes de responder, gostaria de saber onde você conheceu minha filha.” Aqui nesta embarcação! Aliás, ela acabou de ir se deitar numa daquelas redes,- respondi. “Você está brincando comigo?”, perguntou o timoneiro. Eu lhe disse que de forma alguma. Estava conversando com ela agora há pouco, inclusive, ouvindo-a contar uma dessas histórias do boto cor-de-rosa. Quando terminou, despediu-se de mim e foi dormir em uma rede. Por não entender porque ela trocou seu camarote com todo conforto por uma rede no meio de todo aquele povo, eu, mesmo sabendo que pudesse receber uma daquelas respostas tapa boca – como, por exemplo, o que você tem a ver com isso? – atrevi-me a vir perguntar ao senhor. O comandante, calmo, respondeu: “Escute, meu filho. Fique descansado que você não vai me ouvir dizer tapa boca nenhum. Quanto a dizer que estava conversando com minha filha, você deve estar enganado, porque ela nunca viajou nesta embarcação.” Retruquei: O senhor está me dizendo que sua filha não está viajando nesta embarcação? Ele respondeu: “Foi exatamente isso que acabei de lhe dizer. Agora, você me deixou curioso. Quem disse para você que minha filha está aqui?” Respondi: O senhor vai me desculpar. Ninguém disse nada, não, senhor. Eu que meti meus pés pelas mãos, imaginando que a moça fosse sua filha. Ela estava lixando e pintando as unhas sentada na frente de seu camarote. Vai daí, minha fértil imaginação, conjecturou tratar-se de sua filha. O comandante: “Não precisa se desculpar, meu filho. Essas coisas acontecem. Se todos os males fossem dessa natureza, seria uma maravilha. O pior, mesmo, é você ficar sabendo de coisas que acontecem embaixo de seu nariz e ver que ninguém toma nenhuma providência no sentido de evitar”, continuou:
“Eu vou lhe dizer uma coisa. Navego há muitos anos. Pelos meus cabelos brancos, você já pode imaginar. Sempre fazendo o trajeto de Porto Velho a Manaus e vice-versa. Nessas viagens, paramos em vários pontos para embarcar ou desembarcar passageiros, malas e cargas. Existem algumas aldeias de índios pelas quais somos obrigados a passar, por força do trajeto pelos rios Madeira, Amazonas, Solimões, Negro etc. Ao mesmo tempo em que nos inteiramos de algumas peculiaridades, dignas de comentário, às vezes, seria até melhor não ficarmos sabendo de certas coisas. Uma digna de ser comentada se relaciona à aldeia dos Bocas de Pau. Quem passar a uma distância razoável dessa aldeia avistará uma tábua pendurada em uma árvore, com os seguintes dizeres. ‘Enquanto existir açaí pra colher, mata pra caçar e rio pra pescar, os Boca de Pau não vão falar.’ Se existe esse aviso? nada mais justo que respeitar não é mesmo?” Concordei: Sim, o senhor está com toda razão. Mas está com um olhar de quem acha que algo não está correndo como devia correr!… Ele respondeu: “Pois é. Se os índios Boca de Pau, rudimentarmente, escreveram esse alerta, é lógico que alguém tentou forçá-los a falar, numa língua que não a deles. Não sei se é de seu conhecimento, mas é voz corrente que existe uma aldeia, sempre visitada de helicóptero por americanos, que ensinam sua língua para os índios e levam areia monazita e sabe-se lá que outros minerais. Isso não é de hoje que se comenta aqui na região, mas ninguém toma nenhuma providência. Certa vez, um jornalista do jornal de Manaus disse que iria fazer uma reportagem a respeito. Mas, como sempre acontece, só se ele fizer a reportagem hoje. Porque até ontem não vi nada. Se alguma autoridade quisesse tomar providência, bastaria procurar a aldeia na qual seus índios falassem o idioma norte-americano, e estaria identificado o problema. Ou será que estão catequizando nossos índios, ensinando-os a falar inglês só porque eles são bonitinhos?”, perguntou, com ironia. E continuou: “É por isso que eu disse para você, no começo, que há coisas das quais seria até melhor não saber.” indaguei-lhe, então: Por que o senhor não denuncia isso aos órgãos da imprensa? Ele foi direto: “Ninguém se interessa em mexer em caixa de marimbondos, meu filho. Eu já não lhe falei que um repórter me disse que iria fazer uma reportagem? Você acha que ele desistiu por quê? Meu filho, se quem tem uma metralhadora engatilhada, que é a imprensa nas mãos, deixa de usar, não sou eu que nem estilingue (bodoque) tenho que vou me aventurar por aí para servir de boi de piranha! A população inteira sabe desse fato. E garanto uma coisa: com certeza, está cansada de ver todo mundo se calar e não tomar nenhuma providência. Mas, como a esperança é a última que morre, tenho fé. Um dia, acontecerá o milagre de um filho de Deus tomar a peito e resolver dar um basta a essa verdadeira vergonha nacional. Quanto a mim, estou me aposentando. Já dei minha contribuição para minha pátria, com toda certeza. Vou agora usufruir, com minha mulher, das delícias de uma chacrinha que tenho, com umas vaquinhas leiteiras, tirando leite e fazendo um pouco de queijo, pescando um peixinho no Rio Solimões, tomando um bom vinho e pedindo a Deus que o mundo acabe em barranco para que eu possa morrer encostado”, divertiu-se o comandante. Acompanhando-o na risada, eu lhe disse: O senhor devia fazer dupla com o Homem do Sapato Branco. Ele não entendeu e, ainda rindo, retrucou: “Que homem o quê? Repeti a frase e ele quis saber o motivo de eu ter dito aquilo. Respondi: Por quê? O senhor com o Homem do Sapato Branco dariam uma dupla imbatível. O senhor formularia os abusos e desmandos a céu aberto, e o Jacinto Figueira Júnior faria a reportagem, transmitindo-a, com certeza, em seu programa de TV denominado O Homem do Sapato Branco, líder de audiência da televisão, nos sábados à noite. Eu garanto uma coisa: ele iria pôr a boca no trombone em cima dessa cambada de folgados. Só para o senhor ter uma idéia, eu vou tentar descrever um dos programas levados ao ar há algum tempo.
Contei-lhe, então, um caso de quando Jacinto Figueira apresentou uma matéria relacionada à medicina. Ele avisou com antecedência o público, que o assunto causaria muita polêmica relacionada à cura de uma donça.. E disse mais: que iria mostrar uma reportagem que não interessaria nem um pouco a quem a medicina só com fins lucrativos, ludibriando a todos com promessas de curar determinada doença cuja cura não existe. Aí, o apresentador iniciou a explicar o caso “Não existir cura, não! Não existia, porque, neste instante, está aqui dentro dos estúdios da TV, aguardando para ser chamado, um moço que, comprovadamente, conseguiu descobrir a cura de uma doença, que até então tem servido de muletas para muitos médicos de mau caráter esfolarem os familiares do enfermo. Muita gente não gosta nem de pronunciar o nome dessa doença. Nós fizemos uma reportagem externa na casa desse moço. Entrevistamos mais de 100 pessoas curadas por ele, dessa enfermidade, comprovando que realmente ele descobriu o segredo da cura desse mal, com certeza. Mas antes de apresentá-lo, quero fazer um alerta: marquem bem o que eu vou dizer. Não se admirem se, após esta reportagem, não tivermos mais nenhuma notícia desse moço e seu remédio milagroso.”
Nesse momento, Jacinto chamou o moço e lhe pediu que dissesse qual a doença cuja cura havia descoberto. O moço, demonstrando humildade, disse ter descoberto um remédio que curava o câncer. Nesse momento, novamente, Jacinto tornou a dar o alerta anterior e apresentou várias pessoas que estavam com a doença e, com o remédio daquele moço, haviam se curado, inclusive dando seus testemunhos. Novamente, Jacinto, com a mão sobre o ombro do rapaz, disse para o telespectador. “Esse moço descobriu o remédio contra o câncer, como acabei de comprovar. O primeiro passo a ser dado após esta reportagem seria das autoridades responsáveis pela saúde de nosso povo, imediatamente nos telefonarem para investigar com mais profundidade a veracidade dos fatos expostos aqui em nosso programa, para que, quem sabe, aperfeiçoar esse remédio e talvez fabricá-lo em escala industrial. A finalidade seria uma só: providenciar para que esse remédio não caia no esquecimento. Por quê? Porque ele representa um fio de esperança nos corações de uma infinidade de pessoas que por uma infelicidade sofram desse que é o mal do século. Não é pedir muito, minha gente, não é verdade? Boa noite.” Terminei de contar o episódio e perguntei: O senhor não acha que seria o maior sucesso? O comandante olhou bem para mim e disse: “Meu filho, por que eu vou dar murro em ponta de faca? Só esse fato, contado por você, do que fez o Homem do Sapato Branco, com uma televisão nas mãos, é o suficiente para mostrar que a única coisa que fica em tudo isso que se tenta fazer em prol da humanidade,é deixar na lembrança de quem assiste – como deixou em você – a sensação de ter feito uma cobrança, que, infelizmente, cairá no esquecimento, fatalmente, como tantas outras, aumentando a descrença generalizada no seio de nosso povo. Portanto, é de bom alvitre carregar nossa cruz com elegância.”
Sem sombra de dúvida, tenho que dar a mão à palmatória. O que o comandante disse é a dura realidade que temos de encarar. Quanto ao Homem do Sapato Branco, suas palavras quando da apresentação do descobridor do remédio contra o câncer se cumpriram tal qual uma profecia. Nunca mais ouvi falar daquele moço, muito menos de seu remédio milagroso, exibido e comprovado como sendo eficaz. Sinceramente, penso que deve haver alguém se dando muito bem financeiramente com a desgraça alheia, não tendo a mínima consideração talvez até com sua própria mãe. Essa doença não escolhe ninguém. Portanto, se a mãe dessa pessoa ou dessas pessoas vier a sofrer desse terrível mal, cuidará dela com o tratamento convencional. Em hipótese alguma irá fazer uso do remédio eficaz tanto alardeado no programa de Jacinto, porque seria antiético profissionalmente e, ao final, seria considerado pelos seus colegas de profissão como que um curandeiro sem eira nem beira. E isso fala muito mais alto do que a saúde de sua progenitora. Caso contrário, os médicos e autoridades competentes que assistiram a esse programa – que acredito serem muitos – teriam tomado iniciativa no sentido de verificar, com mais critério, esse fato, que teve repercussão nacional, analisando-o de público, como de público foi mostrado. Comprovar sua eficácia ou não. Deixar nossos telespectadores cientes da existência desse remédio contra o câncer, exibido no programa O Homem do Sapato Branco, seria o mínimo que nossas autoridades constituídas e a classe médica em geral teriam de fazer, em respeito ao nosso povo tão sofrido e enganado. Creio que deve haver arquivos a respeito que dirão muito mais do que minhas palavras. É mister deixar bem claro que não se está aqui generalizando a classe médica, mas meia dúzia de gatos pingados que, infelizmente, conseguiram concluir uma faculdade de medicina – mal e porcamente – ávidos de angariar fortuna de qualquer maneira, insensíveis à dor e à pobreza de seus semelhantes. Doer-se do fato acima exposto é sinal de que a carapuça serviu em alguém.
CAPÍTULO XV
Parênteses – pausa para reflexão
Pág.109
Após esse acalorado bate-papo com o comandante, recolhi-me. E quem disse que eu conseguia pegar no sono? Foi um tal de vira de um lado, vira do outro, torna a virar, mas nada de dormir. E o pior de tudo isso é que eu não parava de pensar em tudo aquilo que havia conversado com o comandante. Por mais que eu tentasse desviar meu pensamento para relaxar meu corpo, pegava-me novamente matutando e batendo na mesma tecla, ou seja, meu inconformismo diante de tudo aquilo. Existem coisas que calam demais em nosso subconsciente. Creio que todos nós temos armazenados em nossa mente coisas e fatos importantíssimos, vivenciados, mas calados dentro do peito, ávidos por serem revelados, mas barrados pelo medo. Quem não teve um dia vontade de desabafar e dizer um amontoado de coisas referentes às verdades que são escondidas e camufladas ao nos serem repassadas? Quem não quis um dia gritar, para todo mundo ouvir, que querem nos fazer crer que somos uns idiotas, que acreditamos em tudo que nos é dito? As pessoas que nos dizem essas inverdades – ou que nos escondem a verdade – cientes de que o medo atua como seu mais fiel aliado, enfiam-nos goela abaixo um amontoado de justificativas totalmente desprovidas de conteúdo comprobatório, amenizando ou protelando o desfecho lógico de outro embuste milimetricamente arquitetado, que somente às entrelinhas deixam transparecer, ou melhor, insinuam querer dizer. Mas essas pessoas acreditam que conseguiram nos dar satisfação de terem feito seus deveres de casa a contento. Maquiavel teria muito que aprender com elas. Por essa razão, muitas pessoas perdem boa parte da noite, “que foi feita para dormir”, tentando encontrar uma saída honrosa para resolver seus problemas mais prementes, ocasionados direta e indiretamente por terceiros.
Sob todos os pontos de vista, sofremos a influência causal de terceiros, senão vejamos. Primeiramente, vamos analisar um pequeno empresário. Suponhamos que esteja começando a atuar no ramo de marcenaria. Tendo conhecimento de suas aptidões dentro de sua profissão, compra cinco máquinas usadas, assumindo um compromisso de pagá-las a prazo. Tendo por base que terceiros exercem influências diversas em nossas vidas, nesse caso, o terceiro ficou sendo o vendedor das máquinas. Em seguida, aluga um local para se instalar e começar a trabalhar – o terceiro, agora, será o senhorio do imóvel. Como ele não quer trabalhar na clandestinidade, procura um contador para abrir legalmente sua firma e poder emitir nota fiscal, como manda a lei. Aqui, o terceiro, representando terceiros diversos, é o contador. Após registrar sua firma, precisa contratar mais marceneiros para dar conta dos serviços que porventura tiver de executar, serão os terceiro no caso. Então, é só trabalhar e levar uma vida encarada por terceiros como sendo classe média. Surge um primeiro freguês (neste caso, o terceiro), que encomenda um armário embutido. As condições de pagamento, por se tratar de uma firma em início, terão de exigir 50% na encomenda e dois cheques para dali a 30 e 60 dias, com entrega da encomenda marcada para trinta dias úteis. Tudo acertado e contratado, é assinado o pedido e dado início aos trabalhos encomendados. O local para ser instalado o armário em questão fica distante quase 150 quilômetros do local de sua confecção. Chegada a data combinada para sua entrega, o dono da marcenaria, todo orgulhoso, envia seus marceneiros para montar o serviço encomendado. Enquanto seus marceneiros montam o produto, o proprietário recebe do banco, onde depositou o cheque da freguesa, conforme havia combinado, um aviso: seus cheques, os quais soltou contando com a cobertura do cheque depositado (conforme combinado anteriormente com a freguesa) estavam voltando com insuficiência de fundos, justificando o encerramento de sua conta bancária, que as duras penas tinha conseguido abrir. Imediatamente, o dono da marcenaria telefona para sua freguesa pedindo uma explicação. A resposta vem curta e grossa. “Eu mandei cancelar o cheque porque o marceneiro fez o furo para colocar o puxador da porta do armário mais baixo do que o furo do outro armário que eu tenho no meu quarto.” O marceneiro, incrédulo, pergunta: Mas somente por isso a senhora cancelou o cheque que eu já havia depositado? E agora? Como vou cobrir os cheques de compras de outros petrechos que tive de comprar para terminar seu armário? E a freguesa: “É problema seu!” Marceneiro: Mas, considerando que foi realmente um erro do marceneiro, a senhora poderia pelo menos ter me avisado por telefone sobre o acontecido, e eu resolveria tudo, sem a necessidade de sustar seu cheque, o que acabou com meu prestígio perante meus fornecedores, inclusive encerrando minha conta no banco, conseguida a duras penas.! Freguesa: “É problema seu, meu filho. Paguei muito caro por esse armário e meu dinheiro não é capim. E digo mais, já entrei no Procon e vou exigir meu dinheiro de volta.” – Não há acordo. O Procon envia uma intimação para o dono da marcenaria comparecer num determinado dia, para uma audiência com a freguesa, que será assessorada por um advogado fornecido também gratuitamente pelo Procon, em audiência, na presença de um conciliador. Na audiência, o advogado relata o ocorrido, lendo, não condizendo fielmente com o que realmente aconteceu e não dando a mínima relevância ao grau de irredutibilidade imposto pela freguesa, no sentido de não onerar tanto o bolso do dono da marcenaria.
O certo seria alguém conhecedor do ramo e credenciado pelo PROCON ir ao local onde foi montado o armário, sentir pessoalmente o caso: um furo para colocar um puxador foi feito três centímetros abaixo dos furos existentes no outro armário; levando-se em consideração que o outro armário com os furos três centímetros mais altos encontra-se em outro quarto, não justifica exigir todo o dinheiro de volta. Principalmente, analisando que foi feito um armário sob encomenda, o que acarreta compras de madeira e materiais diversos. Depois de comprados, serão serrados em suas respectivas medidas para ser confeccionado especificamente esse armário. O dinheiro dado pela freguesa, portanto, foi usado quase em sua totalidade na compra de materiais. Insensível, usando das prerrogativas de uma lei (carente de alguns reparos), a freguesa requer seu dinheiro de volta, imaginando talvez que o mesmo, dado quando da encomenda do armário, estivesse engordando o bolso do dono da marcenaria, quando, na verdade, o infeliz não só não tem o dinheiro que foi dado quando da encomenda, como também está endividado e tendo de arcar com o compromisso de pagar o material comprado para fabricar o armário. Alguém dirá: mas ele pode vender aquele armário para outra pessoa, e pronto. Mas não é tão simples assim. Quando um armário é feito sob encomenda, antes de sua confecção são tiradas as medidas constantes do quarto ou local onde deverá se encaixar. Portanto, rarissimamente haverá coincidência de uma nova encomenda ter as mesmas medidas do armário já existente. Nosso amigo dono da marcenaria (classe média, como querem os leigos) se ferrou, como se diz na gíria. Procurem imaginar como vai ser a noite desse dono da marcenaria. Ao se deitar, começarão a passar em sua cabeça, tal qual num filme, todos os pormenores decorrentes e agravantes que terá de enfrentar em razão de ter de devolver um dinheiro inexistente em seu caixa (por culpa de terceiros). Como se não bastasse, os marceneiros que executaram a confecção do armário, devolvido em função de ter um furo ligeiramente abaixo do furo de outro armário – capricho da freguesa –, não terão como pagar o prejuízo que causaram ao dono da marcenaria. Querem receber o mês trabalhado. Caso contrário, sem dó nem piedade, entram no Ministério do Trabalho, colocam o dono da marcenaria “no pau”, gíria usual de empregados. Como sempre acontece em reclamações trabalhistas, o dono da marcenaria terá de amargar com o pagamento de seus empregados (terceiros), acrescidos de algumas exigências, algumas baseadas em alegações mentirosas, que normalmente põem o patrão para pagar no Ministério do Trabalho.
É bom que se diga, aproveitando o gancho desse comentário, que está mais do que na hora de nossas autoridades atinarem com um pouco mais de carinho para o quesito “emprego”, nessa escola de samba que é a vida do brasileiro, onde os sindicatos, de mãos dadas com o Ministério do Trabalho, tanto fizeram que conseguiram emperrar a evolução respeitosa que antes havia entre patrões e empregados – só não viu quem não quis enxergar. Jogaram os empregados contra os patrões de forma geral e irrestrita, a ponto de gerar esse desemprego que assola nosso país, essa é a realidade inquestionável que nos foi imposta, cujo continuísmo recebe o aval de nossos políticos. É sabido que a união faz a força. Se partirmos dessa premissa, é porque temos convicção de que deve haver colaboração mútua em todos os sentidos para se chegar a um objetivo comum pré-determinado para coroar de êxito o dever sagrado de todo ser humano de boa índole, que é o trabalho honesto, no intuito de ganharmos nosso pão de cada dia. Para tanto, precisa haver colaboração mútua. Também é sabido que existem despesas obrigatórias advindas da abertura de uma pequena firma que pretende trabalhar dentro da lei.
Para facilitar o exemplo, voltemos ao caso da marcenaria. A prestação das máquinas, cobertura dos cheques sem fundo, aluguel da firma, contas de luz e de água, pagamento de contador, telefone, FGTS, INSS, IPI, ICM, ISS, taxa de iluminação, alvará de funcionamento, taxa “apagão”, salário família, contribuição sindical, sindicato patronal, PIS/PASEP, CPMF e o escambau de Madureira. Somente pelo fato de uma pessoa se propor a enfrentar esse verdadeiro samba enredo de ordem tributária e fiscal, já se pode imaginar o grau de responsabilidade e seriedade que possui. Dentro desse espírito, deve-se ater à harmonia criteriosamente ensaiada pelo puxador (patrão), alicerçado pela bateria (funcionários), ornamentando seu carro alegórico, (loja), com suas alegorias (mostruário), passistas, mestre-sala e porta-bandeira (vendedores) usando seu poder de convencimento, que seria a evolução da escola, para, ao fim, receber dos fregueses o pagamento (notas dos jurados), valor relativo ao item ou serviço fornecido (notas diferenciadas para cada categoria). Como acabamos de ver, uma firma tem muito a ver com uma escola de samba. O espírito de colaboração mútua existente em uma escola de samba lembra, trazendo saudade, a relação que existia anteriormente entre patrão e empregado. Salvo algumas exceções, sua convivência, a qual transcorria num clima de confiança recíproca, incorria num grau de cumplicidade e reconhecimento do dever e responsabilidades cumpridos, remetendo automaticamente ao espírito de gratidão, que forçava o patrão a presentear o funcionário ou pagar, mesmo que não fosse em dinheiro, algum favor extra prestado por ele, sempre, de alguma forma, recompensando-o.
Sei de casos verídicos, que posso comprovar, de alguns funcionários que foram fiéis colaboradores em alguns serviços ocasionais para seus patrões, que receberam até chácara de presente. Digo mais, trabalham há mais de 20 anos ininterruptos com o mesmo patrão. Esses empregados não foram picados pela mosca azul do “pôr no pau”, vício que consiste em conseguir tirar do patrão tudo que puder ser tirado, usando o gancho da lei, por meio do Ministério do Trabalho, que aprova tudo o que o empregado disser e aceita tudo de que ele se queixar, sem conhecer o histórico muitas vezes ilibado e altruísta do patrão. O MT tudo endossa, sem pestanejar, menosprezando e inferiorizando o patrão na frente do empregado, mesmo sabendo serem pública e notoriamente infundadas, às vezes, até ridículas, algumas reclamações trabalhistas, criteriosamente arquitetadas e formuladas. Ditas por uma minoria de empregados inescrupulosos perante o Ministério do Trabalho, ganham conotações de cunho processual jurídico, sem chances de serem revertidas. Praticamente virou moda na boca da maioria dos trabalhadores se aconselharem no sentido de colocarem seus patrões no “pau”, não sem antes inventarem qualquer agravante que possa solapar o bolso do patrão, que até pouco tempo contratou-o pensando ser ele realmente um trabalhador responsável. Isso tudo que acabo de dizer está acontecendo em nosso dia-a-dia, acabando com o pouco de credibilidade, se é que ainda existe um pouco, que o patrão nutria na contratação de um empregado. Nos dias atuais, não existe um só empregador que não fique com o pé atrás quando vai contratar um funcionário. E digo mais: os patrões estão tão ressabiados que procuram à exaustão uma maneira de descobrir um meio, uma máquina, que possa substituir o empregado, para assim se verem livres do vínculo empregatício, tão cheio de vícios lesivos ao seu bolso. Isso acontecendo, aumenta ainda mais o desemprego, essa é a verdade nua e crua, doa a quem doer. Antes dessa descrença generalizada dos patrões, principalmente no campo, os fazendeiros empregavam o trabalho humano nas plantações, nas colheitas e na lida diária, tanto da terra como dos animais. Hoje em dia, as ações trabalhistas, em sua maioria infundadas, conseguiram desertificar as casas de peões dentro das fazendas, dando uma demonstração clara do descrédito generalizado a que ficou relegada a mão-de-obra. Quem são os culpados?… Para comprovar o que eu digo, basta percorrer uma meia dúzia de fazendas e ver casas de peão, até com antena de televisão, abandonadas ao deus-dará, deteriorando-se. Chega a dar dó! O trabalho, antes humano, está sendo feito, em escala ascendente, pela máquina. As reclamações trabalhistas infundadas ensinaram os fazendeiros a investir em máquinas, que não dependem de casa para morar, comida, energia, água, escola para seus filhos, médico eventual, roupa especializada, ferramentas especiais, transporte, carteira de trabalho assinada, etc. Depois de investir em tudo isso, ter de enfrentar uma demanda trabalhista, que poderá acabar com seu patrimônio, é demais para o empregador.
Dito isso, não preciso de muitas palavras para contar o desfecho que teve o caso do dono da pequena marcenaria, que sonhou ser um comerciante cumpridor de seus deveres, trabalhando dentro dos rigores e parâmetros da lei. A Justiça, de cara, embargou-lhe as máquinas, que tiveram de ser vendidas, mesmo pertencente a terceiros (não haviam sido pagas totalmente), para pagar terceiros (funcionários). E o restante do dinheiro? Além de pagar os materiais comprados para confeccionar o armário, objeto causador dessa celeuma, teve de pagar seu contador, que mal tinha dado início à papelada necessária (portanto, representante de terceiros diversos), teve de gastar mais um pouco para dar baixa na firma, que sequer havia começado direito, com um agravante: o de ter ficado com a dívida das prestações do maquinário, que nem se encontrava mais em seu poder. E ainda houve muita gente que não perdeu a oportunidade de lhe dizer: “Quem não tem competência não se estabelece.” Existem duas agravantes que eu preciso dizer com todas as letras, porque, quando se fala nas entrelinhas, sempre há alguém que dissimulará nada ter com isso (ou seja, vai “tirar o seu da reta”), desconversando, para que ninguém possa lhe cobrar uma atitude concreta, que é resolver esse intrincado problema. A primeira, e mais importante, agravante recai sobre os ombros dos mais prejudicados, os desempregados, ou seja, trabalhadores em geral e, conseqüentemente, os eleitores. Por ocasião das eleições, no mínimo 80% dos eleitores se acham auto-suficientes a ponto de influenciarem seus familiares na hora de escolher um candidato, somente porque têm obrigação de votar, para não infringir um dispositivo da lei que penaliza os não votantes e por considerarem que são obrigados a votar. Automaticamente, votam em qualquer um, quase como um ato de vingança, pois seu desejo, na realidade, seria não votar em ninguém, pelo descrédito generalizado a que chegou nossa classe política. Como “nossos” políticos consertam relógio em baixo d’água com luvas de boxe, partem para cima dessa faixa de eleitores, que na prática estão “se lixando” para as conseqüências advindas das eleições. Novamente, por mais quatro anos, serão votados novos “projetos de lei”, na maioria desprovidos de propósitos justificáveis, nunca concernentes, por exemplo, a minimizar, a carga tributária vergonhosamente cobrada de nossa população. As matérias e projetos duvidosos são votados sem nenhum entrave, porque, com certeza, correu muito dinheiro por baixo do pano – disso não tenham dúvida. A maioria dos projetos aprovados terá orçamentos faraônicos para beneficiar empreiteiras que financiaram algum político, que, por sua vez, não tem como não se “virar” politicamente para retribuir a ajuda financeira recebida. Fazem-no com a aprovação de um projeto, quiçá, pré-estabelecido. Como uma andorinha só não faz verão, outros políticos que se encontram com o mesmo problema e também votaram a favor do projeto anterior, entrarão com outras propostas a serem votadas, que beneficiem seus protegidos, parentes, apaniguados, cometendo um conjunto de falcatruas impossível de descrever.
Quem sofrerá as conseqüências? Logicamente, toda a população. O que mais me encabula é saber que nem todos os políticos têm mau-caráter e são oportunistas. Por que, então, os políticos de boa índole não fazem valer sua autoridade, denunciando as maracutaias que são perpetradas a céu aberto dentro do cenário nacional, se num passado não muito distante, em suas campanhas, subiam em seus palanques botando a boca no mundo, denunciando a tudo e a todos, prometendo acabar com aquele estado de coisas? Não é possível que, de uma hora para outra, todos passaram a sofrer de amnésia – doença do poder – e fogem dos compromissos assumidos com seus eleitores como o diabo foge da cruz. Assim justifica-se, muitas vezes, a população generalizar e chamar todos os políticos de ladrões. A segunda agravante está totalmente incrustada na cabeça da população, que, de uma hora para outra, vê-se perdida qual cego em tiroteio, assistindo ao político no qual votou assumir o cargo e se desviar totalmente dos propósitos iniciais. Normalmente, diz em seus pronunciamentos na mídia que “precisa” ser feito “isso,” precisa ser mudado “aquilo”, precisa, precisa, precisa; esquecendo-se de que essa frase ele cansou de usar antes das eleições, e elas foram, aliás, as razões de sua vitória eleitoral. Portanto, a partir de sua posse, deveria ser ponto de honra seu esquecer essa palavra, “precisa”, e passar a agir, porque foi eleito para que isso não mais se repetisse. Poderes para isso os eleitores lhe deram, portanto, que ponha mãos à obra! Aproveitando o gancho, quero dizer ainda que virou moda, de uns tempos para cá, alguns aproveitadores de plantão aproveitarem as invasões de fazendas para montarem uma verdadeira indústria de invasões. É sabido que existe a reforma agrária, ou seja, para quem quiser se candidatar a pegar um quinhão de terra para plantar, morar, enfim, produzir legalmente, basta se inscrever e aguardar. Dentro de um prazo limite, obedecendo a um organograma criteriosamente elaborado – ao menos foi isso que tanto alardearam na mídia –, será comprada uma fazenda considerada “improdutiva”, dividida em várias partes, para, então, de acordo com a ordem de inscrições, entregar-se o lote a quem legalmente se inscreveu e comprovou as exigências, o que o qualifica como merecedor e realmente necessitado, apto, portanto, a cumprir com o objetivo primordial da Reforma Agrária, que seria dar terra às mãos de quem realmente dela necessita e a saiba utilizar para produzir.
Tudo isso é muito bonito de se ouvir e até de aplaudir. Mas não é bem assim que aconteceu e ainda está acontecendo. De antemão, começaram a montar acampamentos ao arrepio da lei, não respeitando os princípios básicos elaborados para a Reforma Agrária, direcionados a que tudo transcorresse dentro de um clima de respeito e colaboração mútua. Não respeitaram, portanto, os direitos e privacidade do proprietário da área. Sem permissão, montaram e montam seus acampamentos, caracterizando assim uma invasão, bem como uma “apropriação indébita” dos direitos adquiridos pelo dono dessas terras invadidas, que as comprou legalmente, registrou em cartório e averbou, sabe-se lá à custa de que sacrifícios A razão disso tudo está relacionada a meia dúzia de espertinhos – aproveitadores de plantão – que se infiltraram nesses acampamentos e, aproveitando a fragilidade desses trabalhadores tão castigados pelas agruras da vida, fizeram-lhes uma verdadeira lavagem cerebral, instigando-os a agirem da maneira que bem entendessem, ou seja, a comerem em suas mãos, deixando-os convencidos de que, sob o comando deles, a Reforma Agrária sairia do papel. Os acampados, muito carentes, logicamente a tudo aceitaram. Daí para frente, qualquer ordem do comando foi seguida à risca, sem pestanejar. Sem perceber, passaram de sem-terra para massa de manobra orientada, colocando suas crianças à frente, servindo praticamente de boi de piranha (dizem os mais antigos que a expressão surgiu por conta da maneira que os boiadeiros encontraram para atravessar um rio cheio de piranhas com a boiada. Jogavam um boi nas águas para que, enquanto os peixes carnívoros se incumbissem de devorá-lo, o restante dos animais atravessasse ileso). Como se não bastasse, acharam por bem mudar o nome de invasão para ocupação para soar mais bonitinho quando for noticiado pela imprensa. Para completar, acabaram recebendo também a conivência de uma meia dúzia de fazendeiros de mau caráter, que, em comum acordo com os cabeças dos invasores de fazendas, combinam uma maneira bem prática de forçar a venda de suas terras. Não tendo conseguido vendê-las pelas vias normais, combinaram uma suposta invasão dos chamados sem-terra de suas propriedades, trazendo com isso uma forçada avaliação fajuta, culminando com a venda para fins de reforma agrária a um preço estratosférico, superfaturado, e, na certa, como não podia deixar de acontecer, dando uma comissão para os insufladores da invasão.
O que acabo de citar é público e notório. Só não vê quem não quiser ver, haja vista o estrago que os invasores fazem quando entram numa fazenda, levando-se em conta que o simples fato de invadir já demonstra o grau de insensatez do qual são portadores. Nada justifica a quebradeira generalizada de tudo que é benfeitoria existente no local invadido que eles promovem. Parte-se da premissa de que todo prejuízo causado pelo advento de uma invasão deverá ser somado e pago ao proprietário da terra invadida. Portanto, ao quebrar ou danificar algo, encarece-se ainda mais o valor da terra, que, sem os estragos ocasionados, seria bem inferior. E existem coisas que são quebradas que seriam de muita utilidade na eventualidade de o próprio invasor vir a ser beneficiado pela posse do local invadido. Por que, então, quebrar benfeitorias, quando, em verdade, deveriam ser preservadas para beneficiar um ou outro sem-terra felizardo? A única resposta plausível para essa atitude está escancarada para que qualquer pessoa sensata, com um mínimo de discernimento lógico, possa ver e sentir: existe um conluio entre fazendeiros e um grupo de insufladores de sem-terras, que, agindo de comum acordo, estão fazendo gente de bem passar a ser encarada pela população como baderneiros irresponsáveis, que não dão um pingo de valor ao trabalho e sacrifício com que o proprietário da terra invadida construiu tudo o que eles, sem-terra, estão destruindo sem dó nem piedade, num desrespeito total por um bem alheio, muitas vezes conseguido a duras penas. Dizer que precisa ser dado um basta a esse estado de coisas é chover no molhado.
Quanto ao desemprego, não tenham dúvidas de que essas invasões – agora falando do lado dos fazendeiros e proprietários de terras honestos – estão desestimulando os fazendeiros a investir e abrir frentes de trabalho, receosos, com razão, de que, de uma hora para outra, suas terras sejam invadidas, sem mais nem menos, e tenham de amargar com o ônus do prejuízo causado pelos invasores, tornados “paus mandados” e baderneiros, que, como se não bastasse, gozam do beneplácito da lei. Na maioria das vezes, deixa-se de cumprir um mandado de reintegração de posse dentro dos prazos legais de direito do impetrante, deixando muitas vezes o proprietário envolto em um prejuízo material impagável. Com isso, como não poderia ser diferente, aumenta o desemprego. Quem vai pagar o pato? Logicamente, nosso “Zé Povinho”. Por quê? Ora, porque ele não queria votar em ninguém, por achar que nenhum merecia sua confiança. Mas a lei exigiu que ele votasse, “senão incorreria em uma penalidade imposta para os não votantes que o impediria de gozar de certos ditos privilégios”. O primeiro que lhe ofereceu alguma coisa teve seu voto. Ele não iria votar em ninguém mesmo! E esse ainda lhe ofereceu qualquer porcaria, é nesse mesmo que ele votou – de raiva – e depois ainda se vangloriou por ter votado num candidato que venceu as eleições. Nada como viver numa “democracia” – ele votou em quem quis… Será?
Retornando à minha embarcação em direção a Manaus, só tenho a dizer que mais dois dias se passaram, mas numa mesmice que somente foi quebrada com uma mancada que eu dei, mas que até hoje não me conformo de ter dado. No barco, prevalecia um povo humilde, quase em sua maioria ribeirinhos, viajando com malas, sacolas, alguns animais, tais como papagaios, macacos, sagüis, enfim, bichos de estimação em geral, juntamente com cachos de banana e algumas caixas de frutas diversas, etc. A mesa de refeição era improvisada com umas tábuas apoiadas em cima de uns cavaletes e montada praticamente em cima da hora do almoço. Todos, sem exceção, sentavam-se à mesa, independentemente de raça, cor, sexo ou idade. Como a maioria transitava pela embarcação sem camisa – nem podia ser diferente, dado o calor da região – eu não fugia à regra. Certo dia, na hora do almoço, com uma boa parte dos passageiros já à mesa, aguardando a comida, eu e Nilton nos juntamos aos comensais. Nesse instante, o comandante se chega até meu ouvido e diz que eu devia ir colocar uma camisa, porque não era permitido se sentar à mesa despido. Fiquei tão desencontrado por ter dado aquela mancada, que a primeira coisa que fiz foi olhar para todos em torno da mesa para verificar se não havia mais alguém sem camisa. Eu era o único sem educação. Não sei se os passageiros repararam na intimação – muito discreta, por sinal – que recebi do comandante. Mas, se eles perceberam, foram por demais discretos, porque conseguiram fingir que não viram absolutamente nada. Que coisa feia de minha parte, e que show de educação da parte deles! Com exceção desse caso, não acontecia nada de extraordinário que merecesse um relato sem parecer vontade de encher lingüiça.
Para não cair em lugar comum, direcionei minha atenção exclusivamente à contemplação da natureza, que, parecendo aproveitar a oportunidade das várias paradas que a embarcação passou a fazer – sinal que já estávamos bem próximos do porto de Manaus –, exaltava sua exuberância, repleta de árvores frondosas e folhagens diversas mesclando-se com flores de variados matizes, pássaros os mais diversos, de cantos maviosos, que proporcionavam extrema beleza em revoados, o que vinha ao encontro da vontade de saciar a curiosidade de pessoas como eu, ávidas por conhecer e se embebedar da riqueza contida em cada nuança daquela exótica beleza, exposta a céu aberto, para quem quiser e souber ver e admirar. Depois da penúltima parada efetuada pela nossa embarcação, após mais de uma hora de navegação e contemplação, deparamo-nos com outro espetáculo fornecido gratuitamente pela maior companhia universal, a Natureza. Dessa feita, o show tinha dois protagonistas: de um lado, o Rio Solimões; do outro, o Rio Negro, encenando a peça “O Encontro das Águas”. Só tratando dessa maneira esse fenômeno tão admirado por todos nós para dar uma idéia – não toda, mas, pelo menos um pouco – do significado que uma visão dessa magnitude representa para o turista que visita o Estado do Amazonas, bem como sua capital Manaus. Todas as pessoas que passam pelo encontro das águas dos dois rios ficam maravilhadas, indagando, a quem estiver por perto, se há alguma explicação para aquela verdadeira maravilha da natureza. Como de praxe, sempre aparece um “sabe tudo” dando explicações as mais variadas e desencontradas. Curiosos, pegamos um copo de cristal e o enchemos com água do Rio Negro. Ficamos admirados com sua cor. Quem ver pessoalmente o Rio Negro terá a impressão de que está totalmente sujo de óleo queimado, como nós também pensamos. Mas constatamos o total engano. Ao levantar o copo de água, percebemos que era tão clara e transparente quanto qualquer outra que jorra das torneiras, prova disso é que essa mesma água abastecia o hotel onde ficamos hospedados. Desse hotel em Manaus, o comendador Morgado, juntamente com o seu secretário, cuidou de assuntos diversos relativos à Empresa de Transportes Estrela do Norte, por meio de contatos telefônicos e pessoais. Passados mais dois dias, empreendemos nossa viagem de volta a São Paulo, só que, dessa vez, de avião – que diferença!
CAPÍTULO XVI
A sorte e o casamento
Pág.118
Algum tempo depois, já em São Paulo, exatamente num sábado, mais precisamente à hora do almoço, quando eu estava comendo em uma lanchonete na esquina do Largo Silva Telles – por sinal, quem estava me servindo era o proprietário do estabelecimento, Cardoso –, aconteceu um inusitado. Um vendedor de bilhetes da Loteria Federal se aproximou de mim, oferecendo quatro pedaços de bilhetes da águia de número 9.207. Como eu estava duro, quase sem dinheiro para passar o sábado, comprei apenas uma fração. Cardoso, então, por conta de nossa intimidade, começou a tirar o maior sarro com a minha cara, dando gargalhada e dizendo: “O quêêêê? Você vai me dizer que agora também vai ganhar na loteria? Não me faça rir, rapaz!” Fiquei fulo com aquela gozação e respondi categórico, a ele: Qual é a tua meu chapa? Quer gozar com a minha cara? Olhe aqui (apontei o dedo em sua direção), o vendedor de bilhetes ainda está aqui! Ele ainda tem três frações desse número, acho bom você comprá-los, se tiver dinheiro, caso contrário vai se arrepender. – Ele deu a maior gargalhada e continuou atendendo outro freguês. Terminei de almoçar e dei uma passadinha rápida na casa do filho mais velho da dona da pensão onde eu morava anteriormente. Conversa vai, conversa vem, acabei dizendo a ele que havia comprado um bilhete de loteria que correria às 18 horas e gostaria – se não fosse incômodo – de ouvir o sorteio no rádio dele. Ele virou-se para mim, dizendo sorridente: “Se você ganhar com esse bilhete, quanto você me dá?” Imediatamente respondi que o prêmio era de NCr$ 15.000,00 e eu lhe daria NCr$ 1.000,00. Ainda rindo, ele me disse: “Pois saiba que você vai ganhar. Sente-se aí no sofá, que nós vamos esperar o sorteio juntos.” Ali ficamos nós, jogando conversa fora, até a hora do sorteio. Ele fechou os olhos, respirou profundamente, inclinou a cabeça em direção ao céu, colocou sua mão direita em cima da minha mão esquerda, que estava em cima do braço do sofá, e, nessa posição, ficamos ouvindo as transmissões do sorteio lotérico. Nos sorteios iniciais, nem sinal dos números de nosso bilhete. Quando começou ser sorteado o primeiro prêmio, o locutor foi soletrando bem devagar: Zero,… Nove,… Dois,… Zero,… Sete…. Nesse instante, ele deu um tapa em cima de minha mão esquerda, que estava sob a sua, e gritou: “Ga-nha-mooosss!” Saiu dançando e pulando como criança. Confesso que não me entusiasmei nem um terço do entusiasmo dele. Recebi aquele resultado, sinceramente, com receio de que pudesse haver algum empecilho que no final impedisse o recebimento do prêmio. Fiquei, na realidade, desconfiado, e razões para desconfiar eu tinha até a exaustão. Uma delas devida a um concurso, promovido por um jornal esportivo muito conhecido em São Paulo. Os leitores compravam quantos exemplares quisessem e retiravam cupons que deveriam ser preenchidos com palpites sobre resultados de jogos e depositados em urnas espalhadas pela cidade. Era praticamente uma réplica da antiga “loteca”. Consegui acertar os resultados, mas, quando pensei que receberia o prêmio, informaram-me de que havia se encerrado o concurso, por determinação da lei, e o prêmio ganho por mim não era válido, (me ferrei) sem direito a reclamar para o bispo.
Hoje, depois das várias experiências e ensinamentos que a escola da vida me proporcionou, creio que, tendo em vista minha pouca idade naquela época, sendo eu, portanto, fácil de ser ludibriado e levando-se em conta a falta de uma orientação abalizada na hora de reivindicar o prêmio a que tinha direito, não podia ser diferente: passaram-me para trás, simplesmente. Por conta desse acontecimento, não havia como eu vibrar, festejar e acreditar que havia mesmo sido sorteado meu bilhete de loteria. Completamente oposta foi a reação do meu amigo, que não sabia mais como externar seu contentamento. Vibrou tanto, que, ao confirmar ser realmente nosso número o sorteado, imediatamente virou-se pra mim e disse: “Primo. Hoje é sábado. Vamos guardar esse bilhete em meu cofre até segunda-feira para não correr nenhum risco. Segunda-feira, você o pega, vai até a Caixa Econômica e recebe. Você concorda?” Respondi que sim e, em seguida, saí em direção à lanchonete do Cardoso, que tinha deixado de comprar as ultimas três frações do meu bilhete premiado. Quando ele me avistou de dentro do balcão de sua lanchonete, percebi que também havia ouvido o sorteio pelo rádio. Sua reação foi digna de pena. Ficou louco a me ver. Dirigiu-se para seus fregueses me apontando com uma mão e puxando um restante de cabelos que ele tinha com a outra. Ao mesmo tempo, lastimava-se, quase chorando, e dizia: “Esse fdp me falou para comprar um bilhete premiado e eu não acreditei nele. Como se não bastasse, tirei o maior pelo da cara dele, dizendo que meu dinheiro eu não torrava com porcaria. Depois de duas horas, ouço o sorteio pelo rádio e o bendito bilhete foi sorteado no primeiro prêmio, rapaz! Eu vou me dar um tiro nos cornos meu amiiiigoooo! Isso não pode ter sido verdade! Já imaginaram como eu estaria nesse instante? Com essa grana toda em meu bolso? Eu não queria nem que Deus me ajudasse, senão seria marmelada meu! Primo, venha aqui. Deixe-me passar a mão na sua mão para ver se passa um pouco de sorte pra mim, deixe-me lhe dar um abraço e pedir desculpas por não ter acreditado em você. Juro por Deus, nunca mais duvido de ninguém! Isso foi um aviso que eu tive do meu anjo da guarda para que eu mude meu modo de ser. Preciso acreditar mais nas pessoas.” Ao ver toda essa encenação, eu, que tinha a intenção de devolver a tiração de pelo da qual tinha sido vítima ainda há poucas horas, caí na risada, como todos à nossa volta e, bem discreto, disse-lhe que essa iria ficar na história.
O mais engraçado de tudo isso foi o que aconteceu logo em seguida. Um dos presentes me perguntou se, ao comprar o bilhete, eu tinha estudado qual o número que deveria pegar. Respondi que, quando me foi oferecido o bilhete, eu estava de costas para o vendedor, aliás, com a boca cheia de comida, por isso, mal vi o número. Somente quando peguei o dinheiro no bolso para pagá-lo, notei que o bilheteiro rasgou meu pedaço das quatro frações. Foi por isso que, em resposta às gozações do Cardoso, disse-lhe para comprar o restante, porque meu dinheiro pouco dava, mas Cardoso tinha condições. Falei que, se não comprasse, iria se arrepender, como infelizmente aconteceu. Meu interlocutor, então, sentenciou: “Ah, para você ver, você estava de costas para a sorte. Isso foi também um aviso, meu filho. Não precisa procurar pela sorte, porque ela se encontra logo atrás de você. Grave bem essas palavras que eu vou lhe dizer: Tudo que você pressentir com convicção, realizar-se-á. Mas preste bem atenção: não queime a cabeça pensando em coisas mirabolantes para dizer, com o pensamento fixo de que isso vá se realizar. Somente um pensamento espontâneo, desprovido de qualquer pretensão, como aconteceu com o alerta que você deu para o dono da lanchonete, vai se tornar realidade. Você é uma pessoa abençoada por Deus.”
Ao ouvir as palavras daquele homem, passou o filme da minha vida em minha cabeça, em fração de segundos. Fiquei com vontade de perguntar mais alguma coisa para ele, por causa da credibilidade que ele me inspirou. Mas Cardoso me cutucou para perguntar o que eu ia fazer com toda aquela grana, e eu, para não deixá-lo sem resposta, desviei minha atenção para ele. Quando me virei para continuar a falar com o homem, ele já não mais se encontrava ali. Mas aquelas palavras ditas naquela euforia de momento, sempre tive em mente.
A alegria pelo acontecido me deu vontade de contar para minha noiva. Não o fiz imediatamente porque, até receber o prêmio, tudo para mim era dúvida. Eu desconfiava que alguma coisa pudesse acontecer e não queria ser pego de surpresa. Estava agindo igual a “São Thomé” – ver para crer. No caso, receber para crer. Por ter de esperar até segunda-feira para ver a cor do dinheiro, decidi não dizer de imediato para minha noiva que eu havia ganhado na loteria. Não sei por que cargas d’água, quando telefonei para ela – que a essa altura estava de novo morando com seus pais na cidade de Lins, interior do Estado de São Paulo – perguntei se continuava a fazer como antes, rezando por mim. Respondeu-me que nunca se esquecia de mim em suas preces e, recentemente, havia recebido uma dessas correntes religiosas. As pessoas colocam embaixo das portas de dez casas um bilhete pedindo à pessoa que o receber que copie mais dez iguais, rezando determinada quantidade de orações, formulando um pedido (por mais incomum que seja) e colocando essas cópias embaixo de outras dez portas. Assim, o pedido será realizado. Minha nova, então, contou-me que havia feito uma corrente – para São Judas Tadeu – pedindo que eu ganhasse na loteria. Quando ela me disse isso, praticamente esclareceu um pressentimento que eu tinha. Qual a explicação que eu poderia me dar quanto ao ocorrido? Levando-se em consideração o fato de minha noiva não saber que eu tinha ganhado na loteria, uma vez que somente eu tinha acesso ao telefone dela e, naquela época, não havia celular que facilitasse alguém me anteceder em dar a notícia; levando-se também em consideração que as relações de minha noiva com o povo daquela casa estavam estremecidas por causa do nosso noivado, não havia por que duvidar que ela estivesse dizendo a verdade, ou seja, ganhei por milagre de São Judas Tadeu. Disso eu não tinha dúvida. Mas comecei a matutar no que aquele senhor me falou na lanchonete do Cardoso. Cheguei a pensar que, se não estivesse louco, iria acabar ficando com certeza. Meu instinto me induziu a perguntar para minha noiva se ela rezava para mim, antes de lhe contar a novidade. Sua resposta me fez saber que ela havia feito o pedido que se realizou em meu benefício. A lógica seria eu lhe dar a notícia de pronto. Se agi ao contrário, foi porque imaginei que ela tinha alguma coisa a ver com o fato. Tivesse eu lhe contado que tinha ganhado na loteria – sem antes lhe perguntar nada –, e minha noiva me dissesse depois que havia feito um pedido para que exatamente isso acontecesse, logicamente, por mais que confiasse nela, sempre haveria uma pequena dúvida quanto ao fato de que ela tivesse dito isso para se valorizar após ter sabido por mim do ocorrido. Então, sem querer polemizar, afirmo que o que aquele homem me disse na lanchonete do Cardoso realizou-se tal qual uma profecia. Fiz as perguntas para minha noiva instintivamente, mas em meu subconsciente eu praticamente previa o desfecho. Foi um acontecimento idêntico à afirmação que eu fiz quanto ao bilhete, que acabou sendo premiado. Coincidência? Casualidade? Sei lá. Ah, cumpri com a promessa de dar NCr$1.000,00 para meu amigo Dico, pois a torcida que ele fez quando do sorteio da loteria pelo rádio foi fora do comum, merecendo o dinheiro prometido.
Aproveitando o acontecido, como eu já estava noivo, eu e minha noiva resolvemos marcar a data do casamento. Durante os preparativos para as bodas, em conversa informal quando da escolha dos convidados, notei certo receio por parte de minha noiva concernente a convidar a família de meu amigo Dico para o enlace. Qual não foi meu espanto quando soube, por ela própria, que tinham tentado fazê-la desistir de mim, dizendo que eu era artista, tinha isso e as mulheres, que eu vivia na noite, que eu não tinha onde cair morto, que o outro, pelo contrário, daria para ela uma vida de rainha na fazenda, etc. Novamente senti o peso da injustiça e falsidade e da trama contra mim. Dessa vez, debaixo de meus olhos e querendo minar o mais puro dos meus sentimentos: meu amor. Confesso que, por incrível que pareça, como eu já estava vacinado contra as doenças da falsidade e traição, dessa vez, eu tirei de letra, revertendo o mal em meu benefício, porque, com isso, pelo fato de ter sido minha noiva que me alertou dessa trama, praticamente consolidou seu sentimento de amor por mim, dando de goleada nas pretensões malignas da família e, ao mesmo tempo, acabando com todo e qualquer sentimento de amizade que eu nutria por essa família, que sempre considerei e respeitei, em consideração ao chefe da casa, que sempre tive como amigo. Somente sinto ter perdido, por força de atos escusos de sua família, a amizade do amigo a quem dei 1.000,00 quando ganhei na loteria.
Eu e minha noiva resolvemos deixar as picuinhas de lado e partir para os “finalmentes”, ou seja, a escolha dos padrinhos. Ela escolheu o prefeito da cidade de Lins, juntamente com sua esposa. Eu escolhi minha irmã e meu cunhado. Distribuímos uma média de 200 convites. Consegui localizar e convidar quase todos os meus irmãos, exceto Sebastião. Dos familiares de minha noiva, sem exceção, compareceram todos. Nossa cerimônia de casamento foi com missa – novidade naquela época – na paróquia de Lins, que ficou lotada de convidados e curiosos “pra ver nóis na fita”. Os padrinhos de minha noiva, prefeito e primeira dama do município, estavam no altar quando entrei, acompanhado de minha irmã. Meu cunhado não compareceu, como eu previa, enviando como seu substituto seu piloto, que passou a constar como meu padrinho. Tivesse me avisado com antecedência, eu teria escolhido um substituto dentre inúmeros amigos de nosso convívio praticamente diário. Após a cerimônia religiosa, rumamos para a residência de minha noiva, local escolhido por meu sogro para saborearmos juntos com todos os convidados os mais variados quitutes e bebidas, usualmente oferecidos em banquetes cujo organizador que pretende receber e servir bem se dispõe a oferecer. A recepção e o congraçamento familiar transcorreram exatamente como havíamos planejado, com muita alegria. Piadas as mais diversas, partindo dos familiares e amigos mais chegados, contrastando de vez em quando com alguns lances de emoção, misturados com riso por parte de minha sogra. Conforme entendimento anterior ao nosso casamento, decidimos que deveríamos antecipadamente assistir a uma missa em Aparecida do Norte para depois começarmos nossa vida de marido e mulher propriamente ditos. E assim fizemos: por uma feliz coincidência assistimos a uma missa em comemoração ao aniversario de Aparecida do Norte, comemorado em 12 de Outubro. Benção maior impossível!
Desse dia em diante, passamos a ser companheiros no nosso dia-a-dia, encarando com seriedade e responsabilidade toda e qualquer possível adversidade que pudesse ofuscar nosso relacionamento. Sempre tivemos o cuidado de não comentar particularidades de nossa união amorosa com quem quer que fosse. Nossa preocupação sempre foi a de não tomar exemplos de terceiros para aplicar em nosso relacionamento. Eis aí um conselho para quem quiser ter um casamento fadado à eternidade: nunca se apoiar no que acontece com os outros, em casos contados por algum dos cônjuges dos casais que circundam nosso meio. Sempre achei que a maioria dos casais, com o intuito de jogar verde para colher maduro (principalmente as mulheres), em conversas informais, vangloriam-se de situações as mais mirabolantes, procurando com isso se auto-afirmar, tapando o sol com peneira e, ao mesmo tempo, encontrar em quem as ouve uma confirmação daquilo de que acabam de se gabar. As outras, que a ouvem, sentindo-se inferiorizadas, mas com vergonha de dizer que sua vida íntima deixa a desejar, se comparada com o que acabam de ouvir, fazem coro com a palestrante, que, no frigir dos ovos, acaba ficando mais na dúvida ainda, levando para o relacionamento íntimo inverdades, fruto de um relacionamento conjugal repleto de altos e baixos, que, na realidade, nunca existiu da maneira quase sempre exagerada com que mulheres desse tipo costumam enfeitá-lo, para se auto-afirmar como boas de cama, vindo daí muita frustração. Como quem as ouviu concordou, ficou ela própria na situação em que pretendia deixar suas ouvintes – o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Conclusão: a inverdade, tal qual rastilho de pólvora, espalha-se, acabando por ofuscar o brilho de tantos casamentos, que dentro da normalidade teriam tudo que uma relação precisa ter para ser duradoura. Esse exemplo que acabei de citar é voz corrente entre quase todos os casais, quando, passados dois ou três primeiros anos de casados, sentem, erroneamente, que um dos cônjuges está diferente, alguma coisa está errada e acabam se queixando para alguém na esperança de encontrar a solução adequada para solucionar o que julgam ser o maior problema. É exatamente aí que começa a fenecer, realmente um casamento que estava totalmente dentro da normalidade.
Existe um velho ditado que diz: “De médico e louco todos nós temos um pouco”. Dentro dessa premissa, se a queixosa for uma mulher, que buscará o auxílio em outra mulher, logicamente a ouvinte da queixa se sentirá com a bola cheia, julgando-se o exemplo a ser seguido e que vai ter a oportunidade de dar umas aulinhas. Dessas aulas, tudo se pode esperar. Dependendo do humor da interlocutora, a queixosa pode ouvir como resposta uma verdadeira saraivada de bobagens, que poderá afetar seu inocente marido, que nesses casos será sempre a parte ofendida e terá de responder pelo inusitado. Caso não obtenha a resposta esperada – e fatalmente não a terá – irá, logicamente, comentar o ocorrido nos mínimos detalhes com a “dona da verdade”, que, toda orgulhosa, já se considerará a razão de ser do casamento da amiga. Então, tudo que ela já ouviu alguém falar ou comentar e que ela julgar que se enquadra dentro do problema da “amiga”, não há dúvida de que vai aplicar em sua cobaia, sem dó nem piedade. Se, por acaso, ela, sem querer, disser para a aluna fazer algo que por um acaso venha a dar certo, então vai se gabar pelos quatro cantos, afirmando ter sido a salvadora de um casamento falido, dando o caso como referência. “Quem não acreditar que pergunte a ela, etc”. Quando o marido vier a saber, por intermédio de terceiros, ninguém mais segura o casamento, porque não existe um só homem no mundo que, em sã consciência, permita que a intimidade de seu casamento seja vasculhada por quem quer que seja. Salutar seria, que, se possível, quando das preliminares a um casamento, ambos, friamente, analisassem e testassem, logicamente sem deixar que o parceiro perceba, como se comporta o companheiro(a) perante alguns dos chamados vícios de comportamentos momentâneos.
Existem pessoas que procuram imitar as ações e comportamentos das pessoas de seu convívio. Quando isso acontece, quase instintivamente copiam gestos e manias a tal ponto, que, se em alguma conversa informal for comentado o relacionamento íntimo, fatalmente será imitado, levando para dentro do lar um tipo de experiência nem sempre condizente com o esperado pelo parceiro, trazendo na discrição do parceiro uma desconfiança calada, injustificada, ocasionando divergências, com resultados imprevisíveis. Por isso, um minucioso estudo do comportamento do parceiro(a), deverá ser feito bem discretamente, para não haver melindres, considerando sempre que pelo amor tudo vale, e nada pode abalar um verdadeiro amor. Precavendo-se para o inusitado não os pegar de surpresa; Se eventualmente os cônjuges assistindo a TV, por exemplo, o programa for sobre o comportamento sexual dos casais, e o que for falado pelo “famoso não sei quem”, um “expert” em assuntos íntimos e sexo dos anjos, ser aplicado no relacionamento íntimo do casal?.. Deverá ser considerado como previsível, se anteriormente, o casal, – precavido – for sabedor das características da personalidade do(a) parceiro(a).
Eu e minha esposa passamos a encarar nosso dia-a-dia como se tivéssemos todo o conhecimento do mundo que nos credenciava a vivenciar uma lua de mel única, pertencente a dois, ansiosamente esperada e sonhada diuturnamente por nós. Os primeiros meses de casados passamos morando em um sobrado alugado, recém-construído – fomos os primeiros inquilinos – no bairro Nossa Senhora das Mercês. Morávamos a quatro quadras de distância de meu irmão Luizinho. O serviço que passamos a exercer, eu e meu irmão, foi o de raspagem de tacos. Para tanto, compramos duas máquinas e saímos a procurar taco para raspar. Conseguimos muito trabalho. Labutávamos tal qual dois burros de carga. Aquelas máquinas pesavam mais do que os impostos no Brasil. Ao final do dia, quando chegava a casa, tomava um banho, jantava ia dormir, junto com minha esposa. Olhava para ela e dizia: “Mulher, esta cama está muito apertada para nós dois.” Quem não acreditar que vá raspar tacos durante apenas três dias seguidos e então comprovará o que digo.
CAPÍTULO XVII
Convite para uma nova vida
Pág.125
Um dia, por telefone, recebi um recado de minha irmã dizendo que eu ficasse de prontidão, que, no dia seguinte, meu cunhado estaria fazendo uma escala em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, e eu deveria seguir com ele para Mato Grosso, mais precisamente para Campo Grande (atualmente capital de Mato Grosso do Sul). Pessoalmente, ela me explicaria o porquê. No dia seguinte, na hora marcada, lá estava eu no aeroporto. Meu cunhado não teve dificuldade em me localizar. Juntos seguimos de avião para Campo Grande. Ainda no avião, meu cunhado me adiantou que, caso eu me decidisse favoravelmente à proposta de minha irmã, teria que desistir da minha vida artística. No mesmo instante, eu lhe respondi que já havia encerrado a vida artística e até meus instrumentos musicais havia deixado ao deus-dará. Ele disse que não estava entendendo bem o que eu dizia. Com educação, respondi-lhe que era história muito longa, que, devido à sua complexidade, não valeria a pena ser contada. Ao chegar, minha irmã ficou radiante de alegria por me reencontrar, e eu também. Sem mais delongas, já me foi dizendo o objetivo de minha estada ali naquele momento. Tinha ela conhecido um senhor que mexia com artesanato em couro e cobre e queria que eu, que conhecia um pouco de desenho e pintura, desenvolvesse algum trabalho nesse sentido. Concordei e, logo em seguida, comuniquei para minha esposa a novidade, dizendo-lhe também que iria procurar uma casa para alugar em Campo Grande. Minha esposa adorou. A casa que aluguei era realmente humilde. Tinha uma sala, um quarto, cozinha, banheiro e um quintal razoável. Era a de número 3, num corredor de seis casas seqüenciais denominada vila. Em São Paulo, os paulistanos costumam chamar esse padrão de casas agrupadas com apenas uma entrada de cortiço melhorado, porque não têm, como nos cortiços, tanque e banheiro coletivos.
O local de trabalho era distante da minha casa; indo a pé, cerca de 45 minutos. Eu fazia esse percurso praticamente quatro vezes por dia. Decorridos alguns meses, passei a me especializar em portas entalhadas, que se tornaram famosas com o passar dos tempos. Havia noite de ficar entalhando até duas horas da madrugada para dar conta de entregar as encomendas no dia marcado. Tive de contratar um marceneiro para me ajudar, depois outro, depois outro, financiei algumas máquinas, quando dei por mim, estava com uma indústria de móveis completa, com pedidos de móveis vindo de todo lugar. Minha esposa costumava ficar comigo às vezes. Quando de sua primeira gravidez, recebeu um acompanhamento pré-natal com a melhor médica parteira existente na época, doutora Geny Nakau. Por sermos marinheiros de primeira viagem, houve uma falha quanto à data em que deveria nascer nossa primeira filha. A médica determinou um prazo para que o bebê nascesse normalmente, caso contrário, no dia seguinte, às 20 horas, seria feita uma cesariana, porque minha esposa já tinha entrado em trabalho de parto. A barriga dela estava tão grande, que um sobrinho nosso, brincava com ela, colocando-lhe um prato de comida por cima, fingindo usá-la como mesa. Quando se esgotou o prazo estipulado pela médica, foi feita a ficha de internação na maternidade, encaminharam-na para assepsia e, às 19h30, minha esposa já estava deitada na mesa cirúrgica. Exatamente nesse instante, eu entrei no quarto da maternidade. Sozinho. Eu e Deus. Firmei meu pensamento em Nossa Senhora Aparecida e rezei com muita fé, pedindo a ela que realizasse o milagre de minha filha nascer naturalmente, sem ter que fazer cesariana. Prometi que, quando ela completasse 15 anos, eu a levaria até sua igreja em Aparecida do Norte e também daria algum dinheiro, dependendo de minha disponibilidade financeira. Quando acabei de rezar e me dirigi ao local onde seria feita a cesariana, escutei o choro de minha filha, que acabava de nascer de parto normal. Nasceu na maternidade Cândido Mariano, graças a Nossa Senhora Aparecida.
Um fato pitoresco que merece ser contado aconteceu por ocasião do nascimento de nosso segundo filho, no dia 13 de maio, em uma maternidade situada na Rua 13 de Maio, no apartamento de número 13, às 13 horas. Por último, como se costuma dizer, nasceu nossa terceira filha, no dia 12 de maio, encerrando nossa fábrica de nenéns. Nossa primeira filha recebeu o nome de Roberta, por sugestão de minha irmã Mariínha e aceito por minha esposa sem restrições. Ao completar 15 anos, a despeito de fazermos todas as comemorações dessa data, como eu havia prometido levar minha filha Roberta a Aparecida do Norte, cumpri minha promessa. A criação de minha filha transcorreu dentro da normalidade. Formou-se em Direito pela Unoeste, de Presidente Prudente, casou-se também com um advogado, doutor Osni, e me presenteou com uma netinha de nome Giovanna, que dá nó em pingo d’água. Já meu filho, cuja seqüência de números 13 sempre foi uma constante, também se formou em Direito pela Unoeste e, como não podia ser diferente, sua namorada também se forma em Direito ainda esse ano pela UFMS (tá sobrando advogado em minha família). Meu filho, Primo Moreschi Filho, recebeu meu nome por insistência de minha mulher, que sempre quis ver em nosso filho a continuação de meus passos, considerados por ela corretos, com o que concordo plenamente. Minha indústria de móveis, fazenda, chácara, etc. são administrados e incrementados por ele. Eu, agora, vivo que sou, fico coçando o sapicuá! Minha terceira filha, de nome Maria Stella Moreschi Borba, recebeu seu nome também por sugestão de minha irmã Mariínha. Formou-se em Arquitetura pela Uniderp, tirando proveito de seus dons artísticos relacionados à pintura e decoração. Como quem sai aos seus não degenera, acabou se casando com o Guga que faz da música seu meio de vida, com um conjunto de rock bom pra caramba, que chegou a fazer o maior sucesso com sua primeira gravação em MS, com a música de nome “Senhorita”, quando o conjunto se chamava Banda Naip. O que lhe faltou para que fosse um sucesso nacional, sem sombra de dúvida, foi fazer uma única apresentação num programa do Faustão ou do Gugu para o público jovem tomar conhecimento do seu carisma, voz e talento, reconhecidos por todo Mato Grosso do Sul.
Como eu estava dizendo, minha filha Maria Stella se casou com Guga e me deu também uma netinha, a Pietra, que é a coisa mais linda. Minhas netas convivem harmoniosamente. Gostam demais de procurar defeitos nos trajes que a avó usa. Defendem-me com unhas e dentes. Atualmente, elas têm exatamente sete anos. Eu e minha esposa, Ilza, conseguimos dar uma formação universitária aos nossos três filhos para que os mesmos não tivessem de passar pelos percalços que uma vida sem estudo superior costuma impor. Entregamos a eles as ferramentas necessárias ao cultivo. Quanto aos frutos, não tenho a menor dúvida de que serão colhidos em abundância – as amostras já o prenunciam. Mas, como sem luta não há vitória, devo dizer que, para chegar até o ponto a que chegamos, trabalhamos ininterruptamente. Nunca tirei férias, nem de ao menos cinco dias, em toda minha vida. Sempre nos pautamos pelo trabalho, em prol da criação e educação de nossos três filhos.
Mas eu e minha esposa enfrentamos muitas “bocas tortas” nessa escola que é a vida. Talvez não dê para repassar o que se deu, em toda a sua intensidade, mas mesmo assim eu vou tentar. Passados três anos do nascimento de nossa terceira filha, o dono do terreno que eu utilizava para desenvolver os pedidos de móveis pediu-o de volta alegando que necessitava para uso próprio. Eu lhe pedi um tempo razoável, para que pudesse me mudar sem deixar de dar continuidade às encomendas. Afinal de contas, a duras penas, já havia aprendido que direitos e deveres devem ser respeitados. O local para me instalar não seria problema, diferentemente da vez que fui colocado para fora a toque de caixa, sem dó nem piedade pelo doutor Jacinto, advogado do dono imóvel por nós alugado, que não levou em consideração as melhorias que fizemos no local e nos deixou sem possibilidade de reinstalação, porque todo o nosso dinheiro havia sido gasto em benfeitorias no imóvel. Dessa vez, porém, gato escaldado que eu era, no local usado para trabalhar construí apenas o que eu pudesse levar comigo na eventualidade de ter que me mudar. Eu também tinha o terreno para me reinstalar, bem como minha casa em início de construção.
Tive muito trabalho para poder usar esse terreno. Sua metragem, constante na escritura averbada em cartório, dando-me os direitos legais, foi confirmada pela prefeitura, que demarcou, por meio de seus agrimensores, a posição exata permitida para fazer os alicerces iniciais da construção de minha casa. Mas, do lado oposto da rua, paralelas ao meu terreno, existiam cinco casas de madeira e um salão grande, também de madeira, onde funcionava um rinha de briga galo. Quando foram abertas as valetas para iniciar a construção de minha casa, os donos da rinha as usaram como churrasqueira, praticamente destruindo quase a metade do trabalho executado. Depois de duas tentativas infrutíferas, não houve jeito de resolver a questão, porque, ao procurar os responsáveis para um entendimento, por bem ou por mal, ninguém se apresentava ao menos com hombridade de assumir a responsabilidade. A única solução plausível que encontrei foi levantar primeiramente os muros em volta do terreno para poder dar continuidade ao trabalho destruído por eles. Somente assim consegui continuar a construção de minha casa. A realidade nua e crua desse ato ridículo praticado pelos ditos donos dessa “rinha de galo” é que eram invasores do terreno em que construíram o barracão, bem como os moradores que faziam fundo com meu terreno. Como não se contentaram em invadir os terrenos onde suas casas já estavam construídas, acharam por bem prosseguir com uma cerca de arame até o outro lado do terreno que me pertencia. Mas meu registro de nascimento reza que eu sou do sexo masculino e, portanto, homem. Vai daí, não sendo filho de pai assustado, arranquei as cercas e fiz valer meus direitos. E não se podia confundir o caso com o do sem-terra, que invade e diz que ocupou. Se desse queixa na delegacia, eu seria atendido. Acontece que eu tinha um pouco de urgência e estava dentro dos meus direitos, dessa vez, com documentos em mãos. Gato escaldado!
CAPÍTULO XVIII
Vida de marceneiro
Pág.128
Certo dia, eu havia comprado uns ferros para os alicerces e o restante da construção de minha casa. O caminhão encarregado de transportá-los, antes de se dirigir para a obra, passou em minha fábrica de móveis para confirmar o endereço e saber o caminho mais prático até a construção. Tive a impressão de que havia ferros suficientes para construir três casas iguais à minha. Mas, como toda aquela encomenda estava com nota fiscal em meu nome, indiquei o caminho correto para o local onde deveria ser entregue o material. Por se tratar de ser bem distante do meu serviço, eu somente fiscalizava a obra ao fim do meu expediente. Nesse dia, quando lá cheguei, a despeito de o caminhão cheio de ferro ter saído de minha fábrica de móveis havia mais de duas horas, ainda não havia chegado a minha obra para descarregar. Eu e minha esposa ficamos intrigados com a demora. Passados uns minutos, o caminhão chegou. Estranhei a diminuta quantidade de material e perguntei ao motorista o porquê daquilo. Com a maior naturalidade, ele me respondeu que estava descarregando uma parte dos meus ferros em minha outra obra, um sobrado. Como não tínhamos outra construção, minha esposa virou um bicho. Chamou aos gritos pelo nome do construtor, senhor Temistones, que, com a maior cara-de-pau, quis dar a entender que não sabia de nada. Ilza, então, mandou que ele indicasse imediatamente o endereço do sobrado, que ele havia dito ao motorista que nos pertencia, exigindo-lhe que se explicasse. Chamou-o de tudo quanto foi nome pejorativo que pudesse existir. Exigiu a reposição do material surrupiado e correu com ele a toque de caixa, humilhando-o na frente de todos que se encontravam presentes. Essa é a minha mulher.
Desse dia em diante, passei a atacar de construtor, acumulando as funções diversas que minha fábrica de móveis exigia (minha peteca nunca caiu). Como o movimento das encomendas estava um pouco parado, resolvi desmontar o barracão no qual trabalhávamos para iniciar a mudança. Utilizei os serviços de meus marceneiros, que a essa altura do campeonato, entre registrados e empreiteiros, somavam 28 homens. Em uma semana, desmontamos, transportamos as máquinas e montamos tudo novamente no local de destino. O trabalho nas encomendas que estavam em andamento não chegou a ser interrompido. A saída do local onde estava instalado não influenciou em nada a relação com a clientela que eu já havia formado no decorrer dos poucos anos que lá estive. Quanto ao fato de ter me mudado praticamente às pressas, não atinei para o detalhe de que deveria anunciar aos meus distintos fregueses que passaríamos a atender em outro local. Mas, como eu praticamente dominava o mercado de móveis fabricados sob encomenda, meus fregueses me localizaram pela lista telefônica, não diminuindo nada na freqüência das encomendas de móveis que eu estava acostumado a receber.
Após alguns anos instalados nesse local, eu já havia substituído o barracão de madeira por um de alvenaria. No lado direito de minha fábrica de móveis existia um bolicho, que é como se chama, em Mato Grosso do Sul, um barzinho ou pequeno armazém de secos e molhados. O proprietário dele era exatamente um dos cinco invasores do terreno vizinho, que praticamente dividia a quadra de terreno comigo. Esse vizinho, aliás, também tinha prosseguido com a cerca do quintal, invadindo meu terreno. Quando construí a fabrica de móveis, derrubei as cercas que invadiam minha parte sem pedir satisfação para quem quer que seja. Pois eu tinha convicção do que me pertencia, e era essa minha maior garantia, a despeito de estar muito bem-documentado. Devido ao fato de uma vez ou outra, meus empregados freqüentarem esse bolicho e, logicamente, eu também comprar algum refrigerante ou coisa que o valesse, acabamos fazendo amizade. Minha esposa, sempre ao meu lado, logicamente, também fazia parte dessa amizade, recebendo um ótimo tratamento por parte dos familiares do dono do bolicho. Em determinado dia, precisamente antevéspera de Natal, recebemos um convite para almoçar com eles. Como eu e minha esposa não tínhamos combinado nada com ninguém para essa data, resolvemos aceitar o convite, mas confesso que o estranhei. O tempo passou. Chegado o dia do almoço especial de Natal, lá fomos nós. Conversa vai, conversa vem, uma cervejinha, um salgadinho, senhor Primo daqui, senhor Primo de lá, o dono do bolicho se vira pra mim e diz que precisava me dizer uma coisa muito importante. Imediatamente, autorizei-o a dizer. Primeiro, ele me perguntou se eu acreditava em macumba. Respondi que sim e que não. Não satisfeito com minha resposta, ele tentou me fazer entender, à sua moda, o que vinha a ser macumba. Demonstrei ser leigo completamente, mas, fingindo-me interessado, dei corda para ver até que ponto aquilo iria nos levar. Apos sua explanação, desprovida totalmente de conhecimento de causa, ele se virou pra mim e, como quem vai dizer alguma coisa muito importante, num tom de voz bem baixo, disse que teve um sonho comigo. Dei dois passos para trás, porque, a essa altura, ele estava tão perto de mim, que eu estava sentindo seu mau-hálito – perdoem a franqueza. O primeiro pensamento que me veio à mente foi de que o velho fosse bicha. Como não sou chegado, olhei pra minha esposa e fiz sinal de que iríamos embora. Nesse instante, ele me segurou o ombro e disse que fazia questão de me contar. Por mais que eu tentasse disfarçar para não ouvir, o homem começou contar o dito sonho mesmo sem minha permissão.
Disse-me que em seu sonho recebeu um aviso de que dentro de meu estabelecimento, exatamente no meio do portão de entrada para carros de minha fábrica de móveis, havia um trabalho de macumba enterrado embaixo do concreto, exatamente numa profundidade de um metro, que deveria ser desenterrado para ser desmanchado porque estava trancando meus negócios e o relacionamento familiar de todos que por ali passassem. Orientou-me até sobre como eu devia “desfazer” o mal. Ainda em sonho, prometeram-lhe que, no dia seguinte após haver desenterrado essa macumba, em sonho novamente, ele iria receber uma visão de onde se encontrava enterrada a segunda macumba. Confesso que me senti aliviado, porque minha desconfiança de que o homem fosse bicha não havia se concretizado. Quanto ao fato da macumba estar enterrada em minha propriedade, há controvérsias, que no desenrolar desta história procurarei esclarecer. Passados dois dias, eu nem me lembrava mais do que o velho havia dito. Eis que, passando na frente de meu estabelecimento, ele entra e, chamando-me de lado, diz em voz baixa que já tinha recebido em sonho a revelação de onde se encontrava o segundo trabalho de macumba. Ouvi com atenção, agradeci ao homem educadamente, como sempre foi meu costume. Ao sair, ele teve de passar exatamente onde me havia dito estar enterrado o primeiro trabalho de macumba. Nesse instante, fez questão de apontar bem o lugar que deveríamos escavar para retirá-lo.
Confesso que tive vontade de esculhambar aquele homem. Da primeira vez que ele me disse da existência dessa macumba, assegurou-me que após, desenterrá-la, receberia em sonho a revelação do local onde encontraríamos a segunda. Decorridos dois dias, sem que ninguém houvesse desenterrado nada, como é que ele muda o roteiro de seu sonho sem mais, nem menos? Aí tem, pensei. Minha preocupação em retirar de meu terreno a tal macumba não era maior que a pressa e insistência de retirá-la que aquele homem tinha. Antes de providenciar sua remoção, eu já tinha em mente o porquê de tudo aquilo estar acontecendo: antes de murar e construir minha indústria de móveis, esse mesmo vizinho tinha invadido todo meu terreno com sua cerca, que derrubei para fazer minha construção. Estava mais do que na cara que, ciente de que iria perder um baita de um quintal, semelhante a uma chácara, para outro, que talvez ele julgou também ser invasor, como ele, procurou todos os meios para impedir que eu levasse avante meu intento. Só não foi atrás da justiça porque não tinha documentos que provassem sua legitimidade em relação ao terreno. Devido ao fato de acreditar piamente em trabalho de macumba, não perdeu mais tempo, procurou um macumbeiro de plantão e lhe pediu para fazer um “trabalho” para atrapalhar a vida de quem ousasse se instalar naquele lugar. Enfim, achou que com isso seu desafeto iria sumir e deixar o local, e ele, voltaria a pôr a cerca onde achava que era sua propriedade. Eu imagino que seu trabalho tenha sido feito antes ainda de eu arrancar as cercas existentes. Sendo assim, acabou por prejudicar a ele próprio. Se a cerca existia, logicamente, o prejudicado seria quem estivesse instalado dentro da mesma. Então, as manifestações próprias do desconforto que decorrem de uma macumba atingiram tal qual bumerangue seu próprio atirador. E a macumba atinge mais gravemente aqueles que nela acreditam piamente. Sem contar que seus malefícios dobram na medida em que quem conhece os seus meandros – saiba fazer trabalhos macabros contínuos, – invocando sofredores diversos com oferendas a eles para que perturbem quem morar naquele lugar específico. Logicamente, chegou a um ponto em que algum médium vidente decifrou-lhe que estava tudo errado e o maior prejudicado era exatamente ele. Daí, portanto, a pressa de retirar a macumba. – o feitiço virou contra o feiticeiro.
Logo depois que ele saiu do meu estabelecimento, fazendo toda aquela encenação um de meus funcionários estava recebendo umas orientações de serviço e acabou escutando toda nossa conversa. Não querendo ser indiscreto, mas sendo, perguntou-me se podia me ajudar em alguma coisa. Respondi-lhe, com ar de gozação, que largasse do armário embutido que estava fazendo e viesse comigo, nós iríamos desfazer uma macumba. Imaginei que receberia um sonoro não, mas me enganei redondamente. Ele encarou com a maior seriedade possível aquela minha ordem, fazendo somente uma ressalva: primeiro falaria com sua sogra, porque ela vivia mexendo com esse tipo de coisa, e lhe pediria uma orientação quanto ao ritual correto que deveria ser obedecido para desfazer aquele mal feito. No dia seguinte, esse meu funcionário relatou que já sabia exatamente como proceder. Pegamos uma picareta para quebrar o concreto da entrada da minha fábrica de móveis. Depois de escavarmos quase um metro de profundidade, meu vizinho, percebendo o que fazíamos, chegou-se até nós e disse que estávamos cavando muito à direita do verdadeiro local que ele viu em sonho, apontando o lugar correto. Eu já estava para desistir, quando meu funcionário bateu com a pá de ponta em alguma coisa dura. Escavamos mais e visualizamos uma bateria dessas próprias de usar em carro. Meu funcionário fez o ritual que sua sogra havia lhe ensinado e retirou aquela bateria velha dali. Quando a retiramos totalmente, notamos que era apenas a carcaça de uma bateria velha, com uma tampa de lata toda enferrujada cobrindo seu conteúdo, que consistia em uma vela preta, uns sinais feitos com giz ou coisa parecida, tanto no fundo como em suas laterais, uma espécie de água suja, que alguns chamaram de “marafo” (pinga na língua da macumba), um toco de charuto amassado, um papel pequeno com alguns dizeres e símbolos, etc. Todos os meus funcionários presenciaram aquilo e se animaram a desenterrar o outro trabalho de macumba que o vizinho disse também existir em outro lugar do terreno. O local do segundo enterro era ao pé de uma goiabeira enorme, nos fundos da fábrica. Escavamos e encontramos outra caixa idêntica à primeira em tudo. A desconfiança quanto ao responsável por tudo aquilo ficou pairando no ar. Todos, sem exceção, não tiveram dúvidas quanto à autoria daquela façanha maligna. Por meu vizinho ser um senhor de idade já avançada, achei por bem não levar o caso adiante, encarando aquilo com normalidade. – tem gente para tudo.
CAPÍTULO XIX
Rinha de galo e briga de gente
Pág.132
Continuei cuidando de minha vida, fabricando meus móveis e aos poucos terminando de construir minha residência. Antes mesmo de acabar a construção, minha esposa quis se instalar. Ficamos praticamente acampados. Mas, só pelo fato de morar no que era nosso, não cabíamos em nós de contentamento. Afinal havíamos conseguido fugir do malfadado aluguel. Somente uma coisa nos incomodava demais em nossa nova residência: a rinha de briga de galo. Durante toda a semana, a algazarra e gritaria se estendiam até altas horas da madrugada. Não havia cristão que conseguisse dormir com o barulho que os apostadores faziam. Volta e meia até tiro saía. Pena que os tiros somente eram para festejar a vitória de algum galo deles. De vez em quando, aparecia em meu quintal um galo morto. Eu reclamava, mas ninguém me dava a mínima atenção. Os apostadores, em geral, faziam questão de me irritar, para que eu não agüentasse a pressão e me mudasse. Certo dia, “o cabeça” do rinhadeiro chegou-se a mim e fez uma proposta de compra de minha casa. Teve a petulância de me dizer que, caso eu concordasse em vender minha casa para eles, ela seria usada para os escritórios da rinha e também para acomodar competidores que viessem de outras cidades. Respondi ao indivíduo que minha casa não estava à venda porque a construí para morar junto de minha fábrica de móveis e passar mais credibilidade aos meus fregueses. Desse dia em diante, tive a impressão de que, mancomunados, eles procuraram me irritar ainda mais do que antes. Quando não era um galo morto que amanhecia do meu lado, eram aqueles gritos dos torcedores que não nos deixavam dormir. Para acabar de bagunçar, aos domingos, às seis horas da manhã, pegavam cadeiras, sentavam-se e ficavam fazendo massagem em seus galos competidores, enquanto outros tomavam chimarrão ou cerveja na minha calçada, diante do meu portão.
Eu me levantava da cama, escorraçava com todo mundo, mandava-os para a pqp e chamava a polícia para acabar com aquele rinhadeiro clandestino, mas os policiais entravam lá, conversavam com o responsável e iam embora. Não demorava nem meia hora, lá estavam eles novamente com a mesma algazarra anterior. Para bom entendedor… A briga de galo há muito tempo havia sido proibida no Brasil. Sendo assim, uma vez que alguém desse queixa, seria o suficiente para ser fechado o estabelecimento infrator e lacrado o local. Pois eu perdi a conta de quantas vezes chamei a polícia para acabar com aquela anarquia que invadia a noite, desrespeitando e perturbando o descanso necessário a todo cidadão trabalhador que paga seus impostos sagradamente. Quando vi que não adiantava chamar a polícia para acabar com aquela folia, por haver, entre os apostadores, gente de influência comprovada, de vez em quando, já adiantada a hora e aquela gritaria infernal, eu dava uma de louco, entrava com meu 38 na cintura e gritava também, no mesmo tom da gritaria deles, o que, temporariamente, acalmava os ânimos. Mas nem por isso deixavam de fazer as brigas de galo. De tanto eu dar uma de doido com os caras, aos poucos eles foram maneirando no barulho e respeitando um pouco mais os horários toleráveis para determinados exageros. Nunca mais jogaram galo morto em meu quintal. Se isso tudo estivesse acontecendo hoje, levando-se em consideração a lei que proibi o uso de armas, e eu entrasse no meio de daquela corja desarmado?… Eles iriam me bater tanto, mais tanto, que eu ainda iria pedir desculpas por estar interrompendo o barulho deles.
Já que falamos da lei do desarmamento, analisemos: no mundo em que vivemos, dominado praticamente pelo banditismo, é uma piada entrar em vigor a “lei”, proibindo o uso de armas de fogo pelo cidadão honesto. A “lei”, obviamente, não será obedecida pelos bandidos, pelo contrário, se há uma “lei” para eles, é exatamente a “lei do desrespeito”, convictos que são da impunidade. Quanto ao cidadão honesto, terá de acatar toda lei à risca, porque, do contrário, será recolhido em uma prisão justamente no lugar que o marginal deveria ocupar. O bandido, o ladrão ou seqüestrador? Esses estarão numa boa, têm uma boa parcela da mídia inteiramente a seu favor, gratuitamente enaltecendo seus dotes de fora-da-lei. É raro não se ouvir em qualquer programa de notícias o apresentador ou algum “especialista de “P” nenhuma, orientar as pessoas para não reagir aos ladrões, porque eles fazem isso, fazem aquilo, etc. Será que essa meia dúzia de infelizes da mídia não percebeu ainda que está (estão) abrindo um leque enorme para favorecer os assaltantes ou seqüestradores, ao dizer para a população não reagir em caso de assalto? Se antes desse alerta os bandidos agiam com um pouco de receio, agora, sabendo que a população não reagirá, vão deitar e rolar, como já estão fazendo. Como se não bastasse, para facilitar ainda mais a saga dos bandidos, nossos mandatário-mor, exatamente aqueles que colocamos lá em cima, no poder, para nos defender e fazer nossa vida menos difícil em todos os sentidos, brindam-nos com essa lei impensada de desarmar a população – como se isso fosse possível.
Suponhamos que realmente toda a população ficasse desarmada. Será que os bandidos entregariam também as armas? Sua principal ferramenta de “trabalho”? Digamos que também os bandidos entregassem as armas – sonho doido. Eles iriam assaltar na porrada, porque acham que dinheiro de trouxa é matula de malandro. E a população, logicamente, para se defender, iria estudar defesa pessoal, certo? Muito bem. Porém…Não duvidem de que haveriam de fazer uma lei proibindo a população de usar seus conhecimentos de defesa pessoal contra pessoas que não tivessem também curso de defesa. O favorecido novamente seria o malandro, que se faria de vítima (pobrezinho, sem dinheiro para pagar um curso de defesa pessoal…). A única maneira louvável de colocar um basta na marginalidade, todos sabem, está tão-somente nas mãos de nossas Polícias Civil e Militar. Bastaria dar um “chega pra lá” nos palpiteiros de plantão, que influenciam demais no modus operandi dos nossos policiais, procedimentos necessários ao cumprimento do dever de proteger o cidadão. Dessa forma nossos policiais dariam conta do recado tranqüilamente. Quando uma guarnição policial é destacada para cumprir seu dever, as orientações que recebem para não ferir ou atirar em ninguém são tão grandes que acabam por melar toda e qualquer operação policial, fadada ao sucesso se fosse permitido usar contra os bandidos e malandros os treinamentos que são exigidos quando do ingresso numa corporação. A história seria bem outra.
A maioria da população fica frustrada, como eu, quando vê o desrespeito dos marginais pelos policiais – num confronto. Percebe-se claramente, salvo algumas exceções, que nossos policiais evitam o confronto que deveria ser o ponto alto de uma batida policial. Quando um agente, cansado de ser relegado a segundo plano, resolve fazer valer sua autoridade e castigar os bandidos com um pouco do rigor – necessário – para impor o respeito que uma autoridade policial representa (para isso ele foi treinado), a população, em vez de aplaudir a ação em prol de nossa defesa, ao contrário, mete a boca no trombone, destruindo a imagem desse que enfrentou quem poderia estar nos causando malefícios. Como se não bastasse, dois ou três gatos pingados de nossa mídia fazem coro, atacando a imagem de policiais, que, por fazer valer sua autoridade em defesa da população, acabam recebendo uma verdadeira execração pública, culminando no descrédito total frente à população, que os taxa de brutos e despreparados. De que serve termos Polícia Civil e Militar se, quando delas necessitamos, seus agentes são impedidos de cumprir seu dever na íntegra? A conseqüência disso tudo é o incremento da marginalidade, que, ciente de poder contar com a boca do próprio povo auxiliado por uma boa parte da mídia proibindo o verdadeiro policial que agir em nossa defesa?… Deita e rola, desafiando nossos policiais. Como se não bastasse, resolvem desarmar a população. Se por uma infelicidade, o inventor dessa lei passasse pelo que eu passei no aconchego do meu lar dias antes do plebiscito do desarmamento, fatalmente mudaria de opinião. – com certeza.
Estava eu, minha esposa e meu filho dormindo, quando, repentinamente, acordamos com uma quadrilha arrombando nosso portão de acesso à rua. A insistência deles no arrombamento já demonstrava que pretendiam impor terror para, após invadir e fazer um arrastão geral em minha casa, usar e abusar de todos, principalmente das mulheres. Para tanto, estavam em número de dez marginais. O portão não suportou a força dos pés dos bandidos, e os marginais começaram a entrar para arrombar a porta de entrada da casa. Isso tudo em fração de dois ou três minutos, no máximo. Ao mesmo tempo em que os bandidos arrombavam o portão para se dirigirem para minha porta de entrada, meu filho (que não tem pai assustado) pegou sua pistola e abriu a porta, disparando cinco tiros em cima de suas cabeças, devolvendo-lhes o terror que tentaram implantar e revertendo a situação. Após os marginais terem sido escorraçados à bala, eles correram e se distanciaram aproximadamente 70 metros de nós, que assim pudemos contar quantos compunham a gangue. Sete deles estavam a pé, ao passo que um estava de moto 125 cilindrada. Ainda havia um com uma moto Bizz, e o terceiro (o mais atrevido) estava de bicicleta. Cientes de uma relativa segurança, dada a distância que eles mantiveram, o mais abusado usava os seguintes termos para instigar meu filho, que junto a mim, estava de arma em punho: “Chiiiiii” – gritando e tirando sarro – “manda consertar o portão, manéééé. Num tem mais bala não? Chiiiiii, é três oitão? Chiiiiii, num tem pistola não, manééééé… Chiiiiiiii!” Enquanto ele fazia toda essa cena, ficava em cima de sua bicicleta, dando voltas em meio aos seus comparsas, que, alguns até sentados no meio fio, aguardavam o desfecho. Não satisfeito em não encontrar nenhuma resposta de nossa parte, ele tentou mais uma vez nos assustar, vindo em nossa direção em velocidade com sua bicicleta. Mas, quando chegou a uma relativa distância de risco de levar um tiro – bandido profissional que era –, deduziu que haviam sido disparados apenas cinco tiros, portanto, mesmo que fosse um 38, na pior das hipóteses, restava ainda uma bala na agulha. Melhor seria não arriscar. Mal sabia ele que o “três – oitão” era nada mais nada menos que uma pistola, com pente reserva (devidamente documentada, porte de arma, etc.), que somos obrigados a portar devido ao comércio que exercemos. Essa arma nos livrou de uma desgraça, que nunca pensei estar tão perto de minha família. E digo mais, isso tudo se passou a uma distância de três quadras da casa do secretário de Segurança Pública de nossa cidade… O boletim de ocorrência foi registrado para quem quiser comprovar.
Não vou negar. Por toda minha vida eu mantive uma arma escondida em minha casa, para defender minha família de um inusitado. Considero de suma importância um chefe de família responsável manter uma arma de defesa camuflada em seu lar, não sem antes procurar fazer um curso de tiro, para que numa eventualidade, como a que aconteceu comigo, saber usá-la com responsabilidade. Desafio o autor da lei do desarmamento, a colocar-se em meu lugar, e imaginar-se sendo invadido no aconchego de seu lar, em plena madrugada, sem ao menos uma arma para defender sua mulher e filhas? Qual seria sua reação vendo uma gangue de marginais abusarem de sua mulher e filhas debaixo de seus olhos, sem você poder esboçar reação nenhuma? Fala sério!… Denunciando políticos ladrões, você ajudaria muito mais a população. Por outro lado, se realmente existir a intenção de defender a sociedade, basta colocar um efetivo policial militar nas ruas, diuturnamente, na mesma proporção da que é colocada para proteger os políticos. Não haveria necessidade de incremento no efetivo policial. Bastaria revisar as contratações que ao longo dos anos foram feitas para suprir o quadro, que iremos encontrar agentes transferidos para algum escritório ou serviço burocrático, descaracterizados de sua funções específicas, para as quais foram efetivados, ou seja, policiar as ruas e defender o cidadão de bem. Tenho notado que a maioria das pessoas que faz concursos para cargos policiais, mesmo sabendo que o salário oferecido e divulgado é inferior ao pretendido pelos concorrentes, participa, contando de antemão que conseguirá uma transferência e será lotado em um dos vários escritórios, exercendo serviços burocráticos, que nada têm a ver com a finalidade proposta pelo concurso do qual participou, que seria o policiamento nas ruas. Com isso, falta novamente efetivo para o policiamento das ruas, e tome trombadinhas, traficantes e outros meliantes a proliferar em nossas escolas, ruas e residências! Se fosse cumprido à risca o objetivo do concurso proposto de antemão, o qual seria de incrementar o quadro de policiais preparados para policiar as ruas em quantidade (proporção) condizente com a necessidade premente de nossa população, e não permitindo, portanto, a transferência dos mesmos para serviços burocráticos, eu não teria tido o desprazer e prejuízo financeiro um dia desses.
Na manhã do dia 21 de julho de 2005, ao sair para ir trabalhar, um policial militar dirigiu-se a mim e minha esposa dizendo que lhe telefonaram avisando que as duas portas principais de entrada de minha loja de móveis (de blindex) haviam sido estouradas por marginais, resultando no roubo de um aparelho de som e três micros computadores, dando-me assim um prejuízo que bem poderia ser evitado se houvesse efetivo policial militar constante nas ruas e avenidas de nossa cidade. Garanto uma coisa: se for levado realmente a sério o que acabo de dizer e direcionarem uma parcela do pagamento de nossos impostos na arregimentação de policiais militares, em quantidade realmente proporcional à população circulante nas ruas diuturnamente (eu disse “diuturnamente”!), as armas que porventura a população tiver, acabarão se deteriorando pelo desuso e receio de utilizá-las sem seu devido porte legal ou necessidade. Não seria necessário fazer esse alarde todo com o título de “desarmamento”, que funcionou mais como a maior das ajudas que os ladrões e assaltantes poderiam receber em toda a história da humanidade. Quanto ao cidadão ter uma arma em casa, para a eventualidade de um ladrão adentrar sua residência, considero louvável. Não acredito que, em sã consciência, queiram proibir um pai de família de ter um mínimo de defesa, pelo menos dentro de sua casa.
CAPÍTULO XX
Parêntese II – reflexão nunca é demais
Pág.137
Cansei de ver, também, nossa mídia, principalmente a televisiva, ensinando indiretamente ao telespectador, táticas empregadas por marginais na prática de seus delitos. Se, por exemplo, um determinado elemento é pego vendendo cocaína, a mídia, ao registrar o fato, não se atém a mostrar o marginal infrator e a droga. Aproveita o ensejo para mostrar tin-tim por tin-tim, como o traficante fazia artesanalmente (se for o caso) o refino da droga, ou seja, dá aos telespectadores, indiretamente, uma aula de como devem proceder para refinar a cocaína. Quem ainda não tinha conhecimento e era pré-disposto a enveredar pelo mesmo caminho, acaba aprendendo com detalhes a lição. Pô-la em prática é apenas uma questão de tempo. O mesmo caso se dá em relação a uma prisão de seqüestradores. Nossa mídia não se atém a apresentar aos telespectadores apenas as caras dos bandidos e o seqüestrado em si. Parece que estão torcendo para que outro seqüestro aconteça o mais rápido possível. Ou será que o repórter que faz a cobertura do caso não percebe que ao esmiuçar o procedimento – modus-operandi – dos seqüestradores ensina com detalhes para que outros aprendam e apliquem? Sinceramente, não sei identificar quem é mais despreparado e irresponsável, o repórter ou o diretor de jornalismo, que autoriza a exibição da matéria. Toda matéria jornalística tem de passar pelo crivo do diretor de jornalismo. Uma vez que o diretor autoriza a exibição de determinada reportagem, ele assina um atestado de conivência com aquilo. Portanto, o diretor de jornalismo que permite que seja levada ao ar uma matéria que instrui a quem assiste como deve proceder para fazer o errado, sinceramente, é um irresponsável, desprovido de discernimento lógico do que venha a ser o certo e o errado, digno de ser substituído por alguém capaz de usar essa função com um pouco mais de respeito pelo telespectador consciente, já que o telespectador inconseqüente à espera de deixas erradas, como essas para colocar em prática, existe a exaustão. – concordam?. Outro exemplo dessa irresponsabilidade é o ímpeto desenfreado de alguns repórteres que, em busca de matérias, bem como de audiência, ultrapassam muitas vezes os limites da sensatez, escudados na tão propalada liberdade de imprensa. Salvo uma meia dúzia de jornalistas conscientes, o restante serve apenas para destruir a imagem, já um tanto desgastada deles.
Quando acontece desses repórteres – com um pé na imprensa marrom – encontrarem pela frente um diretor de jornalismo dos chamados famosos, salve-se quem puder… As matérias levadas ao ar serão de péssima qualidade. Prevalecerá sempre o sensacionalismo desenvolvido em laboratório, para abusar da suscetibilidade do telespectador incauto, sedento de desfechos os mais mirabolantes possíveis, não se importando com a qualidade. No frigir dos ovos, o que importa para essa meia dúzia de aproveitadores da opinião pública, incluindo-se aqui certos novelistas e suas cenas de sexo? É o resultado do Ibope, (Instituto Brasileiro de Opinião Pública). Esquecem totalmente os malefícios advindos das reportagens escritas, faladas e televisadas, carregadas de sensacionalismo, desprovidas de conteúdos pedagógicos direcionados louváveis, com intuito de enaltecer sem deturpar o pouco que nossa gente sofrida e cansada conseguiu a duras penas. “O povo que se dane”. Sempre tive em mente essa citação, mas, por boas razões, havia deixado de me manifestar, até agora. Pensei que algum político – fazendo jus ao cargo eletivo que lhe foi conferido nas urnas pela população – resolvesse intervir, criando uma lei paralela ou estudando a legislação no intuito de encontrar uma brecha, na qual se pudesse ao menos amainar, deixando-as menos agressivas, as matérias que indiretamente ensinam, estimulam e atiçam a população a fazer uso dos ensinamentos pouco louváveis e de cunho sensacionalista, levados a público sem um mínimo de cuidado com os efeitos colaterais, que fatalmente atingem nossa população. Enganei-me redondamente. Pelo jeito, é mais fácil compor junto à sábia citação bíblica de um camelo entrar pelo buraco de uma agulha que um “político” se interessar em levar avante uma questão polêmica, que o colocaria em xeque com a mídia. O que mais importa para a maioria dos políticos, em primeiro lugar, é o cargo eletivo. Depois, usar um bom jogo de cintura e fazer vistas grossas para questões verdadeiramente necessárias à população, fingindo que está alerta a tudo e tomando alguma atitude. Em verdade, se preocupam apenas em “tirar o deles da reta”, para não atrapalhar o bom relacionamento que eles julgam ter com a imprensa marrom, com que esperam contar numa próxima eleição. E o povo?… Que vá se danar.
Os maus eleitores?… Não tenham dúvidas de que serão capazes de votar neles novamente. Os maus “políticos”, têm de sobra, desculpas plausíveis convincentes suficientes, (ao ponto), do gosto de seu eleitorado – Tiram de letra. Pudera, sabem que podem contar com o beneplácito do mau eleitor.
Até ontem, o político inteligente, mas mau-caráter, num período de três a cinco dias antes de uma eleição conseguia os votos que estivessem lhe faltando numa boa. Disse até ontem porque hoje tudo isso pode mudar, bastando apenas um surto de honestidade, respeito, consideração, amor ao próximo e exercício da gratidão, tão em falta hoje em dia. Fácil não? Enquanto isso não vem, os maus políticos deitam e rolam à custa do povo – e à minha custa, por tabela. Nosso povo, que na maioria não entende patavina do que resulta votar nesse ou naquele político, aceita qualquer propina para votar em qualquer político que se apresente, contanto que ofereça algo. Seu lema é ser esperto (pelo menos é isso que ele pensa que é). Ele considera que, de uma forma ou de outra, teria que votar em alguém mesmo. Ganhando qualquer mixaria que seja em troca de seu voto, então, está pra lá de bom, sô. Quanto às conseqüências advindas dessa sua atitude, ele as sentirá na carne e no bolso durante quatro anos, ininterruptos, sem entender que ele é o maior culpado pela vida miserável em que vive – vivemos – porque todos temos de pagar pelos erros dos maus eleitores. Salutar seria que, nos lares, na medida do possível, sempre que alguém que entendesse um pouco do que representa um político dentro de nossa sociedade, orientasse seus familiares quanto ao perigo de vender um voto, delegando poderes a um político, seja ele quem for, dizendo-lhes, principalmente aos que já tem o histórico de ter vendido seu voto, que um mau-caráter poderá se eleger com apenas um voto a mais do que seu oponente, que talvez pudesse lhe trazer muito mais benefícios do que aquele que venceu o pleito graças àquele “mísero” voto, proporcionado por ele, conseguido pelo mau político à custa de um trocado ou uma cesta básica. Conscientizar as pessoas que o salário de um político não é tão elevado a ponto de valer o gasto na compra de votos com uma enxurrada de dinheiro e cestas básicas para conseguir se eleger. Se ele gastar muito mais do que, eleito, poderá receber, está mais do que provado que tem a intenção de recuperar tudo ou muito mais do que o investido em sua campanha nas costas do próprio povo que o elegeu – sem sombra de dúvida. Não pode ter, portanto, confiabilidade os que se dispõe a comprar votos. Digamos que um elemento, “João de Tal”, resolveu candidatar-se a deputado. É sabido que o salário de um deputado gira em torno de R$ 12 mil. Digamos que os concorrentes a esse cargo são três, sendo que dois deles são pessoas que, ao longo dos anos, têm procurado fazer alguma coisa de útil em benefício da população, sem nada receber em troca, apenas pelo amor ao próximo (coisa quase impossível de existir). E o “João de Tal” é um ilustre desconhecido que, em cima dos prazos exigidos para filiação ao partido e domicílio eleitoral, no sufoco, sai candidato, goela abaixo de outros filiados, que também tinha pretensão de sair candidatos na mesma disputa e, acima de tudo, possuíam em sua bagagem algo feito em benefício da comunidade – sabido e certo, portanto, que a população votaria neles. “João de Tal”, por meio de um esquema minuciosamente arquitetado, arregimenta como parceiros alguns empresários, também de mau caráter, que financiam sua campanha. O objetivo deles é que o eleito, por eles financiado, por intermédio de seu livre trânsito nas esferas estaduais e federais, possa facilitar falcatruas diversas, direcionadas em lesar nosso povo. Ao financiar sua campanha e o eleger, os maus empresários conseguem ter um “testa de ferro” dentro do Parlamento, que facilitará vencer uma concorrência, receber pagamento antecipado de algum serviço ainda não executado, superfaturar serviços ou compras, arrumar colocação para seus familiares com vencimentos estratosféricos, etc.
Se analisarmos friamente que o vencimento mensal de um deputado será R$12 mil, como se justifica, em uma campanha, que esse candidato gaste entre cabos eleitorais, gasolina à vontade para os taxistas que andarem com sua propaganda, compra de votos para alavancar sua eleição, churrascada para atrair eleitores, promoção de shows com artistas famosos (e caros), distribuição de jogos de camisas para clubes, camisetas promocionais com o nome do candidato, santinhos, panfletos, bottons, outdoor, etc., um mínimo de R$ 500 mil? Qualquer pessoa com um mínimo de instrução e discernimento deduzirá logo que um político dentro dessas características, nunca poderá ser alguém que mereça nosso respeito, confiança ou um voto. Para não credenciarmos um deputado a nos roubar e fazer a farra que bem entender com nosso suado dinheiro dos impostos – que pagamos em excesso e somos obrigados a recolher por culpa também de outros maus políticos, que foram por nós eleitos e votaram leis absurdas de aumentos de tributos, além da criação de outros tantos, que continuarão criando até a exaustão para cobrir buracos com a contratação de apaniguados que mal sabem escrever seus nomes e recebem salários na faixa de R$ 2 mil a R$ 15 mil, fora ajudas de custo que inventam. Depois, “debaixo de um quieto”, dividem entre eles, na calada da noite, juntamente com uma parte felpuda que seus protegidos são obrigados a tirar de seus contracheques e dar para o deputado que lhe arrumou o emprego em seu gabinete ou outro órgão qualquer. Não compensa receber R$ 10,00, R$ 50,00 ou uma mísera cesta básica para votar em um candidato, seja ele quem for. Seria o mesmo que assinar para nós mesmos um atestado de burrice.
Dentre os absurdos à nossa volta, existe um de que, tenho certeza, muita gente não tem conhecimento. Se, por uma infelicidade, você surpreender um ladrão dentro de sua casa e, imbuído da intenção de proteger sua família, atirar nele e matá-lo, você será preso, responderá a um processo-crime por ter matado um desafeto seu e, possivelmente, um promotor poderá argumentar que você o induziu a entrar em sua casa – a seu convite – matando-o e simulando a tentativa de roubo. Ou seja, fica-se sem saber o que fazer. Ouvi isso da boca de um diretor de departamento policial, que conheci graças a um serviço de confecção de móveis. Por ser uma pessoa respeitada e temida dentro das suas funções, orgulhava-me de ter o privilégio de sua amizade. O que ele me disse veio em resposta a uma pergunta que eu lhe fiz: “Doutor Fulano, por favor, responda-me. Suponhamos que eu surpreenda um ladrão dentro de minha casa e, em defesa de meu lar, venha a matá-lo, o que acontecerá?” Respondeu-me antes que eu acabasse de formular a questão: “Você vai preso e responderá a processo criminal com agravante de premeditação.” Insisti em saber mais, acrescentando: O senhor acha que eu devo admitir que o bandido acabe com minha família embaixo de meus olhos? E ele: “Essa decisão eu não gostaria de ter que tomar. Mas a lei é implacável. Você só se livraria da prisão se sumisse com o cadáver do ladrão. Coisa quase impossível de fazer por gente de bem como você.” Passados alguns meses desse nosso diálogo, ao abrir o jornal na página policial, eis que em letras garrafais estava o nome desse que foi um baluarte contra a criminalidade dentro de sua área específica, numa notícia de que o haviam assassinado. Como esta vida é repleta de altos e baixos. Partindo da premissa de que para morrer basta estar vivo, nunca é demais atentar os mínimos detalhes. As pessoas que nos cercam nem sempre são o que pensamos ou o que aparentam ser.
CAPÍTULO XXI
Solidariedade, gratidão e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.
Pág.140
Dentro desse meu humilde conhecimento do que é a vida em si, aprendi, a duras penas, que todo passo em direção a um objetivo deve ser cercado de sigilo absoluto em todos os sentidos. Mesmo assim, corremos o risco de ver escancarado a céu aberto o segredo que julgamos ter guardado a sete chaves. Quando isso acontece, nunca é para nos beneficiar. “Existem razões que a própria razão desconhece”. Apenas para ilustrar, conto algo que se passou com meu irmão Luizinho. Um dia, mais precisamente em 1957, ele se virou para mim e me perguntou durante uma conversa informal: “Primo: você sabe como é feito o início do movimento de um motor de carro?” Parei para pensar um pouco e, como recentemente havia tirado minha carteira de motorista categoria profissional, não encontrei dificuldade para lhe dizer. “Sim”, respondi. “A gasolina do tanque vai para a bomba, que a manda para o carburador, e o carburador transforma o líquido bruto em vapor de gasolina, enviando-os aos tubos de combustão, que com as faíscas das velas ocasionam uma explosão violenta, movimentando os êmbolos alternadamente, os quais, por sua vez, movimentam as engrenagens, que fazem girar as rodas, etc. “Muito bem”, disse-me ele. E continuou: “Se a gasolina tem de passar por esse processo todo para chegar até os tubos de combustão, não seria muito mais prático eliminarmos a gasolina e enviarmos gás liquefeito – gás de cozinha – diretamente para os tubos de combustão”? Depois de pensar alguns instantes, coloquei minhas mãos na cabeça e disse para Luizinho: “Zinho, você acabou de inventar o motor a gás”! Ele olhou para mim com um ar alegre de que nem ele próprio tinha pensado nisso quando imaginou apenas facilitar e tornar mais prático o trabalho de um motor. Virou para mim e disse: “Rapaz, se a gente fizer um motor desses nós vamos revolucionar o mercado de carros e praticamente acabar com as refinadoras de óleo e gasolina automotivas, isso é muito sério.” Interferi dizendo: “Luizinho, a lógica para levar adiante seu invento seria primeiramente fazer um desenho técnico específico e, se possível, um protótipo de motor experimental para, após comprovar que realmente funciona, registrar a patente em seu nome, evitando assim que lhe roubem a idéia. Depois, arranjarmos um magnata que queira bancar o projeto ou, na pior das hipóteses, comprar sua patente.” Disse-lhe isso, mas começamos refletir com os pés no chão.
Dinheiro para isso, não tínhamos. Quando muito, dado nosso conhecimento de desenho, poderíamos projetar a planta técnica, ilustrando seu funcionamento teórico, que já seria mais do que suficiente para dar início ao registro da patente. Informaram-nos de que devíamos procurar um desses escritórios de registros de marcas e patentes e, após o pagamento de uma taxa específica, aguardaríamos 30 dias, nos quais seria dada uma busca em todo o território brasileiro e no estrangeiro para saber se alguém já não teria registrado essa patente em algum lugar. Imaginem o dilema. Quem em sã consciência entraria em um desses escritórios, com um projeto dessa envergadura, para mandar dar uma busca? Confiar que, após 30 dias, receberia uma resposta favorável, dando como sua uma invenção que já se sabia não ter similar. Confiar que essa espera de 30 dias não seria para falcatruas, talvez até, de âmbito internacional, com o intuito de alertar quem de direito para impedir seu registro e nos dizer que já existia outra patente, tornando sem efeito uma invenção revolucionária como aquela?… Resolvemos ficar quietos e esperar uma oportunidade – nem mesmo nós sabíamos quando e como. Mas continuamos aguardando. Passados alguns anos, por ocasião de um parente estar exercendo um cargo de certa influência, imaginei que se sensibilizaria com o caso e, pelo menos em consideração ao grau de parentesco, dispor-se-ia a nos ajudar, usando seu poder de influência, para poder registrar a patente do invento em nome de meu irmão. Dei o maior furo n’água de minha vida. Meu parente fez um pouco caso tão grande do que lhe disse, que eu tive vontade de enfiar a cabeça dentro de uma latrina e dar uma descarga. Sua resposta foi de uma insensibilidade total. E pensar que o registro de uma patente daquela envergadura poderia endireitar financeiramente sua vida de toda sua família, – com certeza. Mas o orgulho falou mais alto. Novamente, o sonho de poder registrar a patente do motor a gás inventado por meu irmão foi para o espaço, agora, definitivamente. Passado mais de 12 anos, comecei a ouvir que haviam inventado um motor de carro movido a gás. E o verdadeiro inventor, tenho certeza, foi meu irmão Luizinho. Esse mérito ninguém me impedirá de conferir ao seu verdadeiro inventor, meu irmão, que continuou sua vidinha humilde como sempre foi. Quando o encontro e relembro o fato, seus olhos se enchem de lágrimas. Imaginem como se sente cada vez que vê um carro a gás passar por ele. O desfecho só não foi diferente, como deveria ter sido, porque faltou, e falta, entre os seres humanos um pouco mais de amor pelo seu semelhante. Um pouco mais de respeito pela coisa alheia. Valorizar, incentivar e, se possível, incrementar toda e qualquer iniciativa advinda de quem quer que seja: essa seria uma atitude digna de ser tomada e também louvada. Mas, como não se pode confiar em nosso semelhante, como deveríamos, só nos resta lamentar o leite derramado – como se isso adiantasse! De minha parte, garanto uma coisa: sempre procurei retribuir um mínimo de favor recebido, com outro favor, se possível, maior. Se todos agissem dessa maneira, não seria nenhum mérito, mas obrigação. Os seres humanos, no entanto, em sua maioria, primam por fazer valer apenas a tônica do “venha a nós”. E o vosso reino que se dane.
Certa vez, como o clima de minha cidade sempre foi quente, eu e minha esposa resolvemos levar nossos três filhos pequenos a um balneário chamado Cachoeirão. Conosco foram três ou quatro marceneiros meus de confiança. O ponto alto do local era uma piscina de água corrente, cujo fundo e laterais eram de rochas, formando um banheirão gigante. À beira da piscina, serviam costelinhas de pacu, frito, torradinho, acompanhado de com limão e uma cervejinha estupidamente gelada. Ávidos para saborear as delícias da vida, chegamos pela manhã para podermos aproveitar ao máximo aquele domingo ensolarado que Deus nos dava. Havia chovido muito durante a semana anterior. Por essa razão as estradas, de chão batido, estavam uma verdadeira calamidade. Entre uma isca de peixe e outra, chamou-nos a atenção – minha e de meus funcionários – um caminhão F-4000 carregado de gado, cujo motorista estava sofrendo que nem um condenado para tirá-lo de um atoleiro. Sensibilizados com seu sofrimento, eu e meus funcionários interrompemos nosso deleite para socorrer aquele pobre homem, um senhor de meia idade. Como havia carga móvel no caminhão, ficava mais difícil nosso trabalho, já que era impraticável tirar aqueles bois para aliviar um pouco o peso, já que poderiam se embrenhar na mata, e ninguém mais os traria de volta. Cortamos alguns galhos de árvores, fizemos uma espécie de alavanca e, com muito sacrifício, conseguimos tirar o veículo do atoleiro. Sujamo-nos de barro até o último fio de cabelo. O motorista, muito contente, não sabia o que dizer para nos agradecer. Nesse instante, casualmente, ele me disse ser empregado de uma marcenaria cujo dono chamava-se Genaro. Respondi-lhe que eu já havia ouvido falar dessa marcenaria e de seu patrão. Disse também que lhe transmitisse a notícia de que quem ajudou a desatolar o caminhão dele foi justamente seu concorrente no ramo de móveis: o Primo. Usei o termo concorrente apenas a título de facilitar a identificação, pois, a verdadeira especialidade de Genaro era o ramo de esquadrias, divergindo inteiramente do meu, que é o de móveis personalizados, com desenhos exclusivos e garantia de não confeccioná-los uma segunda vez. Essa modalidade – orgulho-me de dizer – introduzi no Estado de Mato Grosso do Sul, sagrando-me, modéstia à parte, o mais respeitado artífice dentro do meu metiê, dada minha facilidade de desenhar e impor estilo aos meus móveis, identificando-os com o gosto popular. Não era, portanto, concorrente do dono do caminhão atolado. Algum tempo depois desse episódio, estava eu entalhando uma porta em madeira de mogno, quando necessitei comprar uma pequena prancha de 20 x 4 x 2,50 metros, que eu utilizaria para confeccionar as guarnições em volta da porta. Por ser época de muita chuva em Rondônia, meu principal fornecedor de mogno e cerejeira naquele tempo, os caminhões incumbidos de transportar as madeiras chegavam a ficar mais de uma semana entre um atoleiro e outro, sendo necessário até trator para conseguir arrancá-los da lama – isso eu conhecia demais. Dentre esses veículos, um deles transportava uma carga de mogno para mim. Como não havia tempo hábil para aguardar sua chegada para suprir a necessidade de apenas uma prancha, procurei em toda a praça o produto. Por incrível que pareça, não o encontrei em nenhum lugar. Em quase todos os lugares em que estive, diziam que, naquele momento, somente Genaro poderia ter, porque sua especialidade era esquadria e certamente, ele deveria tê-la em estoque.
Não havendo alternativa e levando em consideração que eu havia há pouco tempo lhe prestado uma gentileza em minha hora de lazer, desatolando um caminhão de sua propriedade, com a maior humildade, fui até a marcenaria de Genaro. Perguntei-lhe se poderia me vender uma pranchinha de mogno para terminar uma encomenda, que, aliás, já estava praticamente em cima do prazo estipulado para entrega. Recebi em resposta um “não” bem redondo, com a justificativa de que ele tinha aquela madeira e mais uns dez metros cúbicos em estoque única e exclusivamente para seu uso e não abriria mão de prancha alguma para ninguém. Atônito com tanta ignorância, caí na besteira de lembrá-lo que havia menos de três meses eu desatolara um veículo de sua propriedade, inclusive carregado com alguns bois, quem sabe também de sua propriedade. Olhando para mim com ares de “dono do mundo”, categórico, disse: “Você fez isso por sua livre e espontânea vontade! Eu não lhe pedi para fazê-lo. Mesmo assim, agradeço. Mas, com respeito à madeira, não muda nada. Não a vendo para ninguém, pois, repito, essa madeira é de meu uso próprio e encerrado.” Nessa hora, valorizei demais ter aprendido contar de um até dez. Enquanto contava, ia analisando que eu estava em seu estabelecimento comercial, portanto, qualquer atitude impensada de minha parte traria resultados imprevisíveis. Contentei em xingá-lo de fdp somente em pensamento, pelo menos disso ninguém pode me impedir. Relembrando a frase, “Venha a nós, e o vosso reino que se dane…” Se existe coisa que me incomoda é uma pessoa mal agradecida. Sempre que faço algum favor para alguém, não o faço com o objetivo de retribuição. Mas todo ser humano com um mínimo de educação nunca deve deixar de dizer pelo menos obrigado e, se possível, tentar de alguma maneira retribuir o favor. Se alguém lhe prestar algum obséquio, por ínfimo que seja, não deixe de citar a palavrinha mágica de quatro sílabas “obrigado”. Ela contém um poder carismático e penetrante quando pronunciada no momento certo. Sua ausência tem o efeito extremamente oposto. Quando deixa de ser citada, pode fazer com que quem presta um favor nunca mais queira saber do beneficiado, taxando-o de mal agradecido. Muitas vezes, a retribuição de algum favor, por mais humilde que seja, diz muito mais do que uma palavra. Quem a recebe, logicamente, percebe que foi o retorno por algo feito anteriormente. Se todos adotarem esse procedimento contribuirão para a vinda de dias melhores. No momento em que nos conscientizarmos e adotarmos como religião o “dever da gratidão”, a humanidade terá encontrado o verdadeiro estímulo e confiança no amanhã, hoje tão incerto, com valores deturpados, o que chega a por em dúvida até a razão de se viver. Quando alguém, despretensiosamente, favorecê-lo de alguma maneira, seja lá no que for, e o favorecido praticar o exercício da gratidão, durante toda sua existência, ele continuará beneficiando seu semelhante na medida do possível. Banida a ingratidão, todo e qualquer favor prestado será recompensado com certeza.
Isso nada mais é do que o mínimo que um ser humano deve ter em mente. Pratiquei o exercício da gratidão sempre que possível. Não deixei nunca sem retribuição as pessoas que, de alguma maneira, favoreceram-me. Quando não pude retribuir em espécie, retribuí em forma de palavras ou alguma indicação. Tenho certeza de que, se todos agirem dessa maneira, a credibilidade do ser humano estará em alta. Não tenham dúvidas que a ajuda mútua, se multiplicará, trazendo tanto benefícios humanitários como financeiros. Pena que o poder de penetração do que digo se restrinja a uma pequena parcela da população privilegiada com o hábito da leitura. São pessoas conectadas com os mais variados ensinamentos, por isso, para elas, essa orientação pode significar quase nada, mas seria um grande benefício se tais valores fossem levados a toda a população – e me refiro a toda a população do mundo, sem exceção. Quem, como eu, sofreu na carne a dor da ingratidão por várias vezes tem por obrigação pelo menos tentar mudar esse estado de coisas, usando de todas as armas e artifícios possíveis para divulgar a prática da gratidão, sem a qual, fica cada dia mais difícil conviver com nosso semelhante. Em meu caso, o ponto mais alto dessa ingratidão foi o caso The Jet Black’s. Após dar até minha saúde para fazer o sucesso do conjunto, que criei nos mínimos detalhes, quando voltei, depois de um tratamento, ao invés de receber o que era meu de direito, ou seja, minha parte nas vendas de discos e shows feitos enquanto estive no hospital – como me foi prometido verbalmente –, recebi um chute no traseiro. Considerando ser eu o legítimo dono do grupo, tendo como testemunhas incontestáveis Antônio Aguilar, Sérgio de Freitas e Bobby di Carlo, entre tantos outros, sendo, portanto, merecedor de pelo menos uma parte de todos os lucros advindos da carreira de sucessos à qual eu, a duras penas, consegui elevar o conjunto; parando apenas para tratar de minha saúde, considero imperdoável receber tamanha ingratidão. Nem um misero centavo recebi como pagamento pelo que era meu de direito. Pelo contrário, até minha guitarra que deixei quando parti, não tive mais notícias. Meu maior erro, foi ter confiado demais, nas pessoas as quais eu acreditava, não redigindo uma mísera folha, especificando o compromisso, que acabou sendo apenas verbal. Daí vem minha vontade de dizer da necessidade premente de divulgar a prática da gratidão. No meu caso específico, não seria somente a gratidão, mas de direito. Tivesse eu como lema o egoísmo, teria impedido o conjunto de continuar tocando enquanto eu estivesse em tratamento. Isso seria uma atitude de direito, que seria logicamente questionada por todos os integrantes do grupo. Quisessem ou não, garanto que impediria a continuação do The Jet Black’s na ativa, disso não tenham dúvidas.
Mas, a despeito de o conjunto continuar tocando sem mim, acreditei no que me foi prometido verbalmente. Não obstante, ainda trabalhei, por meio de cartas, mesmo estando em tratamento, alavancando o sucesso do meu conjunto. Em resposta, recebi a ingratidão e usurpação dos meus direitos, com frases e justificativas ensaiadas e aplicadas, resultando no xeque-mate tão sonhado por eles, com a facilidade com que um adulto tira o doce da boca de uma criança. O que restou foi uma mágoa indescritível dentro do meu peito, sedento de respostas convincentes. Foi essa mágoa que me impediu de contar até para meus próprios filhos que, em minha juventude, fiz um conjunto de rock que chegou aos píncaros da glória. Não o fiz para não ouvir deles questionamentos sobre o que fiz com o dinheiro que sempre vem com o sucesso. Ao saber dos fatos, conhecendo-me como conhecem, ter de aceitar que seu pai foi passado para trás, escandalosamente, sob a vista de toda a mídia especializada da década de 60? Sabendo que seria demais para a cabeça dos meus filhos, procurei ocultar ao máximo minha vida artística no seio de minha família, não me permitindo ser flagrado em nenhum momento de tristes lembranças, que me abatem ao ouvir ou ver casualmente na mídia algo que me faça relembrar aqueles tempos, de cujos frutos eu poderia estar desfrutando intensamente até os dias atuais, como vários remanescentes da época. Alijaram-me da história que ajudei a construir e da qual, sem sombra de dúvidas, fui um dos principais protagonistas.
Sugiro o trecho abaixo como posfácio ou contracapa
Os fatos relatados neste livro devem ser analisados em profundidade. Toda e qualquer dúvida que possa advir dos relatos fielmente redigidos pelo seu escritor podem – e devem – ser esclarecidas pela busca em suas respectivas fontes, citadas à exaustão nos relatos, aliás, com esse propósito, sem as quais, a credibilidade do que foi redigido se perderia, bem como sua razão de existir. Somente quem já sofreu na carne a infelicidade de perder seus pais quando criança e se viu perdido no tempo e no espaço terá discernimento para identificar os percalços e mazelas por que o autor deste livro passou.
Aqui, o autor resumiu algumas nuances de sua vida de órfão, centradas em alguns dos inúmeros acontecimentos que gritavam demais dentro do seu peito, pedindo para serem exteriorizados. Não o fez em sua totalidade porque escrever um livro, traduzindo na íntegra sentimentos, fatos e detalhes de uma vivência com tantos altos e baixos, exige do escritor um preparo psicológico além do normal. Esse preparo, ele também não recebeu. O pouco obtido foi conseguido a duras penas, por meio de leituras diversas e esporádicas, objetivando compensar em parte uma orientação didática da qual foi privado, por conta de sua criação tumultuada.
Ao tentar descrever os matizes de cada fato, o “escritor” transcende os limites do silêncio, revelando claramente ao leitor sua sensibilidade à flor da pele. Deixa, portanto, claro e evidente que cada trecho aqui escrito foi revivido pelo seu autor, que, assim, sofreu duas vezes. Daí, a necessidade de uma preparação psicológica preventiva, que tornasse menos traumáticas as lembranças infelizes, incrustadas em sua memória e só agora reveladas.
No campo da linguagem, o autor trouxe à baila um idioma ágil, desentranhado dos ambientes populares, fixando com rara maestria o coloquial. A estrutura de histórias curtas obteve novos efeitos, por intermédio da síntese narrativa, justapondo ou contrapondo planos, conciliando extensão e profundidade.
Joe Primo, com espantosa economia de meios, realiza a proeza de muito dizer, pouco falando. É um autor autodidata convicto, cuja obra apresenta a característica constante de buscar uma forma precisa, correta e definidora, que valorize ainda mais sua técnica narrativa e literária, aplicada para revelar os dramas comumente enfrentados pela humanidade, apresentando soluções conciliadoras de cunho humanitário, justapondo a apologia da gratidão (tão em falta ultimamente) a esse nosso povo, que, heroicamente, sobrevive aos embates da vida.
Israel Campanha
Agradecimentos
Agradeço, primeiramente, a Américo dos Reis Campos, meu padrinho e responsável pelo meu primeiro lançamento em discos, conseguido por meio de um contrato com a gravadora Todamérica (de propriedade da família Rozemblite), que, após a gravação, deixou a incumbência da distribuição do disco para a gravadora Continental.
ll
Meu segundo agradecimento vai para um grande amigo, que conheci quando freqüentava o Esporte Clube União Silva Telles, no bairro do Brás, que, trabalhando como técnico de som na Rádio Nacional de São Paulo, aproveitava as oportunidades e, em nome de nossa amizade, impulsionava a divulgação e execução de meu disco na emissora. É importante destacar esse trabalho, nunca alegado por ele, mas reconhecido por mim, que, anteriormente, também fui levado a conhecer a emissora pelas mãos dele, tomando gosto pela coisa, cujas conseqüências relatei neste livro à exaustão. Obrigado Luiz Merllo – assinado: Panca
III
Agradeço também ter conhecido Antônio Aguilar, co-responsável direto pela criação e lançamento do meu conjunto de rock The Vampire’s, nascido para cumprir um compromisso verbal, que assumi com ele, no sentido de arcar com os acompanhamentos dos cantores e direção artística do programa “Ritmos para a Juventude”, quando de seu lançamento, diretamente do palco do auditório da Rádio Nacional de São Paulo. A mudança de nome do conjunto The Vampire’s para The Jet Black’s também se deu em seu programa. Portanto, Antônio Aguilar, foi o primeiro radialista a apresentar o grupo com o novo nome, mudado mediante um acordo de cavalheiros entre mim e o jovem cantor participante do programa detentor desse cognome. E salve o maior precursor da frase “Juventude feliz e sadia”.
IV
Agradeço de coração também aos disc-jóqueis e discotecários relacionados abaixo, sem os quais o conjunto The Jet Black’s e, posteriormente, Os Megaton’s, não teriam conseguido emplacar em São Paulo, haja vista a pouca penetração dos conjuntos no Rio de Janeiro na época, que não contou com o esforço concentrado dos mesmos, somente hoje exaltados. Luis Merllo (técnico de som); Hélio de Alencar (disc-jóquei); Sebastião Ferreira da Silva (programador); Antônio Aguilar (disc-jóquei); Luiz Aguiar (disc-jóquei); Sérgio Galvão (disc-jóquei); Roberto Audi (disc-jóquei); Barros de Alencar (disc-jóquei); Carlos Alberto, o “Sossego” (disc-jóquei); Miguel Vacaro Neto (disc-jóquei); Chiquinho (divulgador da Fermata, editora); Sérgio de Freitas (disc-jóquei, divulgador, e programador); Randal Juliano (disc-jóquei e apresentador); Chacrinha (disc- jóquei e apresentador); Hebe Camargo (apresentadora); Odair Baptista (locutor e apresentador); José Paulo de Andrade (disc-jóquei e comentador político); Jorge Helau (apresentador e disc-jóquei) ( Henzo de Almeida Passos), (Débora Duarte) (Sergio Galvão): Muito obrigado é muito pouco para demonstrar meu agradecimento pelos serviços prestados por vocês.
V
Outro agradecimento que eu não posso deixa de fazer é à pessoa de Alfredo Borba, que me contratou para gravar com os Megaton’s – na gravadora Philips – sem mesmo ter visto meu novo conjunto. É confiar demais!
VI
Em se tratando de agradecimentos no meio artístico, se tivesse que enumerar os favores que recebi intermediados pelo meu grande amigo Sérgio de Freitas, e agradecê-los de per si; iria certamente ter de acrescentar algumas folhas extra. Portanto, sem querer abusar mas abusando, nada melhor que usar nosso modo costumeiro de nos tratar-mos: “Serginhão, receba um abração apertadão do seu amigão Joe Primão. Ah, estenda meu abraço também a Bobby Di Carlo, Roberto Rola, Doctor Nelson e atravesse a rua para dar um abração no Bitão, tá?”
VII
Agradeço também, o ensejo de ter conhecido Caetano Zama, produtor e diretor artístico (monstro sagrado) do maior e melhor programa levado ao ar pela TV Bandeirantes, praticamente no início de sua inauguração, no qual nós, Os Megaton’s, juntamente com Débora Duarte e Sérgio Galvão, tendo o Índio como técnico e uma equipe de cenógrafos de fazer inveja, detínhamos o primeiro lugar no Ibope na maioria das tardes de sábado – que saudade! Confesso que encerrei minha carreira artística com muito orgulho nesse programa, que, sem sombra de dúvida, foi o ponto alto de minha carreira. OBRIGADO TAMBÉM À FAMÍLIA BANDEIRANTES, que, representada na época pela pessoa de João Sahad, tudo fazia para nos agradar e para que nos sentíssemos em casa.
VIII
Agradeço também a Valdemar Roberto, apresentado pelo senhor Jairo, da Gravadora Chantecler, e ao Gato, do The Jet Black’s, que abraçou o drama de minha doença na época como se eu fosse de sua família. Usando de sua influência, encaminhou-me para o prefeito Cintra, de Campos de Jordão, que me obsequiou com uma internação numa das instituições mais renomadas da cidade, Sanatório Nossa Senhora das Mercês, no qual recebi um dos melhores tratamentos que um paciente carente e sem meios poderia receber por intermédio das irmãs de caridade lotadas no mesmo.
IX
Como prova evidente de minha gratidão com o Sanatório Nossa Senhora das Mercês de Campos de Jordão, destino-lhe 5% do valor obtido com a venda deste livro.
X
Quero externar também meus agradecimentos a Nossa Senhora das Candeias, cujo santinho (ª) enviado carinhosamente por uma fã, induziu-me a confiar e me apegar com ela em minhas orações para receber o milagre da cura – como eu recebi. Aproveito o ensejo para sugerir às pessoas portadoras de enfermidades diversas que, em suas orações, rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria dedicada a Nossa Senhora das Candeias, juntamente com o pedido de cura, que o milagre se realizará com toda a certeza.
XI
Agradeço aos irmãos Jhony e Benê, dois grandes amigos, que cediam a oficina de consertos de estofados automotivos para que The Vampire’s e futuramente The Jet Black’s pudessem ensaiar, na Rua Hannemam, de frente para os fundos da Igreja Santo Antônio do Pari (foi ali que tudo nasceu).
XII
Agradeço também ao comendador José Morgado, dono da Empresa de Transportes Estrela do Norte, pelo convite para fazer parte da expedição ao Amazonas (Manaus), com o cunho patriótico de viabilizar estradas para incrementar o progresso do Brasil, conforme detalhei, contando boa parte dessa aventura neste livro. Acrescento também meus agradecimentos pelo espaço cedido a nós, do conjunto de rock Os Megaton’s, para ensaiarmos, bem como dar a volta por cima, conforme explicações pormenorizadas neste livro (quem viveu viu!).
XIII
Outro agradecimento que se faz necessário é à minha irmã Mariínha, que, ao saber de minha cura, levou-me para consolidar minha saúde definitivamente no seio de seu lar, impedindo-me de trabalhar de imediato e me propiciando o privilégio de gozar das regalias do “dolce far-niente”, tendo ela, em conseqüência, recebido uma série de hostilidades, impróprias de serem citadas aqui, para inclusive preservá-la de ter de dar explicações outras, que somente dizem respeito a mim.
Quero exaltar também gratidão, a minha querida esposa Ilza, pela coragem e competência demonstrada frente aos percalços do cotidiano e embates da vida a dois, sendo por tanto, co-participe de conquistas múltiplas, bem como a criação exemplar de nossos três filhos com formação acadêmica; razão pela qual, com muito orgulho, dedico este livro.
Nossos filhos: Roberta, (advogada), casada com Osny (advogado) pais de Giovana e Pedro Henrique. Casal de netos queridos.
Primo Filho: (advogado).
Maria Stella: (cursando faculdade) casada com Gustavo – Guga (cantor), pais de Pietra – neta querida.
Hoje: 11/04/2008, ao encerrar meus agradecimentos, tive a grata satisfação de dar um abração no Bitão, Paulo Fernandes, Marinho e João Alberto – “Pholhas” por ocasião de um show que os mesmos estavam realizando na cidade de Campo Grande M S., como sempre, primando pelo compromisso de levar o que há de melhor em qualidade de som vocal e instrumental ao público presente – que bombava, aplaudindo de pé, numa evidência que tudo o que é bom, mais muito bom mesmo; permanece.
XIV
Encerrando, peço a quem ler este livro que não faça pré-julgamentos se por ventura for utilizada a tão propalada leitura dinâmica. Os matizes das entrelinhas de tudo quanto foi exposto aqui, somente terão sentido se forem lidos com os olhos do coração, desarmados da crítica gratuita que antecede o desfecho, nem sempre condizente com o objetivo aqui proposto, sintetizado num alerta para que seja exercida a gratidão e o respeito ao próximo e tudo que a ele pertence de direito.
Primo Moreschi (Joe Primo)
Fim
Do Blog:
http://primomoreschi.blogspot.com.br/
Em entrevista a Antonio Aguillar e via E.mail a mim, Bobby de Carlo escreveu:
“Reconheço não ter sido explicito com relação aos Vampires. Porem, me perdoem, mas achava irrelevante falar novamente no programa a mesma história por mim dita várias vezes ao A. Aguilar. Ele já sabia da historia, eu é que não sabia dos motivos que me levaram a essa entrevista. Lamento. Quanto ao Jet Black´s, nunca fui submisso ao Jurandi ou Zé Paulo. Nunca dei entrevista a ninguém quando de minha participação no conjunto. Acredito, isto sim, que nunca fui convidado para não contrariar a versão dada pelo Jurandi sobre a origem dos Vampires-Jet Black’s.
Lendo o livro O Protagonista Oculto dos anos 60, reconheço por lapso nunca ter citado o Johnny e Bêne amigos importantes para a formação do grupo. Imperdoável.
Não poderia jamais esquecer do Johnny e seu irmão Bêne que muito nos ajudaram cedendo a oficina de estofados de autos no Pari, para que pudéssemos ensaiar, como bem lembrou o Primo.” (Bobby de Carlo em 16-07-2014)
Ao tomar conhecimento da morte de seu irmão Urbano através de um comentário em sua página no Facebook, Primo Moreschi escreveu:
“Só tomei conhecimento desse ocorrido, dia 08/11/2015, E logicamente com muito pesar.Após alguns instantes em silêncio. Um longo filme dos inúmeros momentos bons, dele, em minha lembrança se passou. Uma verdadeira retrospectiva, onde um ponto marcante era a tônica: o primeiro e único presente que ganhei. No momento em que minha mãe estava sendo velada, meu irmão “Urbano Moreschi” me presenteou com um caminhãozinho de madeira, na cor verde. Eu devia ter 7 anos de idade nessa época. Que Deus, em sua infinita bondade, o tenha em sua glória. Até um dia meu querido irmão.
Renato Barros conversa com Antonio Aguillar e fala sobre os Beatles!
Em seu programa “Jovens Tardes de Domingo” desde domingo que passou, dia 13 de julho, Antonio Aguillar mencionou que convidou Renato e Seus Blue Caps para o próximo show de entrega do Troféu da Rádio Capital, e relembrando que naquele tempo as guitarras usadas nas bandas eram importadas, as Fenders eram caríssimas, então Carlos Imperial foi quem lhe deu um cheque a Aguillar para que ele comprasse na fábrica Giannini as guitarras para o conjunto. E foi assim eles puderam ter os instrumentos fabricados pela Giannini.
Em seguida há uma gravação de Renato Barros contando sobre o início da banda Renato e Seus Blue Caps e de como eles conheceram os Beatles…
Ouçam a conversa:
Documento histórico recebido por Antonio Aguillar
Entrevista com Bobby de Carlo – Parte II
Como já foi publicado neste link, Bobby de Carlo conversou comigo e também com Antonio Aguillar esta semana, e hoje fiz mais duas perguntas a ele via E.mail, que gentilmente me respondeu.
Pergunta: Bobby de Carlo, certa vez o Serginho Canhoto comentou que você entrou no lugar do Gato em 1964, e eu gostaria de saber exatamente quando foi este seu retorno ao The Jet Black’s, se foi no início ou fim do ano de 1964 e se foi para substituir o Gato ou outra pessoa.
Também gostaria de saber se você chegou a tocar com o Emilio Russo na formação, ou melhor, qual era a formação dos Jet Black´s nesta sua segunda passagem?
Resposta: Cara amiga Lucinha,infelizmente não tenho memória de elefante. Não sei o que comi em uma determinada lanchonete em 12 de Maio de 1960 às 16 hs, porem me lembro de ter tocado com Jet Black´s pelo menos duas vezes. Me lembro do Sergio como guitarrista em uma ocasião e em outra com o Orestes. Me lembro que na época do Orestes(que tocava piano também), a intenção do Jurandir e Zé Paulo era fazer bailes com shows. Me lembro ainda de ter um grande amigo Alfredinho, figura importante em uma empresa de transportes que com sua influencia conseguiu o patrocínio da Cinzano (bebidas) cedendo duas peruas para transporte, e todo o suporte para uma viajem pelo interior de São Paulo e Parana. Velho amigo Alfredinho, que saudades…
Quanto ao Emílio, não tocamos juntos.
Segue um vídeo com o áudio da segunda parte da entrevista de Bobby de Carlo a Antonio Aguillar, onde ele conta sobre o seu retorno 15 anos depois do seu sucesso Oh! Eliana, já para participar do programa Jovem Guarda com seu grande sucesso “Tijolinho”, acompanhado pelos Megatons de Joe Primo (Moreschi).
O mesmo vídeo com a canção O Tijolinho (vetada no Youtube)
Quais os Modelos e Marcas das guitarras usadas pelos conjuntos de Rock no início dos anos 60?
Para responder a esta pergunta, Sérgio Vigilato, o Serginho Canhoto dos Jet Black´s, escreveu:
A maioria das minhas guitarras foram fabricadas por mim porque sou Canhoto, e na época, em 1950 e 1960, não havia no mercado brasileiro guitarras para canhotos. Esta foi a primeira que eu fiz ainda quando tinha 16 anos, já com alavanca – eu estudava para ser Torneiro Mecânico – e depois fiz uma Jazzmaster branca, antes de entrar nos “The Jet Blacks”.
Depois na fábrica da Gianinni, ajudei a fazer a primeira “Supersonic” canhota e sombreada, logo após, também na Gianinni, ajudei a fazer a primeira guitarra de bojo com duas “meia-luas” de 12 cordas e com alavanca (imaginem!), com a qual gravei o LP TOP TOP TOP, lançado pelos The Jet Black´s.
Essa guitarra de 12 cordas foi a ultima que eu fiz na Gianinni e para agradar o Giorgio Cohen (Giorgio Gianinni) coloquei uma plaquinha de metal escrito “GIANINNI” na parte de cima da meia-lua, quase não se vê, mas Foi a única, e com ela gravei o LP TOP TOP TOP.
Esta Guitarra Giannini Supersonic foi a primeira guitarra CANHOTA e a primeira “Sombreada’ feita especialmente pra mim, com minha supervisão, na antiga fabrica na Alameda Olga, em Perdizes. O ano era 1965, então, na sequencia de guitarras que eu usei nos Jets, essa foi a terceira. Também tive que “inverter” a alavanca pra canhota!
Depois que saí dos “Jets” tive uma Verythin com alavanca “Bigsby” “cherry color”, mas era destra.

Esta foi a primeira guitarra que eu fiz quando tinha 16 anos, para tocar no meu conjunto Os Corsários.
Esta é a Guitarra Jazzmaster que usei nos Jets; na foto estamos eu, Bobby De Carlo, Zé Paulo e Jurandi numa apresentação em Três Lagoas, Mato Grosso, em 1964.
Aqui está a minha Hofner Modelo ‘Verythin” com a alavanca ‘BIGSBY”, tocando em 1967 na Boate “LA VIE EN ROSE”, que ficava localizada na Rua Major Sertorio (Boca Do Luxo), após ter saído dos “Jets”; estou com meu grupo “Os Corsos”.
Após ocupar a função de Relações Públicas dos Jet Black´s, era esperado que nós usássemos somente instrumentos da marca Gianinni. Eu tive uma reunião com o Giorgio Cohen (agora Giorgio Gianinni) e disse a ele que “jamais usaria aquelas guitarras”, e sugeri a ele (que aceitou) que me deixasse trabalhar com o Sr. Henrique, e, quando comecei a “fuçar” lá no fundo da fabrica, encontramos uma forma de guitarra elétrica com bojo, mas sem as meia luas, e eu sugeri ao Seu Henrique que adicionasse as meia luas dentro da forma. Ele concordou e fizemos. Escolhemos as melhores madeiras que havia lá no fundão e montamos o corpo da guitarra. Passamos verniz “Sunburst” e eu fiz as ferragens (alavanca, pick ups do Sr. Vitorio da Pompeia). Quero informar que, estando lá dentro da Gianinni e levando a minha marmita do S.E.SI. (era bem grande), tive a oportunidade de escutar as “LAMURIAS” daqueles italianos tão inteligentes, com ideias tremendas para renovar, ou copiar na íntegra qualquer instrumento de cordas! Porém a ordem era: “aqui é Brasil, continuem fazendo da minha maneira!”
Vocês não imaginam o contentamento deles de verem que eu não aceitava tocar naquelas guitarras, e sempre deram a maior força pra mim! Era muito triste essa atitude de proibirem mudanças…
Quem ler este meu relato poderá analisar quantas dificuldades um musico brasileiro (Canhoto) teve que passar para poder continuar na sua profissão naquela época. Seria interessante ter um site somente para aqueles que na época tiveram que fabricar seus instrumentos para dar continuidade em suas ideias musicais, como foi o meu caso, Serginho “Canhoto”.
Depois que vim para os STATES, nunca mais tive problemas com guitarras; tive umas 28, das quais já vendi 02 Les Pauls e a D-175 Gibson, e pretendo vender mais umas 08 ate o fim do mês… Já “matei a vontade” de ter bons instrumentos de cordas e ultimamente estou usando guitarras e violões feitos sob encomenda pelo meu amigo e famoso “luthier”, o Regis Bonilha, de Jacareí, São Paulo. Esse sim, manja de violões…
Aqui nos EUA, quando vou no Show Anual da NAMM, também só vejo umas vinte canhotas a cada mil destras, mas como eu sempre “fucei” muito, acabei encontrando a pequena companhia que fabricava os corpos, braços e pintava pra Fender. O dono é uma pessoa muito bacana que encontrei no Show da NAMM em 1995, e de lá pra cá, construí varias Fenders canhotas, sem contar as outras que mandei fazer sob encomenda aqui nos Estados Unidos… mas esta é uma outra historia!
Por Sérgio Vigilato, o Serginho Canhoto
Sérgio tocando com sua mais recente aquisição, que foi um sonho realizado, segundo ele me contou: um “1972 MARTIN ACUSTICO – CORDA DE ACO, direto dos States para o meu Skype. 🙂
Em entrevista, Bobby de Carlo conta como surgiu o conjunto The Vampires, os famosos The Jet Black’s!
Hoje, 10 de julho de 2014, conversei por telefone com o cantor Bobby de Carlo após ouvir seu depoimento a Antonio Aguillar, gravado no vídeo que postarei abaixo.
A ele me apresentei como amiga do Aguillar, do Primo Moreschi e do Serginho Canhoto, expliquei que eu havia pedido ao Antônio Aguillar que fizesse a entrevista com ele para definitivamente esclarecermos a polêmica sobre a fundação do conjunto, uma vez que todos conheciam a história que foi publicada por Eduardo Reis em seu livro “The Jet Black’s”, porém diante do conhecimento de outra história contada por Primo Moreschi em seu livro “O Protagonista Oculto dos Anos 60”, surgiram fatos novos e soubemos que a verdade era outra e que precisávamos de mais provas, e sendo ele, Bobby de Carlo, uma das únicas pessoas a testemunharem esta verdade, houvemos por bem contatá-lo.
Bobby de Carlo deu seu depoimento ao Antônio Aguillar dois dias antes, e quando perguntei se ele havia lido o livro de Joe Primo, ele me disse que não, mas que gostaria de ler; falou que havia perdido o contato com o Primo, que ele tinha sumido sem dar mais notícias, mas que sabia que ele está morando no Estado do Mato Grosso.
Quando falei no livro The Jet Black’s publicado pelo Eduardo Reis, ele me disse que realmente ele contém muita coisa errada, e que ainda no tempo do Orkut havia respondido um tópico onde uma mulher (ele não soube dizer o nome da pessoa) tinha criado um tópico sobre a história do conjunto; na ocasião ele escreveu um texto contradizendo a história informada no tópico, perguntei se ele ainda tinha o texto, ele falou que já foi há muito tempo e que o Orkut nem existe mais…
Como ele me disse que não havia lido o livro O Protagonista Oculto dos anos 60, eu contei alguns relatos que li, expliquei de como Joe Primo conta em seu livro sobre o dia em que sugeriu ao Aguillar que fizesse um programa de auditório (isso o próprio Aguillar também, por telefone, me disse que aconteceu), e a forma como o nome The Ventures foi citado (de improviso) pelo Primo na época ao ser perguntado qual era o nome de seu conjunto, e que saindo de lá naquele dia o Joe Primo foi direto para a casa dele (do Bobby), que disse “Primão, você tá louco…”, e o Bobby recordou isso concordando que realmente aconteceu, inclusive dizendo que foi verdade que ele, Bobby de Carlo, foi quem sugeriu o nome The Vampires, e que como eles não sabiam inglês, pronunciavam The VâmPIres.
Entre outras coisas, ele disse que gostaria de ler o livro do Primo, eu então enviei a ele por E.mail o texto do livro.
Ah! O Bobby de Carlo também recordou os nomes dos primeiros integrantes, lembrando que havia um primo do Joe Primo, o Carlão. Quando Primo chegou falando do comprometimento com Antonio Aguillar em formar um conjunto para acompanhar os cantores no programa de auditório, ele se lembrou de que tinha um amigo que tocava, chamado José Paulo, e então decidiram convidá-lo para integrar o conjunto; o Zé Paulo tinha um amigo que tocava bateria, e também foi convidado, aceitando fazer parte do grupo; este amigo do Zé Paulo era o Jurandi. Bobby de Carlo lembrou que como o Jurandi era o único que trabalhava numa empresa (ele citou o nome, não me lembro), ele tinha crédito para comprar a prazo e por isso foi ele quem comprou os instrumentos e a bateria.
Portanto, a primeira formação do conjunto era Primo, Carlão, Bobby de Carlo, Zé Paulo e Jurandi.

The Jet Black’s tocam durante uma apresentação do cantor Little Black, que se chamava Jet Black mas cedeu seu nome para o conjunto. Na foto aparece o Carlão.
Programa Ritmos para a Juventude.
Bobby de Carlo me contou que a sua primeira gravação foi Oh! Eliana, e confirmou que tanto nesta como em Tijolinho, teve a participação do Joe Primo no backing vocal. Sua permanência no conjunto durou pouco, e ele teve que deixar o conjunto.
Enfim, eu fui falando o que me lembrava de ter lido no livro e ele foi confirmando tudo, inclusive que a ideia inicial de formar o grupo foi do Primo Moreschi, o Joe Primo.
Uma curiosidade: Sobre o fato de o seu nome muitas vezes ser escrito erroneamente, ou seja, Bobby “di Carlos”, o Bobby explicou que costuma dizer que ele é singular, ou seja, Carlo, e não Carlos como muitos pensam, e também é “de” e não “di”. Rsrs
Infelizmente não tive como gravar minha conversa com ele, pois foi por telefone, mas registro aqui suas palavras escritas via E.mail sobre o amigo e companheiro Primo Moreschi:
“Eu diria que Primo é um artista! Musico, pintor, compositor, poderia ser também um grande ator comediante. Lembro-me de um texto seu que em resumo seria isto:
“…Como você é linda, seu vestido branco, suas mãos tão delicadas, seu rosto tão lindo, sua pele clara, muito clara.
Porque não fala comigo?
Acorda! acorda! ACORRRRDA!!!
Pô! Não vê que ela tá morta?”
Desculpe o humor negro, mas isso era coisa do Primo…
No meu primeiro LP pela gravadora Mocambo, gravei com os Megatons. Foi certamente um dos momentos de maior prazer na minha vida.
Sem imposição alguma, gravei o que queria da forma mais descontraída possível.
Com o bom humor do grupo, o clima era maravilhoso. Criei arranjos, participei como musico, convidei para participar em algumas faixas o Wanderley pianista, (ex Roberto Carlos), o Nestico sax do Jet´s, e nunca houve por parte dos Megatons, Primo, Bitão, Luiz, Renato e Edgar qualquer tipo de estrelismo.
Nós nos divertimos muito. Coisa que não aconteceu quando da minha volta ao The Jet Black´s em l964, quando disse ao Jurandir para que criássemos algumas musicas, coisas próprias. Porem ele achava melhor “tirar” musicas de outros conjuntos, ou seja, copiar o original e tocar nos Jet Black´s. Coisas estas que fazíamos em nossa adolescência musical.
O Orestes saiu, e eu, desmotivado, saí também.
Serei sempre amigo do Primo, tenho-o em alta estima.
Tenho certeza que a década de sessenta será marcada positivamente em nossas vidas!
Um grande abraço” ”
Segue o vídeo da conversa entre Antônio Aguillar e Bobby de Carlo, gravada gentilmente pelo Aguillar a meu pedido.
Mais uma vez Aguillar, muito obrigada!
Na minha opinião, o Bobby de Carlo não achou por bem dizer ao Antônio Aguillar que o Joe Primo havia mentido pra ele que tinha um conjunto formado cujo nome era The Ventures, e que pra imitar o som deste nome, ele havia pensado em The Vampires (pronúncia deles: Vâmpires).
Em 16 de julho de 2014, via E.mail, Bobby de Carlo escreveu:
“Reconheço não ter sido explicito com relação aos Vampires. Porem, me perdoem, mas achava irrelevante falar novamente no programa a mesma história por mim dita várias vezes ao A. Aguilar. Ele já sabia da historia, eu é que não sabia dos motivos que me levaram a essa entrevista. Lamento. Quanto ao Jet Black´s, nunca fui submisso ao Jurandir ou Zé Paulo. Nunca dei entrevista a ninguém quando de minha participação no conjunto. Acredito, isto sim, que nunca fui convidado para não contrariar a versão dada pelo Jurandir sobre a origem dos Vampires-Jet Black’s.
Lendo o livro O Protagonista Oculto dos anos 60, reconheço por lapso nunca ter citado o Johnny e Bêne amigos importantes para a formação do grupo. Imperdoável.”
Não poderia jamais esquecer do Johnny e seu irmão Bêne que muito nos ajudaram cedendo a oficina de estofados de autos no Pari, para que pudéssemos ensaiar, como bem lembrou o Primo.” (Bobby de Carlo em 16-07-2014)
Depoimento do Baterista Foguinho (The Jordans) sobre esta época:
| Waldemar Botelho Jr Foguinho comentou sua foto. |
| Waldemar escreveu: “Nesta época, estávamos EU e o CARLÃO no largo padre bento na esquina da padaria,quando o JOHNNY encostou sua possante ROMISETA,abriu a porta(pra frente)e nos disse,”entrem aqui,vamos num bailinho lá no mandaqui”.E fomos pra lá pelo Canindé e pegamos a voluntários da pátria depois da ponte das bandeiras e aceleramos a possante pra subir a voluntários,quando chegamos na metade da subida a “possante”começou a diminuir a velocidade até que parou,o JOHNNY brecou empurrou a porta ,EU e o CARLÃO descemos e subimos a pé até o topo depois embarcamos e fomos pro baile,na volta não teve problema pois era descida,rsrs.BONS TEMPOS” |